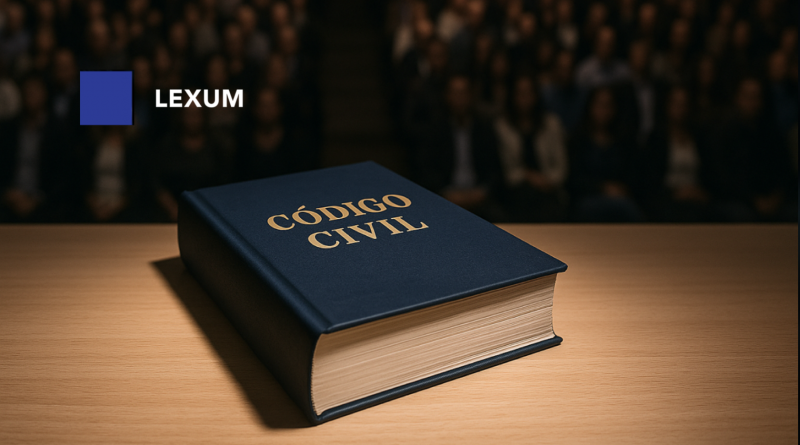O direito de dizer não
Nos últimos dias, o relator do Projeto de Reforma do Código Civil, Dr. Flávio Tartuce, tem reiterado em entrevistas públicas que esperava dos críticos um esforço para “debater assuntos e fazer proposições”. À primeira leitura, a frase soa como um convite ao diálogo. Mas, sob o verniz da diplomacia, o que se desenha é a tentativa de disciplinar a crítica, convertendo o dissenso em descortesia e reduzindo o contraditório a um apêndice decorativo do processo legislativo. O recado implícito é claro: só é legítimo criticar o projeto se a crítica aceitar, desde o início, as premissas da proposta. Arquivá-la? Nem pensar.
Mas o debate jurídico não se curva a condições prévias. E é exatamente esse o ponto que Tartuce parece rejeitar. O que muitos juristas têm feito, com profundidade técnica e engajamento intelectual, é analisar os dispositivos, questionar a coerência normativa, denunciar riscos à segurança jurídica e ponderar efeitos econômicos. O resultado desse processo — que é sim propositivo — tem sido, em muitos casos, a conclusão de que o projeto merece ser rejeitado. Isso não é um boicote, é uma proposição firme, honesta e orientada ao bem comum.
A contradição entre o discurso de abertura e a prática de obstrução institucional revela-se com ainda mais nitidez no episódio que veio à tona na semana passada. Um evento crítico à proposta, que seria realizado na sede da OAB-RJ, foi abruptamente transferido para o campus da PUC-Rio após a seccional recuar da autorização. Segundo os organizadores, teria havido pressão de juristas ligados à redação do projeto no intuito de impedir o uso do espaço. O motivo? O evento teria perfil crítico. Em nome da pluralidade, silenciou-se o dissenso.
Esse episódio é revelador. Não se trata apenas de disputa simbólica por um auditório. Trata-se da manifestação de um padrão: o desconforto com a crítica que não se submete ao roteiro aprovado. O gesto de impedir, enfraquecer ou deslocar um debate crítico é a face prática da mesma lógica que condena o pedido de arquivamento como “desrespeitoso”. O que se pretende não é debate, mas adesão. O que se pede não é reflexão, mas colaboração forçada.
Ao afirmar que o projeto apenas confirma a doutrina e jurisprudência majoritárias, Tartuce sugere que o texto é fruto de uma razão já consolidada, imune ao erro, blindada contra o revés. Nesse cenário, criticar é visto quase como um ato de heresia institucional. Mas a verdade é outra: um projeto que amplia cláusulas vagas, fragiliza a liberdade contratual, flerta com a punição civil e reedita o dirigismo judicial não pode se esconder atrás do nome da tradição. Ele precisa enfrentar o crivo do tempo, do pensamento e da dissidência.
O direito de dizer não é parte essencial da vida democrática. E esse “não”, quando vem acompanhado de argumentos, dados, história e prudência, é um ato de afirmação cívica. Arquivar o projeto não é negar o progresso. É impedir um retrocesso disfarçado de modernização. É preservar a liberdade contra a expansão sutil do controle normativo. É resguardar a ordem jurídica da tentação de reescrever o Direito com a tinta da retórica e a pena da ideologia.
Esse tipo de modernização compulsória, que rejeita o consentimento e impõe um ideal supostamente virtuoso como se fosse um imperativo técnico, não é novo — e não é neutro. Em outro texto, intitulado Progressismo sem Consentimento: o erro político de impor virtudes, observei como a linguagem do bem pode se converter em instrumento de coerção institucional, especialmente quando deixa de ser um valor compartilhado e passa a ser uma agenda compulsória. O projeto de reforma do Código Civil carrega esse mesmo vício: fala em progresso, mas recusa o dissenso; promete evolução, mas exige adesão irrestrita. Nesse contexto, o direito de dizer “não” não é um obstáculo — é a única salvaguarda contra o avanço do normativo sobre o voluntário, do dirigismo sobre a liberdade.
A sociedade brasileira não precisa de reformas impostas como destino. Precisa de reformas construídas com liberdade, respeito à crítica e disposição real para ouvir. Dizer não, neste momento, é a forma mais elevada de responsabilidade. É recusar a imposição do inevitável. É reafirmar que o Direito não serve ao poder, mas à razão.
Em tempos menos digitais e mais de fumaça e baionetas, Getúlio Vargas também convocava os intelectuais a “contribuírem com o Brasil” — desde que respeitassem os contornos já traçados pelo Estado Novo. A crítica era tolerada apenas se moderada, e toda proposta que escapasse da moldura oficial era tachada de indisciplinada, irresponsável ou inoportuna. Sob a máscara da participação institucional, ocultava-se a recusa ao contraditório real. A dissidência era lida como traição. Hoje, com menos farda e mais verniz acadêmico, o discurso de Flávio Tartuce repete essa lógica: quem não melhora o projeto boicota; quem não propõe ajustes é desrespeitoso; quem pede o arquivamento comete heresia legislativa.
*Leonardo Corrêa – Advogado, LL.M pela University of Pennsylvania, Sócio de 3C LAW | Corrêa & Conforti Advogados, um dos Fundadores e Presidente da Lexum.