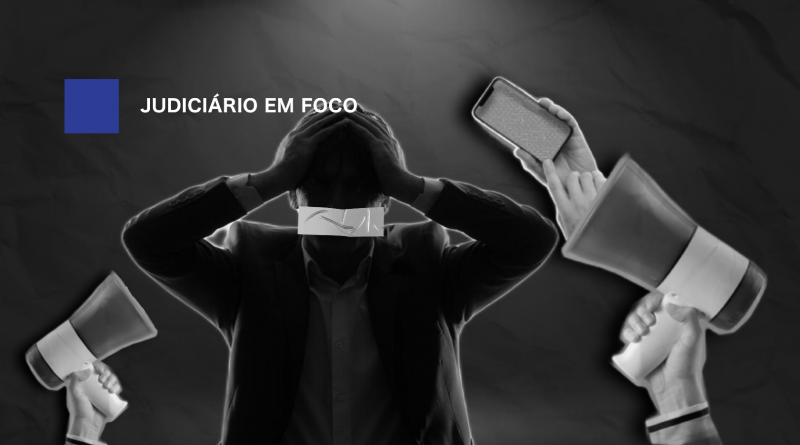Censura, o pilar da “casa dos mortos”
Rússia, 1848. Uma onda revolucionária varria a Europa Ocidental, abalando estruturas e tronos, em particular na França, onde o rei Luís Felipe, após dias de sangrenta insurreição, se viu forçado a abdicar e a dar lugar a uma república. Os ventos que sopravam do Oeste transtornaram o tzar Nicolau I, então no comando do distante império russo, e logo foram usados como pretexto retórico à adoção de medidas bastante “heterodoxas”. À frente de um país denunciado, por seus exilados mundo afora, como autêntico arqui-inimigo das liberdades e sinônimo da crueldade e da opressão em seu ápice, Nicolau suspeitava do surgimento de focos de traição por toda a parte e colocava a seu serviço uma numerosa rede de espiões. Buscando demonstrar força perante seus opositores, o tzar, no auge de sua paranoia, chegou a redigir, de próprio punho, um manifesto, no qual assegurava sua determinação em lançar mão de todo o seu poder para manter o trono e a igreja a salvo da “hidra da revolução”.
Em sua coletânea de ensaios sobre autores russos, Sir Isaiah Berlin narra o modus operandi desse líder de outros tempos, que tratava potenciais insurretos com “severidade exemplar”, mediante uma sequência de providências cuja “primeira etapa estava relacionada à censura[1]”. Para tanto, Nicolau criou um comitê oficial, instruído a “examinar as atividades dos censores, e a reforçar as regulamentações existentes”, e, em seguida, um comitê secreto, encarregado de “avaliar matérias já publicadas” e de “reportar qualquer laivo de inadequação ao próprio Imperador, que assumia a implementação das medidas punitivas cabíveis[2].” No esforço de sufocar as liberdades de mera especulação filosófica, deu início aos expurgos no meio acadêmico, inaugurando “o momento mais sombrio na noite do obscurantismo russo no século XIX[3]”, com a disseminação de prisões políticas e do pavor na simples exposição de ideias. Como se depreende de trecho das memórias do escritor Gleb Uspensky, transcrito por Berlin, “não se podia sequer sonhar; era perigoso emitir qualquer sinal de pensamento – indicar o fato de que não se tinha receio; pelo contrário, era necessário demonstrar que se tinha medo, que se estava tremendo, ainda que não houvesse motivos reais para tanto[4].”
Naquele período trevoso, chegou aos ouvidos de Nicolau a notícia de uma possível insurreição liderada pelo chamado grupo de Petrachevski, integrado por intelectuais, dentre os quais o então jovem escritor Fiodor Dostoievski, que, grosso modo, se dedicavam a debates sobre a “possibilidade de reformas”, em “intervalos regulares, em duas ou três casas[5]”. Nada muito além de discussões sobre ideais socialistas, pois, como acentuado pelo próprio Berlin, grupos como o formado por Dostoievski “diferiam dos encontros casuais de letrados radicais”, alguns dos quais se reuniam com o “propósito específico de tratar de ideias concretas sobre como fomentar uma rebelião contra o regime vigente[6].”
De toda forma, naqueles anos, nem mesmo os radicais representavam, para a ordem estabelecida, um risco concreto para além da simples disseminação de opiniões – o que, sob governos tirânicos como o de Nicolau, pode constituir a maior ameaça à “segurança” de uma nação inteira. Tanto assim que os membros do Petrachevski foram condenados à morte pelo próprio tzar e só tiveram sua pena capital comutada em “temporada” na gélida Sibéria por “misericórdia” do imperador. Triste a sociedade onde o fio do destino dos homens é tecido pelas emoções do governante…
Porém, como os gênios encontram inspiração até mesmo em seus momentos de dor, os anos siberianos vieram a ser retratados no romance Recordações da Casa dos Mortos, cujo próprio cunho autobiográfico foi, quem diria, mitigado pela censura tzarista. Parece irônico que Dostoievski, já vitimado pelo autoritarismo quando de sua condenação por “crime de opinião”, tenha sido novamente incomodado pela censura por ocasião da publicação do livro e tenha se visto premido a relatar suas experiências no cárcere pela voz de uma terceira pessoa ficcional, que cumpria pena por crime passional (homicídio motivado por ciúmes). Com sua sagacidade única, driblou o sistema despótico que não toleraria uma obra protagonizada por prisioneiro político, e descreveu, com riqueza de detalhes, não apenas uma sociedade de encarcerados, como sobretudo a desesperança de cada prisioneiro, de cada humano que, devido à privação da liberdade, “não vive”, e considera qualquer ordenança esfarrapado quase como um “rei, um ideal de homem liberdade”, por andar sem grilhões e sem escolta.
Mais de um século após o despotismo de Nicolau I, e, desta vez, do outro lado do mundo e abaixo da linha do Equador, muitas prisões ainda são determinadas devido à simples manifestação de opiniões, e, ainda assim, legitimadas por boa parte da mídia e até da sociedade, sob a eufemística justificativa de “defesa da democracia”. No país tropical que abriga esses curiosos eventos, os cidadãos são diuturnamente induzidos pela narrativa oficial à perda da capacidade de identificar criminosos condenados por condutas gravíssimas, pois o establishment conseguiu transformar larápios em governantes, inclusive mediante a atribuição de parcialidade a seus juízes. Como se não bastassem artifícios tão inovadores, um certo episódio de vandalismo, praticado em pleno domingo, por pessoas desarmadas e sem treinamento militar, é transformado, também pelos braços da comunicação estatal, em ameaça concreta de golpe de estado, ou seja, um “ponto de virada”, a partir do qual tudo passa a ser permitido aos senhores do poder, sempre imbuídos do “nobre” propósito de evitar futuras ocorrências antidemocráticas. Tudo mesmo!
Assim como no império russo de outrora, a principal ferramenta usada na prevenção a um 1848 dos trópicos é a censura, pois, no entender dos doutos em posição de comando, a disseminação de notícias falsas – sob o ponto de vista deles, por óbvio – e a propagação de discursos de ódio, seja lá o que signifiquem expressões tão vagas, são riscos iminentes à preservação de uma estrutura democrática. Não à toa, na data do primeiro aniversário das tais depredações, os poderosos da terra do sol e do calor organizaram uma cerimônia de execração à tentativa de “golpe” e, em suas longas digressões, concluíram que a democracia só venceu o “extremismo” devido à atuação de valentes togados de cúpula, empenhados dia e noite em prender ameaçadores dissidentes do regime e, acima de tudo, em calar qualquer voz divergente.
Recebido na festividade como um autêntico imperador, embora o país seja oficialmente dirigido por outro companheiro, o magistrado à frente da corte eleitoral não mediu palavras ao decretar “o fim da era do apaziguamento” e a premência de regulação das redes sociais como única medida efetiva para a prevenção dos efeitos “nefastos” daqueles que só propagam ódio. Se Nicolau I receava escritos que levavam meses para serem publicados e enxergava perigo em possíveis “traidores” de uma Rússia repleta de dificuldades – até climáticas! – nos transportes, imagine, caro leitor, o pânico desses senhores bronzeados diante da possibilidade da circulação de milhões de notícias em frações de segundos. Mais aguda a paranoia, maior ainda a reatividade dos poderosos.
Como se percebe, a sanha censora não é exclusividade do hemisfério norte, tampouco do hemisfério sul. Não é inerente a uma ou outra cultura, etnia e sequer possui relação com fatores geográficos. O perigo da imposição da mordaça decorre da própria existência de posições de mando nas nações, pois líderes humanos não costumam conviver bem com posturas de seus subordinados que destoem das suas próprias. Em unidades políticas mais organizadas, onde os espaços de poder são vigiados e controlados com maior eficácia pelo pagador de impostos (mantenedor da estrutura estatal) e os conflitos são institucionalizados dentro de uma estrutura normativa sólida e legítima aos olhos dos governados, as lideranças podem até se sentir “desconfortáveis” diante das divergências surgidas na opinião pública, mas têm de aceitá-las. Em sistemas autoritários, governantes, incluindo os togados, usam e abusam da censura e das prisões políticas, e, em despotismos escancarados, não há mais sequer divergência.
Na tragédia das sociedades humanas que ainda não prescindem da política e de seus líderes, os cidadãos podem, ainda assim, usufruir de suas liberdades individuais desde que se empenhem em colocar freios ao poder, ou, no moderno sistema representativo, em exigir que seus mandatários eleitos exerçam mecanismos de controles recíprocos. Caso contrário, uma nação de sujeitos inertes, alheios às decisões do espaço público e ao uso de seus próprios fundos recolhidos pelo Estado, estará, mais cedo ou mais tarde, fadada à censura e, por consequência, à castração das individualidades. Afinal, qualquer espaço pode ser transformado em uma “casa dos mortos”, sob a batuta de “herdeiros” de figuras como Nicolau I.
[1] “Russian thinkers”, Penguin Classics, 2013, pg. 13, tradução livre de minha autoria
[2] Idem, pg. 14
[3] Idem, pg. 15
[4] Idem, pg. 15
[5] Idem, pg. 18
[6] Idem, pg. 18