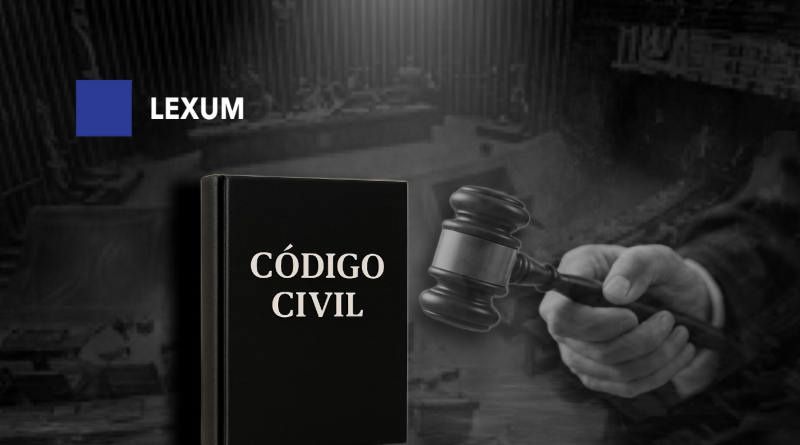O Código Fluido e o Juiz Soberano
O anteprojeto de reforma do Código Civil (2023-2024) vai além de uma atualização: substitui regras claras por cláusulas gerais e conceitos vagos, transferindo poder normativo do Legislativo ao Judiciário. Essa mudança não é neutra. Redistribui o poder dentro da República, deslocando a função normativa do Legislativo para o Judiciário e comprometendo pilares constitucionais como a separação de poderes, a legalidade, a segurança jurídica e o devido processo legal.
Manifesta-se, desde logo, essa inflexão na linguagem do anteprojeto. Em vez de normas claras, que delimitam comportamentos e garantem previsibilidade, o texto multiplica expressões como “função social”, “dignidade da pessoa humana”, “afetividade”, “identidade pessoal”, “pluralidade de vínculos” e “ponderação de interesses”. Não se trata de mera retórica ampliada. Trata-se da escolha consciente por um modelo de abertura normativa, em que a moldura da lei é entregue ao juiz, para que ele a preencha segundo sua própria concepção do justo, do ético ou do socialmente adequado. A lei, nesses termos, já não diz o que deve ser feito; ela apenas sugere que alguém — um intérprete — decida isso depois.
Não é difícil perceber o risco quando esse intérprete — o juiz — não foi eleito para legislar. O art. 2º da Constituição é claro: os Poderes da União são independentes e harmônicos entre si. Ao criar normas abertas e entregar a tarefa de completá-las ao Judiciário, o Legislativo abdica de sua função típica. Transfere para um poder contramajoritário a prerrogativa de definir o conteúdo prático das normas jurídicas. Juízes, que deveriam aplicar a lei, passam a criá-la, sob a roupagem de interpretação. E fazem isso sem os filtros institucionais da política representativa, sem o contraditório do processo legislativo e sem a responsabilidade pública do voto popular.
Essa transferência informal de poder compromete outro princípio fundamental: a legalidade. O art. 5º, II, da Constituição assegura que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Mas como exigir isso do cidadão comum quando a própria lei deixa de ser um comando e passa a ser um convite ao juízo subjetivo de um magistrado? Veja o que já ocorre com a “função social da propriedade” no art. 1.228 do Código vigente: decisões judiciais transformam fazendas produtivas em alvos de desapropriação com base em interpretações que variam de tribunal em tribunal, muitas vezes apoiadas em laudos técnicos contestáveis que carecem de uniformidade. O anteprojeto, ao ampliar essa lógica com a “ponderação de interesses” (art. 11) ou a “afetividade” como fonte de obrigações (art. 19), eleva o problema a um novo patamar. A norma aberta é, na prática, um cheque em branco. O cidadão, ao agir, já não responde mais à letra da lei, mas à consciência moral do juiz que o julgar — ou à moda ideológica do momento. Isso é o oposto de um Estado de Direito. E o problema não para aí: ao dissolver a clareza da lei, o anteprojeto também fere a segurança jurídica, garantida pelo art. 5º, XXXVI, da Constituição.
A previsibilidade das relações civis exige que as normas sejam inteligíveis, consistentes e estáveis. Quando se introduz a “ponderação de interesses” como critério de aplicação dos direitos da personalidade — como faz o novo art. 11 — ou quando se amplia indefinidamente o conceito de identidade pessoal para incluir atributos subjetivos, como no art. 17, a norma se torna um campo de batalha hermenêutica. A interpretação varia conforme o juiz, a época ou a ideologia dominante. Nesse cenário, o cidadão perde a capacidade de planejar sua vida jurídica. A cada caso concreto, tudo pode ser rediscutido — inclusive o que antes era pacífico.
Pior: o anteprojeto fere diretamente os direitos negativos do art. 5º da Constituição, que garantem ao indivíduo um espaço de liberdade contra a intromissão estatal. O art. 5º, II, protege a liberdade de ação, mas normas como o art. 15-A, que condiciona a recusa terapêutica a “informações plenas” definidas subjetivamente por médicos e juízes, transforma um direito negativo em uma concessão arbitrária — o cidadão só se recusa se o intérprete permitir. O art. 5º, XXII, assegura o direito de propriedade, mas o novo art. 966-A, VIII, ao impor a “preservação da empresa” como função social sem critérios claros, abre brecha para que juízes restrinjam o uso de bens com base em visões pessoais do que é “econômico” ou “social”. E o art. 5º, X, resguarda a intimidade, mas o art. 17, ao incluir “comportamentos e escolhas” na identidade pessoal sem limites definidos, permite que terceiros — ou o próprio Estado, via Judiciário — invadam esse domínio privado sob o pretexto de “proteger” algo tão vago quanto a “dignidade”. Em todos esses casos, o anteprojeto substitui a abstenção estatal por uma tutela judicial imprevisível, violando a essência dos direitos negativos: o direito de ser deixado em paz, salvo por lei explícita.
Mas o vício mais grave do anteprojeto não é técnico. É político. O novo Código Civil não é apenas juridicamente perigoso — ele é democraticamente ilegítimo. A Constituição estabelece que o poder emana do povo e é exercido por meio de representantes eleitos. A produção do Direito, portanto, deve ser feita no Parlamento, sob a vigilância do voto e a responsabilidade do mandato. A Comissão de Juristas alega que normas vagas refletem a evolução social e tecnológica — uma modernidade necessária, dizem eles nas páginas de sua exposição de motivos. Mas essa justificativa é uma cortina de fumaça. Atualizar o Direito é dever do legislador, não licença para abdicar de decidir. Quando o Parlamento opta por metáforas como “identidade pessoal” (art. 17) ou “seres sencientes” (art. 91-A) sem delimitar seu alcance, ele não adapta a lei ao tempo — ele se recusa a legislar e joga o ônus ao Judiciário. Esse poder, não eleito, não deliberativo, não renovável, não político, passa a ditar o que é justo, caso a caso, sem o freio da representação popular. Mais grave ainda, esse modelo abre espaço para que decisões judiciais reflitam vieses ideológicos ou pressões sociais transitórias, transformando o Judiciário em arena política disfarçada.
A República torna-se refém do arbítrio técnico — e da loteria judicial. Juízes não deliberam em audiências públicas. Não negociam princípios em comissões parlamentares. Não enfrentam a alternância de poder. Entregar-lhes o conteúdo normativo da vida civil é trair a cláusula democrática da Constituição. E há um custo prático que não se pode ignorar: a hiperjudicialização.
Como bem observaram Judith Martins-Costa e Cristiano Zanetti, em artigo publicado na Folha de São Paulo, o anteprojeto “não andará para a frente, mas recuará para tempos pré-modernos”, ao deslocar a base normativa do Direito Civil para um terreno instável de conceitos vagos, como confiança, simetria e paridade, “cujos significados variam ao gosto do intérprete”. A advertência é clara: não se trata de modernização, mas de corrosão institucional. Ao dissolver as regras em abstrações morais e entregar ao juiz o papel de legislador ex post, o texto não apenas agride a legalidade e a segurança jurídica, mas desestrutura o próprio edifício normativo do Código. O Direito deixa de ser um conjunto de normas previsíveis para se tornar um processo contínuo de reinvenção judicial — e nesse cenário, o verdadeiro soberano já não é o povo representado no Parlamento, mas o intérprete solitário da norma vaga.
Normas como o art. 421-E, que manda interpretar contratos empresariais por sua “função econômica”, ou o art. 15-A, que deixa a “recusa terapêutica” nas mãos da subjetividade médica e judicial, são convites ao litígio. Cada lacuna vira uma disputa, cada termo indeterminado vira uma causa. O Judiciário, já sufocado, vira o palco onde se decide tudo — e o cidadão comum, sem recursos para bancar anos de processo, paga o preço da incerteza.
Alguns exemplos ilustram esse fenômeno com precisão. O anteprojeto define os animais como “seres vivos sencientes” (art. 91-A), remetendo sua proteção a uma lei futura que ninguém sabe quando virá — até lá, o juiz decide se o boi no pasto merece mais direitos que o agricultor que o cria. Prevê que a “afetividade” pode gerar obrigações civis (arts. 19 e 17), mas imagine o caos: um vizinho que cuida do seu cachorro por anos pode reivindicar direitos sobre ele? E com base em que métrica? Fala em “função social” de maneira reiterada — em contratos, propriedade, empresa — mas sem estabelecer critérios jurídicos objetivos para sua aferição. Já vimos isso antes: no Código de 2002, a “função social” do contrato (art. 421) virou pretexto para juízes rescindirem acordos privados por critérios pessoais, como em casos de aluguel onde o locador foi punido por “excesso de lucro”. O anteprojeto não corrige esse erro — ele o multiplica.
Essa arquitetura normativa não é compatível com um Estado de Direito republicano. Um Código Civil deve orientar condutas, não provocar adivinhações. A norma deve proteger o cidadão contra o arbítrio — inclusive o arbítrio bem-intencionado do juiz. Ao flertar com a abstração, o anteprojeto dá ao Judiciário o poder de decidir tudo — o que, no fundo, é o poder de decidir qualquer coisa. A isso se chama arbitrariedade.
E há um ponto final que não pode ser silenciado. Quem votar ou tiver votado a favor desse projeto não está alinhado aos princípios liberais clássicos ou conservadores. Ambos os campos, embora distintos em ênfase e fundamentos, partilham o compromisso com a limitação do poder estatal, com a previsibilidade das regras e com a centralidade do Parlamento como órgão responsável por definir as normas da vida civil. Apoiar um código fluido, aberto à livre invenção judicial, é, na prática, dar as costas à tradição que defende o império da lei sobre a vontade dos homens. É legitimar o império do intérprete, justamente aquilo contra o que o constitucionalismo liberal e o conservadorismo jurídico historicamente se insurgiram.
Além disso, um projeto normativo instável, subjetivo e moralizante compromete severamente a segurança jurídica exigida por setores vitais da economia, como o agronegócio e o livre mercado. O campo, o crédito, os contratos e os investimentos não sobrevivem num ambiente onde cláusulas abertas substituem a regra clara e onde o juiz é transformado em legislador ex post. Um fazendeiro que assina um penhor rural ou um banco que financia uma safra não pode ficar à mercê de um juiz que, anos depois, redefina a “função social” da garantia com base em interpretações subjetivas de normas vagas — uma retroatividade interpretativa que, embora não viole formalmente a proibição de leis ex post facto do art. 5º, XXXVI, da Constituição, desrespeita seu espírito ao minar atos jurídicos perfeitos firmados sob a lei anterior. A Constituição veda leis retroativas que prejudiquem direitos adquiridos, mas o anteprojeto, com sua abertura normativa, cria um risco prático de reabrir o passado, entregando ao Judiciário o poder de reescrever relações já consolidadas.
No setor agropecuário, inclusive, contratos que movimentam centenas de bilhões de reais por ano em financiamentos, arrendamentos, operações com CPRs (Cédulas de Produto Rural), garantias e retrovenda tornam-se vulneráveis: um juiz que interprete a “função social” de uma CPR como “justiça distributiva” ou “proteção ambiental” pode invalidar cláusulas pactuadas, gerando uma moratória judicial disfarçada e elevando o custo do crédito ao precificar a incerteza. No mercado imobiliário, o impacto é igualmente severo: a insegurança sobre locações, loteamentos, incorporações e garantias reais, submetidos a critérios como “afetividade” ou “dignidade”, afugenta capital e trava o setor. O Brasil precisa de previsibilidade, estabilidade institucional e confiança nas regras do jogo — e transformá-las num tribunal de intenções é dinamitar essa base. O custo da incerteza normativa é pago em empregos, em produção e em liberdade econômica. Defender esse anteprojeto é, portanto, comprometer o Brasil que trabalha e empreende — e trocar o império da lei por um tribunal de intenções onde o juiz é rei.
Se queremos preservar o modelo constitucional de separação de poderes e a integridade do processo democrático, é preciso rejeitar a falsa virtude da norma vaga. A clareza é democrática. A regra é uma forma de respeito. E a segurança jurídica é a primeira liberdade do cidadão comum. O anteprojeto, ao inverter essa lógica, ameaça a própria ideia de Constituição. Substitui a vontade da lei pela vontade do intérprete. E quando tudo é possível ao intérprete, nada é seguro ao cidadão.
*Leonardo Corrêa – Advogado, LL.M pela University of Pennsylvania, Sócio de 3C LAW | Corrêa & Conforti Advogados, um dos Fundadores e Presidente da Lexum.