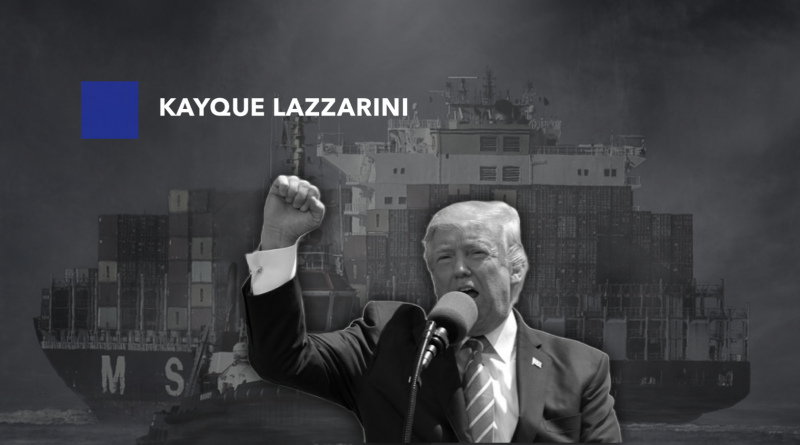Quais riscos o liberalismo corre com Donald Trump?
O século XX foi, sem dúvida, um dos mais conturbados da história da humanidade. Com duas guerras mundiais, milhares de mortos e o aumento do autoritarismo, esse contexto fez com o que o liberalismo se reinventasse após o fim da Segunda Guerra Mundial. O liberalismo, surgido no século XVII, justamente em oposição ao regime absolutista, que não previa regras e freios do Estado perante a sociedade, dando poderes ilimitados ao rei, foi o grande estopim para o surgimento de ideias liberais e iluministas. No Reino Unido, em 1688, houve a primeira revolução liberal, a conhecida “Revolução Gloriosa”. Esta, por sua vez, teve uma inspiração muito grande nos escritos de John Locke, também conhecido como pai do liberalismo. Locke, em seu livro Dois Tratados Sobre o Governo, ressalta que o governo precisava ser limitado e defendeu o parlamentarismo. Aliás, essas foram as medidas que os revolucionários tomaram. O rei britânico, à época, Jaime II, aceitou os termos dos revolucionários e a monarquia, que era até então, absolutista, passou a ser parlamentarista, com o reinado de Guilherme de Orange, através de poderes limitados. A luta contra o autoritarismo e a favor de freios nos poderes estatais sempre esteve no DNA do liberalismo. Mais adiante, outro nome importantíssimo do liberalismo, o Barão de Montesquieu, escreveu o livro Do Espírito das Leis. Montesquieu era membro da nobreza francesa. Porém, seu pensamento para a época foi completamente disruptivo, uma vez que suas ideias de separação de poderes e freios e contrapesos inspiraram a maioria dos regimes políticos modernos. A limitação do Estado e do governo na obra de Montesquieu abrilhantou ainda mais o liberalismo iluminista. Portanto, quando pensamos em liberalismo, pensamos primeiramente em liberdade política e civil.
Na mesma época em que o liberalismo político era desenhado e espalhado para diversos locais da Europa e do mundo, também surgia a vertente econômica desta filosofia política. O liberalismo econômico também foi uma reação ao absolutismo – entretanto, uma reação à vertente econômica do regime absolutista, ou seja, o mercantilismo. David Hume, que, para muitos, é o pai da macroeconomia, afirmara que o acúmulo de metais preciosos (ouro e prata) fazia com que houvesse uma maior quantidade desses metais em circulação, o que resultaria num aumento geral dos preços, hoje conhecido popularmente como inflação. O nome da teoria de Hume é “Teoria Quantitativa da Moeda”. Além disso, Hume dizia que, quando se possui uma balança comercial sempre positiva, isso significaria que outros países necessariamente teriam que perder. Por isso, Hume era um intransigente defensor do livre comércio, em oposição ao protecionismo e ao monopólio mercantilista, uma vez que este poderia levar a ganhos mútuos e, com isso, a balança comercial tenderia ao equilíbrio. Algum tempo depois de Hume realizar essas análises, o brilhante filósofo britânico Adam Smith corroborou com essas análises e, até hoje, é considerado como o pai do liberalismo econômico. Contudo, Smith acreditava na teoria da vantagem absoluta, ou seja, se um país tivesse vantagem absoluta na produção de um bem material, ele não necessariamente precisaria realizar trocas com outros países. Analisando essa falha no pensamento de Smith, o economista britânico David Ricardo elaborou a teoria da vantagem comparativa, segundo a qual cada país se especializaria onde possui uma vantagem comparativa na produção de um bem em relação a outro país. Essa teoria foi tão revolucionária que inspirou diversos índices econômicos e é levada em consideração até os dias de hoje. Ademais, o liberalismo econômico clássico acreditava numa visão de ‘mão invisível’, de laissez-faire, como diriam os franceses. Isso quer dizer que o próprio mercado se auto-regulava. Essa visão foi saindo de cena a partir da metade do século XIX, quando grandes crises, como a Crise de 1873, fizeram com que os países começassem a criar regulamentações econômicas, assim como afirma a professora de direito concorrencial Renata Mota Maciel. Inclusive, os países que adotaram essas regulamentações foram os primeiros a se recuperar da grande crise, tais como os EUA e a Alemanha. A partir disso, as regulações econômicas passaram a ser norma dentro dos países e, após a Crise de 1929, os liberais denominados por alguns de “novos liberais”, da tradição que desemboca em John Maynard Keynes, William Beveridge e os intelectuais da Escola de Friburgo (Ordoliberais), passaram a entender que a economia precisa de regulações. O liberalismo econômico estava mudado e o político também. Na mesma época em que as regulações econômicas começaram a dar as caras, um certo filósofo britânico com o nome de John Stuart Mill também passou a evoluir a face política do liberalismo. Mill ressalta que a vertente política do liberalismo é a democracia, e passou a defender um governo representativo. Esta foi mais uma inovação que é utilizada até os dias de hoje e que, inclusive, inspirou diversos autores no século XX, tais como Norberto Bobbio, que escreve em seu livro Liberalismo e Democracia que, para ser um liberal de fato, é preciso ser um democrata.
Além das liberdades na esfera política e econômica, o liberalismo também se destaca, com grande notoriedade, na esfera internacional. O grande pai do liberalismo internacionalista/globalista é o filósofo Immanuel Kant. Em seu livro A Paz Pérpetua, Kant propõe uma federação de Estados comprometidos com a construção da paz, o famoso peacebuilding, como afirmam os estudiosos das relações internacionais. Não somente o peacebuilding kantiano, mas também o cosmopolitismo e o princípio da hospitalidade que Kant pregava em sua obra mudaram a forma de como os estudiosos e os políticos passaram a enxergar o estrangeiro. O legado kantiano inspirou diversos autores mais adiante, inclusive o escritor e teórico das RI Ralph Norman Angell, que, através de sua grande obra A Grande Ilusão, destaca a construção da paz e reforça que, num evento armado, os países teriam muito mais a perder do que a ganhar, contrapondo uma ótica realista. Porém, isso não ficou apenas na teoria, mas foi para a prática. O presidente norte-americano, Woodrow Wilson, através de seu plano de paz após a Primeira Guerra Mundial, buscou criar um ambiente onde o liberalismo internacionalista florescesse e a construção da paz fosse possível. Wilson e sua institucionalidade, a Liga das Nações, fracassaram num primeiro momento, mas plantaram a semente da liberdade que germinaria para o pós-Segunda Guerra Mundial através da ONU (Organização das Nações Unidas) e da construção, de fato, de uma ordem liberal internacional e de um peacebuilding reforçado pelo multilateralismo e pela cooperação entre as nações.
Descrevemos o liberalismo em suas diferentes espirais para entender o que Donald Trump realmente propõe em cada um dos campos mencionados. O Republicano, no aspecto econômico, por exemplo, acredita que os EUA precisam defender suas empresas e empregos nacionais, ou seja, protegendo mais a sua economia, isolando-a do comércio internacional e taxando produtos importados de diferentes setores. Um exemplo claro disso é a intenção de Trump em taxar as commodities agrícolas brasileiras. Os EUA ocupam o segundo lugar no ranking de importações agrícolas brasileiras, perdendo apenas para a China, que, aliás, só ocupa o primeiro lugar (com sobras) graças às políticas comerciais que os EUA vêm tomando desde o início deste século através do governo de George W. Bush e suas políticas econômicas que visam a protecionismo e subsídio. Com essa intenção de Trump, a China aumentaria ainda mais seu comércio com o Brasil, deixando os EUA ainda mais atrás. Se, por um lado, a relação comercial entre EUA e Brasil ficaria mais fria, por outro lado, a relação consumidor e governo ficaria cada vez mais quente. Os consumidores norte-americanos pagariam por produtos mais caros e de pior qualidade, em decorrência do protecionismo e de sua consequente falta de competição, para que determinados setores corporativistas da economia norte-americana ganhassem mais, além do governo, que também arrecadaria mais impostos com essa política. Como Paul Krugman afirma em um de seus manuais de economia internacional, com o protecionismo, também cai o bem-estar do consumidor. Ademais, um país grande como os EUA e suas práticas protecionistas também afetariam gravemente o comércio internacional, uma vez que os EUA são grandes importadores e, com o aumento nas tarifas para importação, comprariam cada vez menos, o que levaria a uma possível deflação (com a oferta mais elástica e a demanda mais inelástica) nos preços dos bens comercializados, sobretudo, por países em desenvolvimento que possuem sua pauta de exportação baseada em bens primários. Sendo assim, o protecionismo trumpista é extremamente maléfico não só para a economia nacional norte-americana, mas também para a economia internacional.
Comentamos sobre a questão econômica de Donald Trump e seus impactos e, agora, vamos dialogar a respeito da questão internacional. Trump, ao longo do seu primeiro governo, sempre se mostrou contrário aos valores do liberalismo internacionalista. Com pauta unilateral e sempre questionadora em relação às instituições internacionais, outrora construídas com ajuda dos EUA, Trump põe ainda mais em crise a ordem internacional liberal que já estava em xeque há pelo menos duas décadas. Para contribuir ainda mais com o relatado, os lemas de Trump, “America First” e “Make America Great Again”, são claros slogans isolacionistas. Além do mais, o novo presidente norte-americano já afirmou diversas vezes que pretende acabar com a ajuda financeira e militar à Ucrânia, diante do conflito com a Rússia, o que colabora com o projeto expansionista eurasiano de Vladimir Putin e seu teórico, Alexander Dugin, no Leste Europeu, a fim de marcar presença no território próximo à Rússia e confrontar os países da União Europeia e da OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Outro ponto que ressalta a diferença entre Trump e o liberalismo internacionalista é que o primeiro faz discursos abertamente anti-imigração e a favor de deportações. Como dito anteriormente, o liberalismo internacionalista é a favor do cosmopolitismo e da hospitalidade com o estrangeiro.
Por fim, ainda poderíamos elencar as questões políticas e civis. No dia 06 de janeiro de 2021, houve o maior atentado à democracia norte-americana. As instituições democráticas dos EUA que foram construídas no final do Século XVIII viram, cerca de três séculos depois, seu momento de maior fragilidade. A invasão do capitólio produzida por apoiadores do presidente Donald Trump mostrou o quão influente é o discurso antissistema trumpista e como esse discurso capturou corações e mentes de milhares de norte-americanos. Trump, que rechaça os governos de extrema-esquerda da América Latina e também da Ásia (China e Coréia do Norte), acaba também colaborando com outros chefes de governo/estado antidemocráticos e extremistas, tais como Viktor Orban (Hungria) e, como mencionado anteriormente, Vladimir Putin (Rússia). Com a mentalidade antissistema de Trump e sua diplomacia próxima de líderes anti-democráticos, os EUA mudam radicalmente seu caminho como propagadores da Democracia e do Estado de Direito, assim como foram ao longo do século XX.
Portanto, tendo em vista que os valores do liberalismo estão representados em aspectos políticos/civis, econômicos e internacionais, sem ressaltar as pautas morais/individuais, Donald Trump oferece riscos concretos a agendas importantes dos liberais, uma vez que o presidente eleito dos EUA contrapõe o liberalismo em todos esses aspectos demonstrados ao longo do presente artigo.