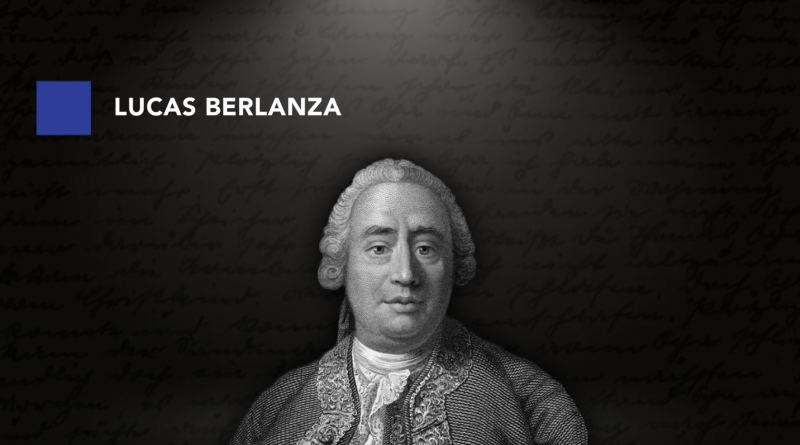“Ensaios Políticos”: o pensamento político de David Hume
O filósofo e historiador David Hume (1711-1776) é mais conhecido por suas contribuições à Epistemologia, inscrevendo-se como um dos pilares da tradição empirista, na qual se somaria, principalmente, a John Locke (1632-1704) e George Berkeley (1685-1753). Sua obra mais conhecida, uma tentativa de renovação geral do pensamento humano, enfatizando a primazia da experiência como método, foi o Tratado sobre a Natureza Humana (1739). Publicou também Investigação sobre o Entendimento Humano (1748) e Investigação sobre os Princípios da Moral (1751). Outro notável filósofo, Immanuel Kant (1724-1804), dizia ter despertado de um “sono dogmático” e produzido sua filosofia, que procura transcender as contradições entre o empirismo e o racionalismo cartesiano, após ler as elaborações humeanas.
No entanto, precisamente por sua pretensão generalista, Hume escreveu sobre assuntos os mais diversos. A política é um deles; nesse aspecto, Hume se inscreve em outra tradição riquíssima, a do Iluminismo escocês, em que estaria ladeado de Adam Smith (1723-1790, um amigo e admirador muito próximo) e Edmund Burke (1729-1797, que com ele teve divergências, particularmente no campo das convicções religiosas e na adesão político-partidária). Foi profundamente admirado por diversos liberais, entre eles os fundadores do Instituto Liberal. A editora Almedina/Edições 70 contribui com o conhecimento mais aprofundado desse âmbito da filosofia humeana com a publicação do livro Ensaios Políticos – David Hume, organizado por Jaimir Conte e Marília Côrtez de Ferraz, mas resultante de traduções feitas pelo professor português João Paulo Monteiro (1938-2016), cuja dissertação de mestrado na Universidade de São Paulo em 1967 serviu de inspiração para a compilação do volume.
O trabalho pioneiro do professor João Paulo Monteiro foi explorado em edições posteriores dos escritos de Hume em língua portuguesa, mas esta é a primeira vez em que as traduções feitas por ele são publicadas conjuntamente com o longo ensaio introdutório por ele redigido e as notas por ele cuidadosamente inseridas para enriquecer a compreensão dos textos. O volume inclui uma lista bibliográfica e de abreviaturas, além de um índice remissivo, reunindo em seu corpo 14 ensaios de Hume sobre a temática política originalmente publicados dentro de seus Ensaios morais, políticos e literários (1742).
A introdução de Monteiro ajuda a situar o pensamento político de Hume dentro do contexto geral de seu sistema filosófico, pontuando que, ao contrário do que se poderia simplificadamente entender, a razão, segundo esse sistema, tem um papel na reflexão sobre as diversas questões que podem ser objeto da apreciação humana, mas toda especulação aceitável deve se basear em um fundamento empírico. O sentido disso para Hume, porém, pode ser considerado mais abrangente do que pareceria à primeira vista, já que a própria História, para ele, era uma forma de experiência: a experiência indireta do passado através do que restou documentado a respeito dele. No entanto, profundamente cético, Hume julgava que significativa parcela dos princípios em que se fundamentou uma série de conclusões do passado não passaria de uma extrapolação indevida. Um exemplo disso seria a lei de causa e efeito, que ele não admitia como demonstrada, de vez que, a seu juízo, a única razão pela qual acreditamos que determinado efeito sempre derivará de determinada causa é o hábito de ver assim acontecer; tratar-se-ia, portanto, não de um saber pétreo, que se pudesse antever que se repetirá sempre em todas as épocas e circunstâncias, mas de uma presunção que derivaria do que estamos habituados a verificar – ponderação que, diga-se de passagem, faria Kant refletir no intento de contrapô-la e conceber sua doutrina dos parâmetros apriorísticos do conhecimento.
Juntamente com essa relativização do poder da razão, Hume estabeleceu uma concepção moral baseada nos sentimentos e na simpatia (assemelhada, não por acaso, à teoria dos sentimentos morais de Adam Smith). É conhecida sua posição de que a razão nunca seria mais do que uma “escrava das paixões”; embora ele não renegasse qualquer incursão da razão nas reflexões morais, a fonte mais decisiva da moral nas sociedades humanas seria o sentimento da utilidade de determinadas posturas e ações, que levaria à convenção de que se trataria de práticas justas. Isso implica, inevitavelmente, certo relativismo, pois tais convenções éticas poderiam se alterar em diferentes tempos e lugares.
Os 14 ensaios de Hume constantes da obra – Da origem do governo, Do contrato original, Da obediência passiva, Dos primeiros princípios do governo, Da sucessão protestante, Que a política pode ser transformada em uma ciência, Da liberdade civil, Da liberdade de imprensa, Se o governo britânico tende mais para a monarquia absoluta ou para a república, Da independência do parlamento, Ideia de uma república perfeita, Dos partidos em geral, Dos partidos da Grã Bretanha e Da coalizão dos partidos – sintetizam uma concepção da política que deriva diretamente dessa concepção moral humeana, desconfiada da premissa de se poder alcançar racionalmente o conhecimento de uma lei moral natural.
Não obstante quisesse se ancorar no método experimental e fugir das hipóteses e da metafísica, Hume, conforme Monteiro, proclamava um ceticismo mitigado, que, descrente de que se pudessem articular muitos princípios fixos, universais e passíveis de propiciar antevisões do futuro aos estudiosos da política como ciência, julgava possível identificar alguns poucos axiomas universais capazes de, em um sentido prático, orientar os legisladores para que adotassem caminhos políticos mais eficazes. A experiência da História e da natureza humana poderia facultar o acesso a tais axiomas.
Hume fazia questão, porém, de se diferenciar dos filósofos que, em sua opinião, adotavam concepções políticas unicamente para servir aos projetos de poder de determinados partidos. Com efeito, ele se declarava orgulhosamente apartidário no Reino Unido, antipatizando tanto com os whigs quanto com os tories. Essa é provavelmente a baliza mais importante que permeia os diversos ensaios do livro. Com relação aos tories, Hume ridicularizava a teoria do direito divino dos reis; mas, com relação aos pioneiros do pensamento liberal, os whigs e o próprio Locke – embora compartilhasse com este filósofo a ênfase na experiência como método, e embora, como os whigs, visse com suspeição a hipótese de uma Coroa católica, tendendo a associar o Catolicismo à intolerância eclesiástica -, Hume rejeitava enfaticamente, tanto neles quanto no absolutista Thomas Hobbes (1588-1679), a teoria contratualista. Sua teoria da origem do Estado e dos governos era bem mais nuançada.
Ele acreditava que a sociedade se originava do próprio caráter indefeso do ser humano isolado. O instinto sexual levaria à procriação, mas a manutenção da sociedade, a despeito de Hume enxergar um egoísmo natural no ser humano, derivaria de uma convenção estabelecida entre os primeiros agrupamentos da espécie dando conta de que cada um deveria manter um gozo estável dos bens econômicos que adquirisse. Isso seria possível igualmente porque, de par com suas tendências egoístas, Hume enxergava no ser humano uma predisposição para uma generosidade limitada. Após essa convenção foi que, artificialmente – e não em virtude de uma lei natural –, os sentimentos do justo e do injusto surgiram e, simultaneamente, “as noções de propriedade, de direito e de obrigação”. Não teria existido, ao contrário do que figuraria a teoria contratualista hobbesiana e lockeana, um pacto social sob a forma de um contrato.
Conforme Monteiro, seria mais adequado representar essa visão humeana desta forma: “os homens respeitam as posses alheias ao mesmo tempo em que esperam dos outros um procedimento análogo, à maneira de dois remadores, os quais puxam os remos de seu barco, ‘por acordo ou convenção, embora nunca tenham feito qualquer promessa um ao outro’ (…) Não é necessário, de outro lado, que uma autoridade política imponha, como em Hobbes, o cumprimento dos termos desse acordo. A regra de estabilidade da posse surge muito antes disso, já dentro de cada família, onde os pais tomam essa iniciativa a fim de manter a concórdia entre os filhos”.
O pensamento humeano enxergava a propriedade, a troca de propriedades pelo comércio e a solidez dos compromissos firmados entre os membros da comunidade como convenções importantes estabelecidas pelos seres humanos, não como leis naturais existentes antes mesmo de a sociedade civil ser firmada e localizáveis pela razão, tal como pensavam os jusnaturalistas como Locke. Assim, “é também em sua filosofia que assenta o caráter utilitarista da sua teoria política. Em primeiro lugar, só as paixões podem (…) desempenhar o papel de motor das ações dos homens. Consequentemente, não existindo uma razão que a ele dite imperativos morais, o homem só aceita a justiça porque a isso é levado por suas ‘circunstâncias e necessidades’ (…). É só porque ela favorece seus interesses que os homens impõem a si próprios essa virtude, a qual as características do meio ambiente e da natureza humana, sobretudo estas últimas, tornam indispensável à manutenção da sociedade”.
Com o tempo, ao reconhecimento da utilidade desses princípios, se somam, por influência do hábito, padrões imaginativos que governam as formas concretas pelas quais eles se materializam nas determinadas sociedades. Como muitos pensadores conservadores posteriores, a exemplo de Irving Babbitt (1865-1933), Hume enaltecia o papel da imaginação na vida humana. Como, porém, o ser humano seria incapaz de observar universalmente as regras que convencionou serem oportunas e justas, fez-se necessário o governo para a vida social se perenizar. Gradativamente, “o temor e o respeito pela autoridade dos governantes levará a conduta dos membros da sociedade, mesmo que não o queiram, a uma inteira conformidade com seus verdadeiros interesses. O sentido da obrigação de fidelidade ao soberano, assim como o receio de seu poder coercitivo, vai ser assim o que possibilitará a paz social, constituindo uma espécie de complemento da virtude da justiça e da virtude natural da equidade que, por si sós, não são suficientes para atingir aquele objetivo (…). O governo é uma invenção útil, mas a sua utilidade não é a de corrigir a natureza humana, e nem sequer a de subjugar as paixões, mas, pelo contrário, servindo-se da própria paixão do interesse, a de contrabalançar os perniciosos efeitos de alguns de seus princípios mais frívolos e rebeldes”.
O cerne da distinção entre Hume e os contratualistas, segundo Monteiro, está em que estes últimos associavam dois problemas distintos: o problema da origem e o problema da legitimidade do governo. O governo ou Estado legítimo nasceria, segundo eles, de um contrato, e se manteria legítimo em função do respeito a esse contrato, passível de ser rompido pela rebeldia do povo desrespeitado. Hume, por sua vez, pensava que havia uma grande diferença entre o governo original e as formas de governo que o sucederam. A sociedade primitiva não poderia estabelecer contrato algum, dada a sua escassez de bens materiais, desestimulando a cobiça e os entrechoques que justificariam o poderio estatal. Percebendo as vantagens de paz e ordem que encontrariam nisso, porém, essas sociedades primitivas entregariam o poder político a uma pessoa, provavelmente após experimentarem conflitos umas contra as outras. A autoridade dos chefes militares se tornaria, posteriormente, um hábito, que, como já se viu, é uma noção importante do pensamento humeano.
A paixão e a faculdade básica de entendimento dos primeiros grupos humanos teriam despertado neles a associação, pela via empírica, entre o governo existente e a justiça ou a mínima estabilidade que então se passaram a experimentar. Depois disso, o governo criou seu apoio armado, a fim de consolidar a sua autoridade; contrapondo-se a Locke, Hume veria na origem de praticamente todos os governos e Estados posteriores aos chefes primitivos a mera força, não o consentimento. Não apenas nunca houve um contrato social, como ele não seria, mesmo admitindo-se que tivesse existido, o fundamento legitimador dos Estados posteriores.
A legitimidade do Estado, entendida por Hume como a característica de um governo que “é justificado pelos princípios da natureza humana”, estaria concretamente calcada na fidelidade que os povos dariam a esse Estado, mediante a prevalência em grau suficiente de uma “opinião de direito ao poder”, isto é, a crença em que “determinado indivíduo é o legítimo soberano da nação, independentemente de qualquer convicção de que seja ele quem melhor defenderá o interesse público”, sendo “a antiguidade do governo (…) um dos fatores que mais fortemente contribuem para fazer surgir esse tipo de crença”, o que se deve, mais uma vez, ao poder do hábito e da imaginação. Os governos, em suma, conforme essa teoria, costumam nascer da substituição dos governos anteriores pela força, mas se tornam socialmente enraizados conforme as sociedades que governam se habituam a eles e às instituições e costumes que os viabilizam.
Embora não aceitasse a tese absolutista da obediência passiva aos governos e fosse hostil a uma postura tirânica por parte dos governantes, apreciando muitos dos aspectos nobres da liberdade tão cultivados pela sociedade britânica, Hume rejeitava o tiranicídio e tendia a favorecer o princípio da autoridade, pois, em sua lógica, se a liberdade é condição de uma sociedade mais admirável e aperfeiçoada, a autoridade é condição da existência possível da própria liberdade. Diria Hume que “é forçoso reconhecer que a liberdade é a perfeição da sociedade civil, sem que isso permita, contudo, negar que a autoridade é essencial para sua própria existência; e por isso esta última pode merecer a preferência, nessas disputas em que tantas vezes uma é oposta à outra”.
A posição de Hume sobre as formas de governo é bastante debatida. Enquanto Hobbes defendia a monarquia absoluta, embora reconhecesse legitimidade a qualquer forma de Estado, desde que com poderes inquestionáveis; e Locke defendia o Estado liberal, sob a forma da monarquia mista e limitada do Reino Unido, consagrada com a Revolução Gloriosa; Hume preferia permanecer em sua postura auto descrita como científica e acima dos partidos, apontando méritos e deméritos em todas as formas de governo. Julgava, no entanto, que “a ilimitada liberdade de imprensa, embora seja difícil, e talvez impossível, propor para ela um remédio adequado, é um dos males a que estão sujeitas essas formas mistas de governo”.
Hume ponderou ainda que, se o sistema político misto do Reino Unido viesse a morrer um dia, como ele acreditava que aconteceria com todos os governos, entre um governo inteiramente popular e uma monarquia absoluta, preferia que o país adotasse a segunda: “Não há dúvida que é possível imaginar um governo popular mais perfeito que a monarquia absoluta, ou mesmo que nossa atual Constituição. Mas que razões temos nós para esperar que tal governo venha jamais a ser instituído na Grã-Bretanha após a destruição de nossa monarquia? Se qualquer pessoa adquirir sozinha poder suficiente para reduzir a pedaços nossa Constituição e reelaborá-la inteiramente, ela será, na realidade, um monarca absoluto (…). Seriam milhares os inconvenientes que tal situação acarretaria. Se, em tal caso, a Câmara dos Comuns alguma vez for dissolvida, o que não é de esperar, podemos contar com uma guerra civil em cada eleição. Se ela se mantiver, sofreremos toda a tirania de uma facção, subdividida em novas facções. E, como um governo assim violento não pode subsistir por muito tempo, iremos finalmente, depois de muitas convulsões e guerras civis, encontrar repouso na monarquia absoluta, a qual teria sido muito melhor instituirmos pacificamente desde o início”.
Estudando os partidos políticos, Hume fez deles uma interessante classificação; em primeiro lugar, dividiu-os em partidos pessoais, baseados na amizade pessoal com lideranças, e partidos reais, que assentariam em diferenças fundamentadas em opiniões ou interesses. Estes últimos se subdividiriam em partidos de interesse, quando as facções estariam divididas por ocuparem diferentes estratos ou “classes” da sociedade, com interesses antagônicos – o que, curiosamente, era o tipo de partido que Hume julgava mais razoável e desculpável; os partidos de princípios, baseados em filosofias, plataformas ou opiniões abstratas opostas, que o autor julgava um extraordinário fenômeno moderno; e os partidos de afeição, semelhantes aos partidos reais, mas que se manifestariam em sociedades mais complexas, onde contingentes populacionais maiores apoiassem determinadas lideranças mesmo sem manter qualquer relação próxima com elas e sem delas receber favor algum.
Permito-me pontuar que o fenômeno da competição dos partidos não parecia muito aprazível a Hume, assim como não parecia a muitos dos fundadores dos Estados Unidos, por exemplo. O sistema representativo moderno, àquela época, estava nascendo, razão pela qual tais estranhamentos não podem ser apreciados fora de seu contexto. No entanto, ele assumiu que, “num governo livre, talvez não seja possível, e nem sequer desejável, a abolição de todas as distinções de partido”, com exceção daquelas que ameaçam a própria essência do regime vigente. Sobre esse tema, é muito interessante demorarmo-nos sobre o último ensaio, Da coalizão dos partidos. Entre whigs e tories, Hume recomendava a adoção de opiniões moderadas, procurando demonstrar, depois de ter criticado ambos os grupos, que cada um poderia dispor de argumentos sérios a seu favor. Aos whigs, reconhecia que poderiam levantar em sua defesa a importância da liberdade, o poder e a riqueza que ela traria aos britânicos e como permitiria que rivalizassem em prestígio e grandeza com as antigas repúblicas.
Aos tories, porém, reconhecia que poderiam alegar que “a única regra de governo (…) que os homens conhecem e reconhecem é o costume e a prática. A razão é um guia tão incerto que sempre estará sujeita a dúvidas e controvérsias. Se alguma vez ela se tornasse predominante entre o povo, os homens sempre a teriam tomado como sua única regra de conduta; mesmo assim, teriam continuado no primitivo e isolado estado de natureza, sem se submeterem ao governo civil, cuja única base é a autoridade e o precedente e não a pura razão. Desfazer esses laços seria romper todos os vínculos da sociedade civil, deixando todos com a liberdade de seguirem seus interesses particulares, através dos expedientes que lhes forem ditados por seu apetite, disfarçado sob a aparência da razão”. Os whigs também estariam errados, segundo Hume, ao evocarem as instituições mais antigas da Inglaterra como berço da liberdade pós-Revolução Gloriosa, pois o antigo controle sobre os reis era efetuado pelos barões e não pelos comuns. Nesse ponto, os argumentos dos Old Whigs como Edmund Burke eram flagrantemente opostos aos argumentos humeanos. Os tories poderiam alegar ainda, à época da Revolução, segundo Hume, que o furor por subverter as Coroas poderia muito bem não se limitar às Coroas e terminar em um caos revolucionário mais abrangente, “e o próprio povo, tendo-se tornado incapaz de governo civil, não sendo mais contido por autoridade alguma, se verá obrigado a aceitar, para bem da paz, em vez de seus monarcas legítimos e moderados, uma série de tiranos militares e despóticos”.
Podem-se encontrar diversos aspectos da filosofia humeana que influenciariam tanto os liberais quanto os conservadores, ou, mais judiciosamente, as vertentes mais conservadoras do liberalismo – embora ele também tenha impactado o precursor mais celebrado do liberalismo social, John Stuart Mill (1806-1873). Em sua filosofia cética, descrente do racionalismo e do abstratismo, podemos localizar, junto ao que produziram os demais iluministas escoceses, as bases que fomentariam o pensamento “anti-construtivista”, por exemplo, de um Friedrich Hayek (1899-1992), passível de justificar a modéstia do individualismo liberal. Encontraremos aí também, como se dá ao gosto dos conservadores, a hostilidade à revolução, a valorização da ligação entre as instituições do passado e as do presente, a importância da tradição e do costume e, por fim, o temor das “desconstruções” afobadas e baseadas nos discursos dos filósofos de gabinete.
No entanto, sua postura mais apartidária, procurando fazer objeções a whigs e tories simultaneamente, não levou apenas a algumas discordâncias de Edmund Burke – que, à parte isso, tinha claramente várias ideias semelhantes às dele -, mas também a algumas concessões, por exemplo, às monarquias absolutas, que não parecem muito próprias do liberalismo. Nesse sentido, penso que, embora obviamente a teoria contratualista seja uma alegoria, e, nesse sentido, a teoria humeana para a origem do Estado contenha certos traços aparentemente mais realistas, o liberalismo de Locke e a concepção jusnaturalista são evocações indispensáveis para o nosso pensamento, constituindo capítulo crucial da trajetória de nossa corrente. De qualquer maneira, David Hume é um autor fundamental, tem muito a nos ensinar e louvo a editora Almedina por produzir essa edição.