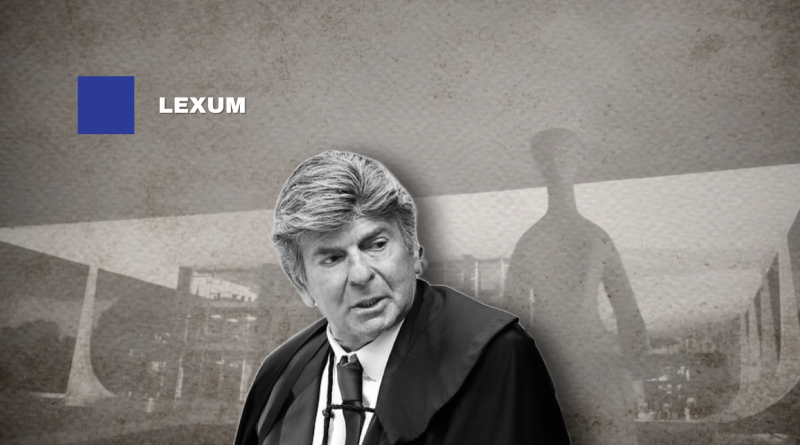O método contra o clamor: notas sobre o voto Fux
Não existe voto perfeito. Toda decisão humana carrega falhas — e talvez seja esse o seu traço mais constante. O máximo que podemos fazer é tentar reduzir os erros: escolher o melhor caminho, adotar a melhor técnica, resistir às armadilhas das nossas próprias heurísticas. O Direito não é ciência natural, mas, como prática normativa, exige método, justamente porque lida com o exercício do poder autorizado pelo consentimento dos cidadãos. Já critiquei diversos votos do ministro Luiz Fux — entre eles, aquele proferido no caso do Marco Civil da Internet. Mas o voto sobre o caso da suposta tentativa de golpe merece considerações particulares. Ressalto, por transparência, que percorrerei autores que não li, mas que são mencionados no voto.
Logo na abertura, o ministro parte do lugar certo: o método. Recorda que a missão precípua do Supremo Tribunal Federal é a guarda da ordem constitucional, e que essa guarda não se exerce por juízos de conveniência, mas por contenção. Destaca que à jurisdição não cabe decidir o que é bom ou ruim, mas apenas o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal — e que, por isso, o juiz precisa cultivar objetividade, rigor técnico e um certo minimalismo interpretativo. Essa profissão de fé no método é rara e bem-vinda. Ao invocar Daryl Levinson para dizer que a legitimidade da jurisdição depende de produzir decisões qualitativamente distintas das decisões políticas, Fux toca no ponto nevrálgico: o juiz só é legítimo quando decide de modo diferente, e decide de modo diferente justamente porque está limitado. É a contenção que distingue o juiz do político.
Esse compromisso com o método, aliás, aproxima-se muito dos princípios que orientam a Lexum: primeiro, a ideia de que o Estado existe para preservar a liberdade; segundo, a convicção de que a separação de poderes é a espinha dorsal da nossa Constituição Federal; e, por fim, o entendimento de que a atribuição e dever do Judiciário é dizer o que a lei é, não o que ela deveria ser. Quando um juiz se contém, ele não se apequena: ele apenas reconhece que não é soberano — é limitado. E é essa limitação que torna possível a liberdade dos demais.
Essa concepção de método, aliás, não se limita à técnica: ela envolve também uma certa ética do ofício. O próprio Fux reconhece que o juiz deve acompanhar a ação penal com distanciamento — não apenas por não dispor de competência investigativa ou acusatória, mas, sobretudo, por seu dever de imparcialidade. Lembra que o juiz exerce dois papéis essenciais: controlar a regularidade do processo e firmar o juízo definitivo de certeza, distinguindo, entre as hipóteses acusatórias, aquelas que realmente se amparam em provas concretas. Essa responsabilidade, diz ele, exige coragem para condenar quando houver certeza — e, mais ainda, humildade para absolver quando houver dúvida.
Esse trecho dialoga diretamente com o capítulo do meu livro em que analiso as heurísticas estudadas por Daniel Kahneman: atalhos cognitivos que podem economizar tempo, mas frequentemente distorcem o julgamento. A racionalidade judicial, aqui, aparece como disciplina contra esses impulsos: o juiz que se deixa arrastar pelo clamor social ou pela aparência de plausibilidade está apenas cedendo à heurística da disponibilidade, à ancoragem inicial ou ao viés de confirmação. Fux parece ciente desse risco e reivindica, com razão, que o juiz precisa resistir à tentação de decidir por intuição.
Vai além, ainda, ao observar que, como magistrados da mais alta corte do país, os ministros do Supremo Tribunal Federal não se limitam a resolver litígios isolados; cada decisão que proferem se projeta para além das partes e se transforma em precedente, irradiando efeitos normativos e interpretativos sobre todo o sistema de justiça. Daí a necessidade de que sejam exemplo: farol de coerência jurídica, guardiões de estabilidade, previsibilidade e segurança — bens escassos que compõem o patrimônio jurídico da nação.
Fux começa pelo começo: a competência. Redesenha-a como a medida objetiva da jurisdição — na trilha de Liebman, Calamandrei, Chiovenda, Redenti e Barbosa Moreira — para lembrar o óbvio que tantos esquecem: só há jurisdição onde há juiz natural previamente definido, e a competência funcional, repartida ratione personae, é inderrogável. Dali, recompõe a oscilação do próprio STF: a antiga Súmula 394 e seu cancelamento; a virada restritiva da AP 937, que vinculou o foro a crimes cometidos no exercício e em razão do cargo; e a guinada recente do Inq. 4.787, que manteve o foro mesmo após o afastamento. É nesse ponto que ele finca o método: prerrogativa de função é norma de exceção e não admite leitura extensiva; sua banalização fere o princípio republicano, ameaça o juiz natural e roça o terreno proibido dos tribunais de exceção. Se a competência deve preexistir ao caso, não pode viajar com o réu — e, muito menos, surgir por interpretação posterior aos fatos.
Fiel ao método, Fux enfrenta a segunda preliminar com um silogismo simples e, por isso mesmo, robusto: se a maioria do Inq. 4.787 afirmou que a prerrogativa se perpetua quando os fatos foram praticados no cargo e em razão dele, então — nos termos do art. 5º, I, do RISTF — a competência prorrogada só pode ser a do Plenário. Tudo o mais é contradição performática: cidadãos sem foro foram julgados pelo Pleno por conexão nos inquéritos de 8/1, enquanto o ex-Presidente seria julgado por uma Turma. O método que defendo no livro ilumina o ponto: (i) regra–exceção não admite expansão oportunista; (ii) cânone conjuntivo/disjuntivo — se “Presidente” é a premissa que atrai a competência originária, o consequente é “Plenário”, não “Turma”; (iii) juiz natural e previsibilidade — a competência preexiste ao caso e não pode deslizar conforme o réu ou o clima institucional. Na gramática republicana, repita-se à exaustão: a atribuição — e o dever — do Judiciário é dizer o que a lei é, não o que ela deveria ser. Se a Corte escolhe as consequências e só depois ajusta as premissas, não decide: fabrica. Aqui, ao contrário, o voto de Fux preserva a integridade do sistema — ou o processo sobe ao Plenário, ou desce ao primeiro grau; meio-termo é casuísmo.
Ainda nessa preliminar, Fux enfrenta o ponto mais sensível: a relação entre mudança jurisprudencial e segurança jurídica — como desdobramento do juiz natural. O STF pode rever entendimentos; o que não pode é retroagir viradas jurisprudenciais para redefinir, ex post, o órgão competente por fatos pretéritos. À época dos acontecimentos (2021–2023) vigorava a AP 937; aplicar a guinada de março de 2025 do Inq. 4.787 para manter o foro seria casuísmo e violaria juiz natural, segurança jurídica e proteção da confiança. Em suma: mudança, sim; retroação, não. Competência não viaja no tempo — ou sobe ao Plenário, ou desce ao primeiro grau; meio-termo é expediente que a Constituição não autoriza.
E, nesse mesmo compasso, enfrenta a preliminar sobre a colaboração premiada. Reconstrói o instituto com o cuidado que a pressa costuma corromper: lembra que delação não é prova, mas um instrumento para obtê-la — como a ação controlada, a infiltração de agentes ou a interceptação telefônica — e que, por isso mesmo, não pode ser descartada como quem se desfaz de um objeto defeituoso. Se o Estado dela se valeu para colher elementos, reorganizar as investigações, nomear personagens e conectar os fatos, então não pode agora fingir que não houve troca — como se a escada que o levou até o topo pudesse ser chutada depois. Fux reconhece as hesitações, as versões complementadas, as contradições pontuais, mas as lê como imperfeições do humano, não como vícios do negócio. Faz o que o método impõe: calibra os benefícios, mas preserva o pacto, porque o Direito não pode estimular a cooperação e depois punir quem confiou. O que protege o sistema, aqui, não é a severidade, mas a previsibilidade — aquela confiança que permite a um acusado expor sua vida e reputação acreditando que o Estado cumprirá a própria palavra.
No mesmo tom, enfrenta a preliminar de cerceamento de defesa provocado pelo chamado data dump. E aqui talvez esteja um dos momentos mais lúcidos do voto. Fux observa que não se trata apenas de franquear o acesso aos arquivos, mas de assegurar tempo e condições reais para compreendê-los. Porque não há contraditório possível diante de um oceano de dados sem bússola: são dezenas de terabytes de mensagens, áudios, vídeos e documentos lançados às vésperas da instrução, sem índice, sem ordem, com senhas fornecidas depois e novos arquivos incluídos quando os interrogatórios já se realizavam. É o que em meu livro descrevo como a heurística da urgência: o impulso de resolver logo, ainda que à custa do devido processo. Fux recusa esse atalho. Adverte que volume, por si, não viola garantias — o que as viola é o descompasso entre o tempo que a análise exige e o tempo que o juiz concede. E dá um passo além: ao qualificar a falha não só como ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal do Brasil, mas também aos parâmetros do art. 8.2.c da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e do art. 14.3.b do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, ele sugere que a violação pode transcender o plano interno e alcançar a esfera internacional. Ao reconhecer a nulidade, Fux não apenas protege o devido processo: tenta preservar o país da humilhação futura de ser condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por negar aos acusados o tempo e os meios necessários à própria defesa. É um gesto raro, e por isso valioso: lembra que a forma não é obstáculo à justiça; é o que a torna digna desse nome.
Fux inicia a análise de mérito com uma pausa rara — uma espécie de preâmbulo de contenção. Antes de discutir fatos, expõe as premissas teóricas do julgamento e as ancora no que há de mais clássico na tradição penal: Cesare Beccaria, Luigi Ferrajoli, Claus Roxin, Santiago Mir Puig, Karl Engisch, Nelson Hungria. Mas não o faz para citar autoridade: faz para fixar limites. Lembra, com Beccaria, que “nada é mais perigoso do que o axioma de que é preciso consultar o espírito da lei” — porque o “espírito” é volúvel, muda conforme o humor do intérprete, e onde cada juiz inventa um sentido, desaparece a lei. É nesse ponto que o voto mostra sua força: Fux não tenta criar uma teoria para explicar o caso; tenta apenas aplicar a teoria que já existe para verificar se o caso cabe nela.
Importa, neste ponto, precisar a terminologia. Seguindo Barnett (e Whittington), interpretação é identificar o significado público do texto em seu contexto; construção é a etapa final da aplicação do direito, quando se transporta esse significado para o caso concreto por meio de critérios operativos, sem ultrapassar os limites do texto. O juiz legítimo não inventa sentidos: primeiro interpreta; depois, quando o texto é vago ou subdeterminado, constrói a aplicação com autocontenção — à maneira do “silogismo perfeito” de Ferrajoli (premissa maior: norma; premissa menor: fato; conclusão: subsunção). No voto, Fux interpreta ao extrair da Lei 12.850/2013 e da tradição doutrinária os requisitos de estabilidade, permanência e indeterminação para a organização criminosa; e, nos mesmos limites, constrói a aplicação desses critérios ao caso, sem alargar o tipo nem recorrer a analogias in malam partem.
Há aqui um traço que dialoga diretamente com o que defendo em meu livro: o juiz não é um criador de sentidos, mas um mediador entre o texto e o fato. Seu ofício não é fazer justiça com as próprias mãos, mas garantir que o poder punitivo só se exerça nos termos em que foi previamente autorizado pelo legislador. Quando decide que a imputação de crimes determinados não preenche o tipo de organização criminosa — que exige uma série indeterminada de delitos, praticados de forma estável e permanente —, Fux não escolhe um resultado; apenas constata que o resultado pretendido pela acusação não encontra lugar possível no sistema. É interpretação, não vontade. É contenção, não protagonismo.
Com as premissas bem assentadas, inicia-se a construção: Fux desce do plano das ideias ao terreno áspero dos fatos — e faz isso com a serenidade de quem sabe que o método serve justamente para resistir ao ímpeto de punir a qualquer custo. Diante da acusação de que os réus teriam integrado uma organização criminosa armada, ele começa pelo óbvio que quase sempre se esquece: não basta um grupo de pessoas e um plano delitivo para que surja o crime de organização criminosa. É preciso que esse grupo se organize para praticar uma série indeterminada de crimes, de modo estável e permanente, com estrutura hierárquica e divisão de tarefas. Sem esses elementos, não há organização criminosa — há, quando muito, concurso de pessoas.
Essa distinção, que parece meramente técnica, é na verdade uma das linhas de contenção mais importantes do direito penal. Como lembra Nelson Hungria, citado no voto, o delito associativo não se confunde com um acordo ocasional para a prática de crimes determinados: só existe quando os agentes se unem para delinquir reiteradamente, por tempo indeterminado, como uma sociedade de fato voltada ao crime. É o que também ensinam Jesús-María Silva Sánchez, Manuel Cancio Meliá e Guilherme de Souza Nucci (todos mencionados no voto) — e que a Lei 12.850/2013 incorporou expressamente ao exigir estabilidade, permanência, estrutura ordenada e dolo de reiteração delitiva.
Fux então aplica essa moldura ao caso — e o que encontra é silêncio. A denúncia não descreve uma série indeterminada de crimes, mas um punhado de delitos certos, delimitados no tempo e no espaço: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e danos ao patrimônio público. Nada há sobre continuidade, sobre a intenção de manter o grupo coeso para novas práticas, sobre a reiteração indeterminada que caracteriza a societas sceleris. Ao contrário, os fatos narrados são episódicos, com início e fim claramente traçados.
Essa constatação, que poderia parecer trivial, é na verdade o ápice do compromisso de Fux com o método: ele não se pergunta se os fatos são graves (são), se são repugnantes (podem ser), se merecem reprovação moral (talvez mereçam) — pergunta apenas se são compatíveis com o tipo penal invocado. E conclui que não. Ao recusar enquadrar condutas determinadas em um tipo reservado a organizações duradouras, Fux não absolve por benevolência, mas por legalidade: interpreta o texto dentro de seus contornos, em vez de moldá-lo para acomodar os fatos.
Há aqui um gesto silencioso, mas decisivo. Quando o juiz resiste à tentação de adaptar a lei ao caso concreto, reafirma a própria ideia de legalidade estrita como barreira ao arbítrio. Fux mostra que o papel do intérprete não é esticar o texto para caber o fato, mas medir o fato com a forma do texto — e, se não couber, devolver o fato ao legislador, não ao cárcere. É esse gesto, mais do que qualquer eloquência, que preserva a República: dizer “não” quando todos esperam um “sim”.
Na sequência, enfrenta as imputações de dano qualificado e de dano a bem tombado — e, de novo, o método faz diferença. Fux parte do tipo penal como quem toma medidas com régua e compasso: não basta que o bem público tenha sido atingido, é preciso demonstrar o nexo direto entre a conduta do acusado e o resultado danoso, a consciência de que a coisa era pública ou tombada, e, sobretudo, o dolo específico de destruí-la ou deteriorá-la. Sem esses elementos, o que há é tumulto, não dano qualificado; é profanação moral, não ofensa jurídica.
Essa distinção, que pode parecer preciosismo técnico, é na verdade o que separa o Direito Penal do clamor popular. Como lembram Hans-Heinrich Jescheck e Claus Roxin (mencionados no voto), o dolo não é um detalhe periférico: é o núcleo do injusto penal, a barreira que impede o Estado de punir por mera aparência de culpa. Fux retoma esse ponto e observa que o tipo do Código Penal (art. 163, parágrafo único, incisos I a IV) não admite responsabilização por ricochete, como se bastasse estar no meio da multidão para responder pelo estilhaço. O Direito exige individualização — não basta estar próximo do ato, é preciso prová-lo.
No caso concreto, o que emerge dos autos, diz ele, são imagens e laudos que comprovam a destruição — mas não que a imputem a este ou àquele réu, muito menos que revelem o animus de destruir bem público ou patrimônio cultural. A imputação genérica, fundada no mero fato de que estavam lá, não satisfaz o princípio da culpabilidade. E aqui, mais uma vez, Fux interpreta: não remodela o tipo para abarcar os fatos, mas mede os fatos com a forma do tipo.
O gesto parece simples, mas é revolucionário em tempos de justiça simbólica: lembrar que o Direito Penal é pessoal, não coletivo; que culpa não se presume por proximidade; e que nem mesmo a destruição de obras tombadas autoriza que se destrua, junto com elas, a legalidade. Fux mostra que o juiz que resiste à pressão de “dar uma resposta” não absolve por indulgência — absolve por método. E é só por esse caminho estreito, de contenção e rigor, que a jurisdição permanece distinta da política.
Por fim, Fux enfrenta o núcleo dramático da acusação: os crimes de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E, de modo quase contraintuitivo, é justamente aqui que o método mostra seu valor — porque é quando tudo grita por condenação que o juiz precisa sussurrar o texto da lei. O voto lembra: o Código Penal não pune intenções — pune condutas. Fux resgata a estrutura típica desses delitos como quem recompõe um instrumento delicado: não basta a retórica exaltada, não bastam reuniões paranoicas ou ensaios frustrados de conspiração — é preciso ato concreto, idôneo, dotado de potencial real de romper a ordem constitucional, acompanhado do dolo específico de suprimir, pela força, os poderes constituídos. Sem isso, não há golpe: há devaneio, não execução; há discurso, não crime.
Essa leitura, que tantos chamariam de formalista, é, na verdade, o que preserva a fronteira entre interpretação e construção. Fux não molda a lei para alcançar os fatos — mede os fatos com a forma rígida da lei. E faz isso num momento em que o impulso de “dar uma resposta” poderia arrastá-lo àquilo que em meu livro chamei de heurística da plausibilidade: a tendência de preencher lacunas com o que parece provável, ainda que não comprovado. Ele resiste. E, ao resistir, lembra que a Constituição não precisa de heróis — precisa de juízes que saibam dizer “não” quando todos esperam um “sim”.
Fux então desce ao ponto onde a retórica costuma se sobrepor à prova: autoria e nexo. Lembra que o processo penal trabalha com pessoas, não com multidões abstratas. Estar no lugar não é ser o autor; partilhar de uma indignação não é partilhar do dolo; aplaudir não é comandar. O vínculo entre o réu e o fato precisa ser traçado com linhas finas: conduta, contexto, capacidade de contribuição causal e elemento subjetivo. Sem esse desenho, o que há é imputação por contágio — uma forma elegante de responsabilidade objetiva, que a Constituição não tolera.
Resiste, também, ao conforto performático da autoria mediata inflacionada. Reconhece que há situações — poucas e bem delimitadas — em que alguém opera por meio de outrem como instrumento, mas adverte que não se pode presumir domínio do fato só porque o discurso é inflamado ou porque a plateia é grande. Dominar o fato é mais do que influenciar o ambiente: é poder interromper a sequência causal, substituir executores, modular o resultado. Se isso não está provado, o salto da influência para o comando é retórico, não jurídico. É aqui que o método volta a servir de freio: sem atos de direção concreta, sem ordens identificáveis, sem estrutura funcional que submeta vontades, a autoria mediata vira atalho para suprir lacunas probatórias.
No mesmo passo, o voto recupera uma distinção que costuma se perder nos dias de comoção: o que é meio e o que é fim. Quando o dano é apenas instrumento para um crime mais grave — romper o funcionamento dos Poderes, por exemplo —, o sistema penal, por subsidiariedade, não multiplica respostas para a mesma unidade de desígnio. Não é benevolência, é técnica: evita-se punir duas vezes o que integra um único projeto típico. E, quando o bem é tombado, entra a especialidade: a lei ambiental incide como regime próprio, não como adereço cumulativo para inflar penas. Nesses pontos, Fux não inventa categorias; reconduz o caso às que já existem — o que, no meu argumento, é a fronteira entre interpretar e construir.
Volta-se, ainda, ao dolo — não o genérico da turba, mas o específico de cada acusado. O voto insiste que o injusto penal não se mede por probabilidades psicológicas (“devia saber”, “era previsível”) nem por inferências morais (“quem estava lá, concordava”). Exige-se a vontade dirigida ao resultado típico, e essa vontade não nasce por presunção. Aqui, de novo, o método aparece como antídoto contra as heurísticas que denuncio no livro: a da representatividade (tomar um recorte vistoso pelo todo), a da ancoragem (fixar-se em narrativas iniciais) e a do enquadramento (moldar os fatos ao rótulo mais sedutor). Fux recusa essas trilhas curtas: prefere o caminho longo da prova.
Por isso, ao examinar a cadeia probatória, não se contenta com generalidades, compilações massivas ou laudos que não individualizam condutas. Não nega que houve violência e destruição; nega que a soma desses efeitos autorize atalhos probatórios. Se a acusação não mostra quem fez o quê, quando e com que finalidade, não há como sustentar condenações por ricochete. O que sustenta a legitimidade da jurisdição — e essa é a tese que defendo — não é a resposta dura, mas a resposta certa; não é punir mais, é punir dentro.
No conjunto, o voto ocupa um lugar cada vez mais raro no nosso contencioso: o da contenção com método. Não tenta consertar a realidade com o Código Penal nem converter indignação em tipicidade. Interpreta o texto dentro dos seus limites e exige que o fato caiba nele sem forceps. Esse gesto, áspero nos dias de clamor, é precisamente o que mantém a distância necessária entre juiz e político — e, por consequência, entre justiça e vontade. Se o processo penal deve algo à República, é exatamente isso.
Fux abre o mérito pela moldura: o bem jurídico do art. 359-L é o Estado Democrático de Direito. Ao percorrer Przeworski, Dahl, Post, a Stanford Encyclopedia e demais referências, ele não faz um catálogo ornamental; usa essas vozes para fixar fronteiras: democracia não é só voto, é também limites, direitos, canais de participação, rule of law. É a opção correta — e metodológica — por duas razões. Primeiro, porque evita o “espírito da lei” que Beccaria advertiu como porta de entrada para o decisionismo. Segundo, porque substitui slogans por critérios. No meu livro, chamo isso de “ancoragem normativa”: antes de olhar fatos, demarcar o perímetro do tipo com fontes estáveis, para cortar o oxigênio do voluntarismo.
Dessa moldura, Fux extrai uma consequência exigente para o elemento subjetivo: o dolo da abolição não é irritação política nem desapreço retórico; é a vontade dirigida a suprimir — por violência ou grave ameaça — as múltiplas dimensões que compõem o regime (liberdades, separação de poderes, eleições livres, independência judicial etc.), com aptidão real para tanto. Aqui, o voto foge das heurísticas que denuncio no livro — a da plausibilidade (“parece que queriam”) e a da representatividade (um recorte vistoso tomado pelo todo). Dolo não se infere por clima, mas por atos inequívocos e pela crença do agente de elevar a probabilidade do resultado.
Quando Fux sublinha a literalidade do verbo do tipo — “abolir” —, ele fecha outra válvula de escape ao decisionismo: não bastam condutas que apenas enfraqueçam ou constranjam pontualmente instituições; a restrição só conta se for meio idôneo para abolir. Essa leitura bloqueia dois atalhos usuais: (i) transformar grosserias políticas em tentativa de derrubada do regime; (ii) encobrir carências probatórias com a retórica da “defesa da democracia”. No meu argumento, esse é o teste de proporcionalidade tipológica: o fato precisa caber no desenho da norma sem estica-e-puxa.
Daí o papel do art. 359-T (cláusula de resguardo do discurso crítico) e do veto ao art. 359-O: o legislador escolheu preservar a arena do dissenso, inclusive quando desagradável. Fux lê isso como trava interpretativa, não como licença para irresponsabilidade — e está certo. O recado do sistema é claro: se o problema é discurso, o remédio é debate, contraditório público, voto; o punitivo só entra quando o verbo típico (violência ou grave ameaça) aparece como instrumento deliberado e idôneo para suprimir poderes. É a arquitetura que chamei de “subsidiariedade forte”: o Direito Penal não é atalho para governar o que deve ser decidido na política.
Na distinção entre 359-L (abolição) e 359-M (golpe de Estado), o voto opera outra contenção: “depor” não é “autoritarizar-se”. Autogolpe existe e é grave, mas não cabe no 359-M se não há deposição; quando há, o 359-M absorve o 359-L por consunção — a especialidade e a gravidade do meio consomem o fim. O que Fux faz aqui é interpretação, não construção: recusa analogia in malam partem, respeita o núcleo semântico (“depor” = destituir) e aplica a técnica de concurso aparente sem inflacionar respostas penais. No meu livro, isso é a “economia de tipicidade”: punir o bastante, jamais além.
A seguir, Fux encara o ponto que costuma escorregar na comoção: tentativa. Ele reconstrói o iter criminis para separar o que é cogitação e preparação (impuníveis, salvo tipos específicos) do que é ato executório. Exige dupla imediatidade (temporal e de perigo) e idoneidade causal do comportamento para tocar o resultado; exige também o elemento subjetivo contemporâneo — a “resolução de consumar” — e afasta a figura do “dolo superveniente”. Esse trecho é quase um antídoto às heurísticas da urgência e da plausibilidade: converter atas de reunião, bravatas, esboços de minutas ou angariação de adesões em “execução” é confundir intenção com ato. Método é resistir a essa confusão.
No mesmo diapasão, o voto trata do crime omissivo impróprio com a parcimônia que o sistema requer. Não basta o incumprimento de expectativas protocolares (reconhecer derrota, “desmobilizar acampamentos”). É preciso posição de garante, poder fático de evitar o resultado, nexo hipotético de impedimento e dolo omissivo. Ao exigir “controle pessoal” do bem jurídico e demonstrabilidade de que a ação devida teria evitado o evento, Fux evita que obrigações morais se travistam de deveres penais. Aqui, a lente do meu livro — separar moral, política e direito — aparece sem anunciar-se: o que não é jurídico não pode fundamentar pena.
Esse lastro metodológico sustenta a crítica final à amarração entre 2022 e 8/1/2023. O voto reconhece afinidades teleológicas, mas recusa o salto probatório que transforma convergência de objetivos em continuidade executória. A metáfora da “girafa” de Elio Gaspari captura o risco que denuncio como “engenharia reversa”: decidir o efeito e modelar as premissas depois. Fux faz o oposto: mantém a coerência temporal do direito aplicável, protege o juiz natural e só cruza o Rubicão quando prova e tipo caminham juntos.
Em síntese: (i) define com rigor o bem jurídico; (ii) fixa o nível de dolo e de idoneidade exigidos; (iii) preserva a cláusula de proteção ao dissenso político; (iv) distingue golpe de autogolpe e aplica consunção; (v) traça a linha entre preparação e execução; (vi) restringe a omissão imprópria ao que é dever jurídico, não expectativa cívica. Em todos esses passos, ele interpreta — extrai do texto o que o texto contém — e se recusa a construir. É exatamente esse autocontrole que proponho no livro como condição de legitimidade: dizer “não” quando a moldura não autoriza o “sim”.
Com as premissas estabilizadas, Fux passa à etapa final da construção: a análise individualizada das condutas. A régua permanece a mesma — autoria, nexo, capacidade de contribuição causal e dolo — porque o processo penal lida com pessoas, não com multidões, e com fatos, não com climas.
Aplicando esse filtro, absolve Jair Bolsonaro, Almir Garnier Santos, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Augusto Heleno, Anderson Gustavo Torres e Alexandre Ramagem Rodrigues (vencido na preliminar), por ausência de dolo, nexo causal ou prova minimamente suficiente: onde só há cogitação e ruído, o método não encontra crime. Já Mauro Cid e Walter Braga Netto recebem destino diverso: condenados apenas por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, e absolvidos das demais imputações, por se vislumbrar neles início de execução — insuficiente para derrubar a República, mas suficiente para violar a lei.
O voto de Fux reafirma o que parece cada vez mais raro: a distinção entre julgar e agradar. Ao escolher o método em vez do clamor, a forma em vez do impulso, a contenção em vez da performance, ele oferece ao processo penal aquilo que lhe dá legitimidade — e ao país, a lembrança de que o juiz não está ali para responder ao momento, mas para preservar os limites que o texto impõe. Se há coragem nisso, é a de resistir ao protagonismo quando ele seria o caminho mais fácil.
*Leonardo Corrêa – Advogado, LL.M pela University of Pennsylvania, sócio de 3C LAW | Corrêa & Conforti Advogados, um dos Fundadores e Presidente da Lexum.