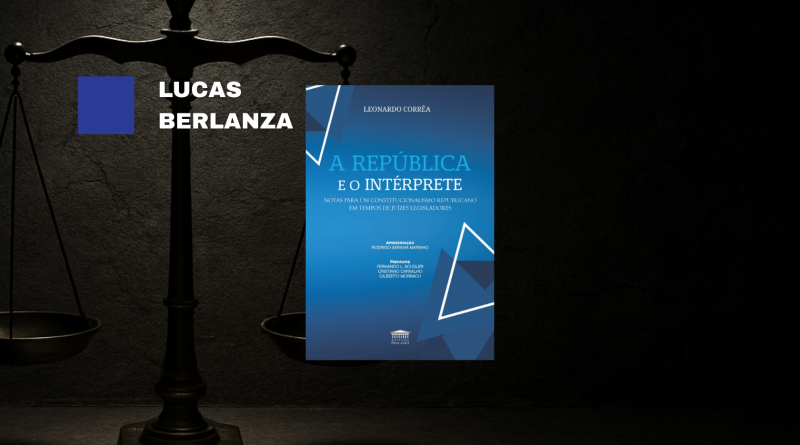“A República e o Intérprete”: uma alternativa para o Direito
Diante da grave enfermidade que acomete o Direito pátrio, em que os julgamentos estão subordinados a aspirações circunstanciais e imprevisíveis dos seus operadores, podemos optar por fazer apenas uma denúncia superficial dos atos de arbitrariedade cometidos e de seus efeitos danosos contra os direitos individuais. Se quisermos, porém, enfrentar efetivamente o problema, precisamos alvejar o seu fundo: trata-se de uma questão de mentalidade, incutida na formação dos profissionais da área.
Tendo entendido isso, nosso amigo Leonardo Corrêa, advogado, antigo colunista do Instituto Liberal e fundador e presidente da Lexum (associação que reúne juristas interessados na defesa do Estado de Direito), lançou-se à busca de “um novo marco teórico para resgatar a segurança jurídica na jurisprudência brasileira”, facultando o acesso a uma “metodologia rastreável – que permita ao cidadão compreender os fundamentos de cada julgamento e projetar seus efeitos” a fim de mudar uma trágica realidade em que inexiste um “compromisso consistente com a integridade, a coerência e a previsibilidade das decisões judiciais”.
Essa busca o conduziu a nada menos que a elaboração de uma teoria própria, reunindo elementos de diferentes teorias de interpretação do Direito, mas sem apoiar-se exclusivamente em uma delas, antes colocando-as em diálogo e procurando demonstrar sua viabilidade no cenário brasileiro. O resultado desse trabalho extremamente original é o corajoso e brilhante livro A República e o Intérprete – Notas para um constitucionalismo republicano em tempos de juízes legisladores, lançado pela editora Processo, com apresentação de Rodrigo Saraiva Marinho e prefácios de Fernando Schüller, Cristiano Carvalho e Gilberto Morbach. Este último, inclusive, reconhecendo o pioneirismo da obra, assume discordâncias em relação às preferências do autor, o que atesta uma das marcas distintivas de Leonardo: a grande abertura ao diálogo.
Ao longo de seus 25 capítulos, a robusta construção teórica parte da constatação de que as concepções do Direito reinantes na juristocracia atual, influenciada pelo neoconstitucionalismo, não caracterizam apenas um problema institucional, mas uma degeneração de parâmetros civilizacionais, ao converterem-se os juízes em autores invisíveis da lei em vez de intérpretes do texto. Esse fenômeno é um tiro de morte no constitucionalismo, cuja premissa reside na limitação do poder dos governantes e na proteção dos cidadãos. Para combater essa mentalidade, a teoria de Leonardo conjuga os seguintes elementos, que me limito a expor sinteticamente:
• O public meaning originalism (originalismo de sentido público), corrente que tem como um de seus grandes representantes o jurista Randy Barnett (n. 1952), influenciado pelo libertarianismo norte-americano, inspirando-se também no jurista anarcoindividualista Lysander Spooner (1808-1887). De acordo com essa concepção, o juiz deve ser um aplicador da norma jurídica, jamais o seu criador. Para tanto, deve se basear, na hora de interpretar o texto constitucional, no sentido que as palavras publicamente possuíam na época em que a Constituição foi consagrada, deixando de lado suas crenças e preferências pessoais. Adota-se, também, a tese da presunção de liberdade, segundo a qual o Estado, incluindo os juízes, deve justificar qualquer restrição à liberdade com base no texto constitucional. Com isso, pretende-se fortalecer uma ordem jurídica capaz de enfrentar três problemas sociais fundamentais: “o problema do conhecimento, que exige regras gerais, públicas e prospectivas; o problema do interesse, que demanda direitos de propriedade bem definidos e transferíveis; e o problema do poder, cuja contenção requer freios institucionais à autoridade coercitiva”. A própria liberdade, a vida e a propriedade são consideradas por Leonardo como direitos naturais e fundamentos do Estado, reconhecidos tradicionalmente pelas Constituições brasileiras, dos quais decorreriam “a busca pela felicidade, a igualdade perante a lei, a liberdade de expressão e o devido processo legal”, ainda que nosso autor se apresse em ponderar que não defende a aplicação imediata desses direitos em uma hipotética substituição ao Direito positivo. Se o juiz puder, ainda que alegue fazê-lo pelas melhores intenções, exercer uma “criatividade” de teor legislativo, não estará realmente limitado pela Constituição, e, portanto, a Constituição não estará cumprindo seu papel de restrição daqueles que governam. Consequentemente, tem-se não apenas a proliferação do arbítrio como a instauração de uma crise profunda de confiança nas instituições. A adoção de uma forma de originalismo de sentido público no contexto brasileiro seria, para Leonardo, “um método para que direitos individuais não sejam dissolvidos por vontades passageiras, por modas institucionais ou por interpretações voluntaristas”. O trabalho de Leonardo enfrenta algumas objeções tradicionalmente suscitadas contra a proposta originalista, distinguindo “interpretação” de “construção”. A primeira, no caso brasileiro, seria o esforço, a ser cotidianamente praticado e respeitado pelos juízes, por determinar o sentido público do texto constitucional aprovado em 1988. A segunda, aplicada a determinados casos em que as realidades contemporâneas imporiam uma aplicação adaptada do texto, efetivamente seria necessária em certas questões judiciais, mas precisaria ser sempre orientada pela presunção de liberdade.
• O textualismo de Antonin Scalia (1936-2016), que, conforme explica Leonardo, “rejeita apelos ao “espírito da norma” quando este contradiz o texto escrito. Se o artigo 196 fala em saúde como dever do Estado, mas não especifica obrigações concretas, o juiz não pode extrair comandos que o texto não contém, como o fornecimento universal de medicamentos. Quem transforma aspirações em normas não interpreta — legisla. E quem legisla do tribunal subverte a democracia, transformando a jurisprudência em um programa de governo e o juiz em um planejador central”.
• A Análise Econômica do Direito, que evidencia os efeitos perniciosos da insegurança jurídica sobre os custos de transação, os litígios, os investimentos e a credibilidade das instituições. O autor se apressa em justificar que não insere essa abordagem em sua teoria para propor que o juiz se preocupe deliberadamente com a eficiência de suas decisões e suas consequências laterais, o que seria uma flagrante contradição com sua linha de raciocínio, mas para lembrar que as decisões jurídicas geram incentivos e que a estabilidade jurídica, conferindo certa previsibilidade aos processos, é o melhor arranjo que se pode perseguir, por oposição às criatividades arbitrárias dos intérpretes judiciais. A isso, Leonardo agrega reflexões inspiradas em autores como Ludwig von Mises (1881-1973), Friedrich Hayek (1899-1992), Hadley Arkes (n. 1940) e Gregory Mankiw (n. 1958), considerando os direitos naturais como “reflexos da lógica econômica da ação humana” e a Constituição, alicerçada neles, como um instrumento que se destina a estabelecer incentivos capazes de “recompensar a liberdade, a responsabilidade e a inovação enquanto pune a coerção e o arbítrio”.
• A tradição jurídica brasileira, de autores como Ruy Barbosa (1849-1923), Celso Bastos (1938-2003), José Afonso da Silva (n. 1925) e Carlos Maximiliano (1873-1960), em uma tentativa de demonstrar que a preocupação em proteger os alicerces do texto constitucional não é alienígena ao Direito nacional. No capítulo XIV, Leonardo emprega uma conjunção das visões de Maximiliano e dos cânones interpretativos desenvolvidos por Scalia e Bryan Garner (n. 1958) para a interpretação estatutária, ferramentas que considera adequadas para fundamentar “uma interpretação centrada no texto legal como norma vinculante”.
• A dialética erística do filósofo Artur Schopenhauer (1788-1860), que, embora concebida para ser um compêndio de estratégias desonestas para vencer disputas retóricas, é empregada aqui com pertinência genial pelo nosso autor, convertida em um código de falácias a serem evitadas na interpretação jurídica.
• As heurísticas que moldariam o julgamento humano, identificadas por Daniel Kahneman (1934-2024) em seu trabalho Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar, apresentadas como uma lista de fontes de distorção a serem evitadas por juízes e árbitros. Leonardo elenca essas heurísticas – por exemplo, a da disponibilidade, que leva o julgador “a superestimar a importância de informações recentes, emocionalmente impactantes ou facilmente acessíveis na memória”, como quando, diante de um caso midiático ou por pressão pública, prioriza-se um suposto “sentimento de justiça” em detrimento do texto constitucional; ou a heurística do viés de confirmação, que leva o julgador “a buscar ou interpretar informações de forma a reforçar suas crenças ou valores prévios”. O autor expõe como o emprego do originalismo como método norteador da interpretação legal poderia equacionar os problemas que tais heurísticas suscitam.
Mobilizando todo esse arsenal teórico em conjunto, Leonardo estuda alguns casos do cenário jurídico brasileiro, como o julgamento da união homoafetiva, o da CPI da Covid, o da ADPF das favelas, entre outros, concentrando-se particularmente nas decisões dos ministros do STF referentemente ao Marco Civil da Internet. Com isso, explicita a aplicabilidade de sua proposta ao drama brasileiro, em que o problema generalizado do ativismo judicial nas democracias ocidentais atingiu um nível extremo de periculosidade cancerígena.
A obra de Leonardo Corrêa é, sem qualquer favor, um dos textos mais importantes publicados nos últimos anos por um brasileiro. Constitui, para mim, uma honra pessoal inestimável ter publicado tantos de seus artigos ao longo de minha atuação como editor e presidente do Instituto Liberal e recomendo vivamente o resultado de seu esforço a todos os interessados em fazer mais do que apenas combater as excentricidades e abusos que vemos, avançando em pavimentar o caminho para uma porta de saída.