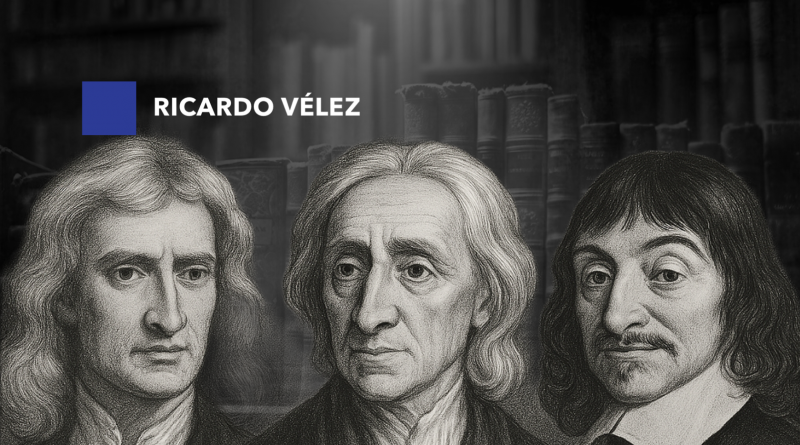John Locke e os ideais liberais de justiça e representação (parte final)
Para ler a terceira parte, clique aqui.
9 – Do comunismo primitivo à propriedade privada.
A tradição bíblica fundamentou, tanto em Locke quanto no seu adversário Robert Filmer, o direito da humanidade aos bens da natureza. Segundo essa tradição, ao homem, enquanto espécie, é facultado o direito de possuir coisas. Não lhe é reconhecido esse direito, no entanto, enquanto indivíduo. Como passa Locke desse comunismo primitivo à propriedade privada? Para dar esse passo, o filósofo postulou que “cada homem tem uma propriedade em sua própria pessoa”, de forma tal que “o trabalho do seu corpo e a obra de suas mãos” lhe pertencem. Conseqüentemente, tudo aquilo que o homem retirar “do estado em que a natureza o proveu e deixou, mistura-o com o seu trabalho (…), transformando-o em sua propriedade” [Locke, 1998: II, § 27, 408-409]. Para Locke é claro que “(…) é o trabalho (…) que estabelece a diferença no valor de cada coisa” Locke, 1998: II, § 49, p. 420-421].
O filósofo, certamente, neste ponto alicerçava-se na valorização do trabalho segundo a religião protestante. Mas o seu arrazoado fundamentava-se, também, na observação do processo econômico, ao conferir um valor ao trabalho que em boa medida supera a simples posse da terra. O texto a seguir é bem elucidativo: “Considere alguém qual é a diferença entre um acre de terra em que se plantou tabaco e açúcar, semeou-se trigo ou cevada, e um acre da mesma terra em comum, sem cultivo algum, e verá que a melhoria do trabalho forma, de longe, a maior parte do valor. Penso que seria um cálculo bem modesto dizer que, dos produtos da terra úteis para a vida do homem, 9/10 decorrem do trabalho, ainda mais, se estimarmos as coisas como chegam para o nosso uso e computarmos as diversas despesas que nelas há, tanto o que nelas é puramente devido à natureza e o que decorre do trabalho, verificaremos que na maioria delas 99/100 serão devidos ao trabalho” [Locke, 1998: II, § 40, 421].
A respeito da originalidade da concepção lockeana acerca do trabalho, frisa Laslett: “(…) Não se pode provar que tenha sido esta uma ideia inteiramente original de Locke, e ela guarda uma afinidade com o dogma tradicional de que o trabalhador teria um direito inalienável a suas ferramentas” [Laslett, 1998: 147, n. 10]. Estas asserções de Locke acerca do valor do trabalho na atividade econômica, constituem “(…) as afirmações de maior repercussão que Locke já proferiu” [Laslett, 1998: 147].
A propriedade, no entanto, na formulação lockeana, não era ilimitada; restringia-se, nas suas origens, ao que o homem e a sua família pudessem consumir ou usar, sendo vedado o desperdício. Estendida sobre a terra trabalhada e os seus frutos, jamais, no entanto, poderia a propriedade ser instrumento de opressão. A respeito, frisa Laslett: “O objetivo da argumentação como um todo é demonstrar que a propriedade não se originou no consentimento comum de toda a humanidade, embora no final se atribua sua distribuição efetiva ao dinheiro, que depende do consentimento, talvez mesmo de um consentimento em nível mundial” [Laslett, 1998: 148].
10 – Da defesa da propriedade à organização política.
A fim de garantir a sua propriedade os indivíduos, no estado de natureza, são levados a abandoná-lo e a estabelecer um poder na sociedade política. O que eles têm a preservar é denominado, por Locke, com o nome genérico de propriedade, mas por tal entende “as vidas, as liberdades e os bens móveis” [Locke, 1998: II, § 123, 495]. Vários autores da época do filósofo, como o pastor e líder puritano Richard Baxter (1615-1691), por exemplo, fazem referência a esse sentido amplo de propriedade, incluindo nele a própria religião protestante, que era reconhecida por lei como a “sua propriedade”. Baxter considerava que “(…) as vidas e liberdades dos homens constituem a parte principal de sua propriedade” [cit. por Laslett, 1998: 149].
A propriedade, quer na sua concepção ampla, quer na restrita, não é protegida a contento nem regulamentada no estado de natureza. Tal circunstância induz os homens a ingressarem em sociedade. A respeito, frisa Locke: “(…) Tal ocorre sempre que qualquer número de homens no estado de natureza entra em sociedade para formar um povo, um corpo político sob um único governo supremo, ou então quando qualquer um se junta e se incorpora a qualquer governo já formado. Pois, com isso, essa pessoa autoriza a sociedade ou, o que vem a ser o mesmo, o legislativo desta a elaborar leis em seu nome, segundo o exija o bem público, a cuja execução a sua própria assistência (como se fossem decretos de sua própria pessoa) é devida” [Locke, 1998: II, § 89, p. 460].
11 – A propriedade confere qualidade política à personalidade.
O filósofo considerava que sobre aqueles (como os escravos) que carecem de propriedades, somente seria possível exercer um poder despótico, não um poder político. “O poder político – frisa – existe apenas (…) quando os homens têm a propriedade à sua disposição” [Locke, 1998: II, § 174, p. 541]. O fato de Locke admitir que a propriedade de objetos naturais misturados no trabalho representasse os direitos abstratos do indivíduo, revela por que esse conceito entrou de forma tão decisiva na concepção da sociedade civil. A propriedade, para o filósofo, simboliza de maneira concreta os direitos do indivíduo, e explicita o alcance e limites dos poderes e atitudes deste. Justamente porque podem ser simbolizados sob a ideia de propriedade, ou seja, como algo que pode ser representado como diferente de si próprio, os atributos humanos (liberdade, igualdade, poder executivo da lei da natureza) podem ser objeto do seu consentimento. Não temos, segundo Locke, o poder de alienar parte alguma de nossas personalidades, mas podemos, sim, alienar aquilo “(…) com que escolhemos misturar as nossas personalidades” [Laslett, 1998:150].
A respeito deste pensamento do filósofo, frisa Laslett: “Pouco importa se era exatamente isso que Locke tinha em vista; evidencia-se, daquilo que em outro lugar ele afirma sobre a sociedade civil em oposição à sociedade espiritual, que ela apenas pode se ocupar dos interesses civis, expressão que, quando examinada, parece equivaler ao termo propriedade, na acepção mais ampla que recebe no Segundo tratado. De certa forma, portanto, é através da teoria da propriedade que os homens podem passar do mundo abstrato da liberdade e igualdade, baseado na relação deles com Deus e a lei natural, para o mundo concreto da liberdade política garantida por acordos políticos” [Laslett, 1998: 150-151].
O peso que a propriedade tem na concepção política de Locke não poderia, segundo a interpretação de alguns estudiosos como Laslett, conduzir à idéia de que ela constitui um direito natural e inalienável, à maneira de uma extensão da personalidade, como por exemplo, pensa o filósofo sueco Karl Olivecrona (1897-1980) [Olivecrona, 1974: XXXV, 2]. Dele diverge Laslett, para quem, na concepção lockeana, “(…) a propriedade é precisamente aquela parte de nossos atributos (…) que podemos alienar, mas, somente, é claro, por nosso próprio consentimento” [Laslett, 1998: 150, n. 15]. O que é líquido e certo em Locke é que, através da teoria da propriedade, o homem passa do mundo abstrato da liberdade e da igualdade (fundamentado na relação dele com Deus e com a lei natural), para o mundo do dia a dia da liberdade política, alicerçada e garantida por acordos políticos.
12 – O direito de propriedade é regulamentado pelo poder legislativo.
Locke deixa claro em seu texto que “(…) nos governos, as leis regulamentam o direito de propriedade, e a posse da terra é determinada por legislações positivas” [Locke, 1998: II, § 50, 428]. Essa afirmação, é claro, deve ser interpretada levando em consideração outros aspectos da doutrina lockeana, como a definição da teoria do valor alicerçada no trabalho e a suposição de que a comunidade conserva um interesse residual na propriedade e até um direito original a ela, (levando em conta que as posses de um indivíduo intestado sem herdeiros revertem para a comunidade).
Destaquemos os aspectos claros da doutrina de Locke a respeito: em primeiro lugar, o objetivo do autor parece ser garantir a posse tranquila, por maior que seja o bem imóvel e o cabedal de bens nele contidos; em segundo lugar, o pensador defende a regulamentação da propriedade por parte do poder legislativo, que representa os interesses dos cidadãos; em terceiro lugar, pressupõe que nas decisões que dizem respeito à regulamentação da propriedade, tem pleno valor o princípio de que nelas, como nas demais decisões governamentais, é necessário o consentimento por parte da maioria da sociedade, através dos seus representantes; em quarto lugar, o teor do arrazoado lockeano é totalmente favorável àqueles que muito têm a perder. O autor, efetivamente, não esconde a sua ansiedade em assegurar que os direitos proprietários não dependem do consentimento universal de toda a humanidade. O texto lockeano deve ser referido à problemática vivida pela sociedade inglesa da segunda metade do século XVII, em que o direito de propriedade era brutalmente questionado pelo absolutismo dos soberanos Stuart. Isso se traduzia, praticamente, numa taxação intolerável e autocrática.
A respeito, frisa Laslett: “Na verdade, não deveríamos esperar que fosse plenamente desenvolvida e coerente uma doutrina da propriedade em sentido amplo, pois uma cuidadosa análise de seu texto parece confirmar o que muitos comentadores sugeriram – ou seja, que o interesse fundamental e predominante de Locke residia na taxação, na taxação arbitrária e em sua iniquidade, e não na propriedade como um tema em si (…)” [Laslett, 1998: 155].
13 – O pacto social, o governo e os poderes públicos.
Para Locke, a passagem do estado de natureza ao de sociedade politicamente constituída pode dar-se de várias formas, sendo a mais comum, historicamente, a ensejada pela superação, mediante consentimento dos envolvidos, da comunidade patriarcal para dar lugar a uma sociedade civil. A comunidade política é, assim, criação de um grupo de seres racionais.
Peter Laslett sintetizou da seguinte forma a parte essencial da concepção política lockeana quanto às origens da sociedade civil: “(…) O sinal inequívoco do surgimento da sociedade civil é quando todos os indivíduos transferiram para a sociedade ou para o corpo coletivo seu poder individual de exercer a lei da natureza e de proteger sua propriedade. Esse é o pacto social, que é justo para todos, uma vez que todos fazem o mesmo sacrifício com vistas aos mesmos benefícios. Instaura-se, com ele, um juiz terreno, dotado de autoridade para resolver todas as controvérsias e reparar os danos que venham a atingir qualquer membro da sociedade política, como passa a ser denominada” [Laslett, 1998: 156-157].
O consentimento dos membros envolvidos é a marca registrada da sociedade civil politicamente organizada. O poder supremo, nessa organização, deve ser o Legislativo, que tem a incumbência de fixar regras de acordo com a lei da natureza, de forma a garantir a liberdade de todos. Esse é um poder também capaz de proferir sentenças, em face das infrações cometidas contra as normas estabelecidas. Com a finalidade de sancionar essas leis e julgamentos, o Legislativo dispõe da força conjunta de todos os membros da sociedade, que constitui o Poder Executivo.
Existe, na sociedade politicamente organizada, uma terceira instância, o Poder Federativo, que é o poder da comunidade política de exercer proteção contra inimigos estrangeiros e também o poder de ela se comunicar com outras comunidades semelhantes, bem como com indivíduos que se encontram ainda no estado de natureza. Locke não propõe um poder judiciário à parte, pois a função de proferir sentenças cabe originariamente ao Legislativo. O filósofo considerava que o ideal seria manter o Executivo e o Legislativo em mãos diferentes. Mas previa, de outro lado, que o chefe do Executivo fosse parte do Legislativo, com a incumbência de convocá-lo e colocá-lo em recesso.
O governo, assim, para Locke, emerge da vontade e do consentimento dos membros associados e deve, sempre, se reportar a eles, sendo de todo ponto de vista inaceitável que, em algum momento, se sobreponha aos membros integrantes da comunidade política.
14 – A Constituição ou o estabelecimento da forma geral do governo e a corrupção do corpo político.
A Constituição representa, para Locke, “(…) a escolha fundamental da sociedade” e dá ensejo ao estabelecimento político da mesma, intimamente ligado à supremacia do Poder Legislativo que representa os interesses dos cidadãos [Locke, 1998: II, § 214, 574-575]. O nosso pensador segue a trilha da filosofia aristotélica a respeito do nascimento da sociedade politicamente organizada. Imagina serem três as formas de organização política. Eis as suas palavras a respeito: “(…) Suponhamos, pois, que o legislativo esteja sob a competência de três pessoas distintas: 1 – Uma única pessoa hereditária que detenha o poder executivo constante e supremo, e com ele o poder de convocar e dissolver os outros dois em períodos determinados de tempo. 2 – Uma assembléia de nobreza hereditária. 3 – Uma assembléia de representantes escolhidos pro tempore pelo povo” [Locke, 1998: II, § 213, p. 574].
Embora as medidas constitucionais aplicadas na época à legislatura inglesa se identificassem mais com a primeira forma de governo descrita, o autor, à maneira aristotélica, reconhece que as outras duas formas são passíveis de concretização em outros meios sociais, pois os homens, ao entrarem em sociedade, fazem-no livremente e livremente escolhem a forma de governo, em sintonia com as suas tradições.
O que é, porém, novo em Locke é, em primeiro lugar, a sua convicção de que o Poder Legislativo deve estar, sempre, sob controle do povo, pelo fato de ser ele o representante dos interesses dos cidadãos. Em segundo lugar, que cabe ao Poder Legislativo a supremacia entre os outros poderes públicos. Um terceiro elemento vem-se somar aos dois que acabam de ser mencionados, na concepção lockeana: no seio do Legislativo deve prevalecer a vontade da maioria, pois o Estado não é, apenas, um poder legítimo mas é, fundamentalmente, um corpo coletivo que somente se movimenta para onde se inclina a massa mais numerosa dos seus membros.
Pelo fato de ser um corpo coletivo, o Estado não pode ser reduzido a um poder de família, como se constituísse atributo ou propriedade de alguns. Mais uma vez o nosso pensador se aproxima, aqui, da doutrina aristotélica, segundo a qual os governos se corrompem quando os que mandam passam a agir em função exclusiva dos seus próprios interesses, se esquecendo do bem da maioria. Quando tal doença se apodera do corpo político, quando os que mandam deixam de ser fiéis depositários (trustees) do poder que os cidadãos lhes conferem, este volta ao seio do povo, que pode colocá-lo, então, em outras mãos, como fizeram os Ingleses em 1688, quando o Parlamento, apoiado pelas forças de Guilherme III de Orange, destituiu o rei Jaime II e entregou a coroa ao próprio Guilherme e à sua esposa Maria, que ao jurarem fidelidade à nova Carta, deram ensejo à Monarquia Constitucional.
Segundo o filósofo, os homens que decidiram integrar o corpo político aderiram livremente a ele, com a finalidade de preservar as suas propriedades. Locke destaca que, como criaturas racionais, não podemos submeter as nossas pessoas a ninguém. No entanto, quando os homens, para preservarem as suas propriedades (vida, liberdade e posses), desistem de exercer por si mesmos o poder executivo da lei da natureza, num pacto de confiança entregam esse poder ao Estado. “(…) E assim, – frisa o nosso pensador – a sociedade política passa a ter o poder de estabelecer qual punição, segundo seu julgamento, caberá às diversas transgressões cometidas entre os membros dessa sociedade (o que é o poder de elaborar leis), assim como tem o poder de punir qualquer dano cometido contra qualquer um dos seus membros por alguém que não pertence a ela (o que é o poder de guerra e paz), e tudo isso para a conservação da propriedade de todos os membros dessa sociedade, tanto quanto seja possível” [Locke, 1998: II, § 88, 459].
Os julgamentos efetivados pelo Estado são, assim, os próprios julgamentos de quem se acolheu ao contrato de sociedade e ao pacto político, “(…) tendo sido pronunciados por ele mesmo ou por seu representante” [Locke, 1998: II, § 88, 459].
15 – Contrato social, pacto de confiança e dissolução do governo.
O filósofo estabelece uma distinção básica entre contrato social e pacto de confiança. O contrato social, segundo Locke, é o acordo voluntário original que tira os homens do estado de natureza e os coloca em sociedade. Consiste num “(…) acordo mútuo e conjunto de constituir uma comunidade e formar um corpo político” [Locke, 1998: II, § 14, 393]. Em virtude desse acordo, frisa, “(…) todo homem, ao consentir com outros em formar um único corpo político sob um governo único, assume a obrigação, perante todos os membros dessa sociedade, de submeter-se à determinação da maioria e acatar a decisão desta” [Locke, 1998: II, § 97, 470].
Conseqüentemente, afirma, “(…) o que inicia e de fato constitui qualquer sociedade política não passa do consentimento de qualquer número de homens livres capazes de uma maioria no sentido de se unirem e incorporarem a uma tal sociedade. E é isso, e apenas isso, que dá ou pode dar origem a qualquer governo legítimo no mundo” [Locke, 1998: II, § 99, 472].
Diferente do contrato social é o pacto de confiança mediante o qual, a comunidade política constituída delega em mãos de um fiel depositário (Trustee, termo entendido por Locke como “fideicomisso de propriedade”) o poder para constituir o Estado [cf. Laslett, 1998: 167]. Esse pacto de confiança estabelece temporalmente o governo. Quando ele deixar de cumprir com a finalidade para a qual foi estabelecido (zelar pela vida, liberdade e bens dos cidadãos), o poder volta às mãos do povo que pode indicar um novo depositário do mesmo. O poder constituído deve ser o Legislativo, que representa os interesses dos cidadãos.
As palavras do filósofo a respeito são claras: “Embora numa sociedade política constituída, assentada sobre as suas próprias bases e agindo de acordo com sua própria natureza, ou seja, para preservação da comunidade, não possa haver mais de um único poder supremo, que é o legislativo, ao qual todos os demais são e devem ser subordinados, contudo, sendo apenas ele um poder fiduciário para agir com vistas a certos fins, cabe ainda ao povo um poder supremo para remover ou alterar o legislativo quando julgar que este age contrariamente à confiança nele depositada. Pois, como todo poder concedido em confiança para se alcançar um determinado fim, está limitado por esse mesmo fim, sempre que este é manifestamente negligenciado, ou contrariado, o encargo confiado deve necessariamente ser retirado (”Forfeited” no texto original) e voltar o poder às mãos daqueles que o concederam, que podem depositá-lo de novo onde quer que julguem ser melhor para sua garantia e segurança (…)” [Locke, 1998: II, § 149, p. 517-518].
Transpondo para a sua teoria política a experiência inglesa, o nosso autor destaca que, embora o Legislativo seja sempre o supremo poder, a sua convocação e a rápida deliberação acerca das decisões político-administrativas recaem sobre o Executivo. Este, no entanto, jamais pode se sobrepor ao Legislativo, que é, sempre, o poder supremo [Locke, 1998: II, § 156, 524-525].
É claro, portanto, para Locke, que o governo pode ser dissolvido quando deixa de zelar pelo bem de todos. A respeito, frisa: “Os governos são dissolvidos (…) quando quer o legislativo, quer o príncipe agem contrariamente ao encargo que lhes foi confiado” [Locke, 1998: II, § 221, 579].
Nesta passagem, Locke arremata assim o seu arrazoado, destacando o peso fundamental do critério que o povo utiliza para depor governos corruptos: “Em primeiro lugar, o legislativo age contrariamente ao encargo a ele confiado quando tenta violar a propriedade do súdito e faz a si, ou a qualquer parte da comunidade, senhor ou árbitro da vida, liberdade ou bens do povo”. O juiz é, sempre, para o nosso pensador, o povo, o único depositário perene do poder e da soberania. Pode haver casos em que os governos corruptos decidam lutar para se manterem sobranceiros ao povo. Nesses casos, o apelo final é dirigido a Deus, mediante a revolução.
Conclusão: O significado da obra de Locke para o Pensamento Brasileiro e o equacionamento do ideal da Justiça.
O estudo da obra de John Locke reveste-se de particular importância na meditação brasileira. A nossa cultura ficou presa ao patrimonialismo herdado dos ancestrais. Somente poderemos nos libertar dessa pesada herança mediante a crítica de idéias. E, nessa empreitada, hoje, somente o estudo aprofundado do Liberalismo pode fornecer aos nossos jovens a possibilidade de renovação das suas convicções políticas.
Termino citando as palavras do mestre Antônio Paim (1927-), na sua obra O liberalismo contemporâneo : “A tarefa mais importante com a qual se defronta a liderança brasileira consiste em retomar os laços com o pensamento liberal dos principais países. Desde o seu nascedouro até mais ou menos os anos trinta, mantivemos estreito contato com a temática e os autores liberais destacados. A partir de então o ideário patrimonialista tradicional assumiu feição socialista e ocupou todos os espaços e os postos relevantes da cultura. De seu largo predomínio, durante cerca de meio século, resultou a virtual esterilização das mentalidades, cujo patrimônio intelectual reduz-se hoje a meia dúzia de lugares comuns. Apanhados de surpresa com o fim da experiência socialista européia, teimam em desconhecer a obsolescência do marxismo. Assim, a linha de frente de nossa intelectualidade está completamente perdida, voltada e devotada ao passado e às suas propostas ultrapassadas. Somente o liberalismo tem algo a dizer à nossa juventude e às gerações do futuro”.
Bibliografia.
AYERS, Michael [2000]. Locke: ideias e coisas. (Trad. de J. O. de Almeida Marques). São Paulo: UNESP. Coleção “Grandes Filósofos”.
BAYLE, Pierre [2010]. Escritos sobre Spinoza y el spinozismo. (Edição, introdução e tradução de P. Lomba). Madrid: Editorial Trotta.
BOBBIO, Norberto [1998]. Locke e o direito natural. 2ª edição. (Tradução de Sérgio Bath; tradução das expressões latinas de Janete Melasso Garcia; revisão técnica de Dourimar Nunes de Moura). Brasília: Editora da Un. B.
FERNÁNDEZ Santillán, José F. [1992]. Locke y Kant – Ensayos de filosofía política. (Apresentação de M. Bovero). México: Fondo de Cultura Económica.
GOLDWIN, Robert A. [2019]. “John Locke”. In: STRAUSS, Leo e Joseph CROPSEY. História da Filosofia Política. (Trad. de H. Gonçalves Barbosa). Rio de Janeiro: Forense / Grupo Editorial Nacional (GEN). Pp.427-458.
GRONDONA, Mariano [2000]. Pensadores da Liberdade: de John Locke a Robert Nozik.(Trad. de U. de Macedo). São Paulo: Mandarim.
HEGEL, Georg Friedrich Wilhelm [1980]. Introdução à história da Filosofia. 4ª edição. (Tradução de A. Pinto de Carvalho Prefácio de J. de Carvalho). Coimbra: Arménio Amado.
HILL, Cristopher [1983]. El mundo transtornado – El ideario popular extremista en la Revolución Inglesa del siglo XVII. (Tradução ao espanhol de Mª. del Carmen Ruiz de Elvira). Madrid: Siglo XXI de España.
HUME, David [1975]. Sumário do Tratado da Natureza Humana. (Tradução, introdução e notas de A. Aiex). São Paulo: Companhia Editora Nacional.
HUME, David [1984]. An Enquiry concerning the Principles of Morals. (Edição e Introd. A cargo de J. B. Schneewind). Indianapolis / Cambridge: Hacket Publishing Company.
LASLETT, Peter [1998]. “Introdução”. In: LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo.(Tradução de Julio Fischer; introdução de Peter Laslett). São Paulo: Martins Fontes, pp. 1-183.
LOCKE, John [1954]. Essays on the Law of Nature. (Introdução e edição a cargo de Von Leyden). Oxford: Clarendon Press.
LOCKE, John [1967]. Constitutions Fondamentales de la Caroline. (Introdução, tradução ao francês e notas a cargo de B. Gilson). Paris: Vrin.
LOCKE, John [1973]. Ensayo sobre el gobierno civil. 1ª edição. (Tradução ao espanhol de A. Lázaro Ros; introdução de L. Rodríguez Aranda). Madrid: Aguilar.
LOCKE, John [1978a]. Carta acerca da tolerância. (Tradução de A. Aiex). In: LOCKE, John. Locke. 2ª ed. São Paulo: Abril Cultural, pp. 1-29.
LOCKE, John [1978b]. Ensaio acerca do entendimento humano. (Tradução de A. Aiex). In: LOCKE, John. Locke. 2ª ed. São Paulo: Abril Cultural, pp. 133-344.
LOCKE, John [1978c]. Segundo tratado sobre o governo. (Tradução de E. Jacy Monteiro). In: LOCKE, John. Locke. 2ª ed. São Paulo: Abril Cultural, pp. 31-131.
LOCKE, John [1998]. Dois tratados sobre o governo. (Tradução de Julio Fischer; introdução de Peter Laslett). São Paulo: Martins Fontes.
LOCKE, John [1999]. Lettre sur la Tolérance.(Texte Latin. Introduction et traduction française de R. Polin; édition critique et Préface de R. Klibansky). Paris: Quadrige / PUF.
LOCKE, John [2012]. Alguns Pensamentos Sobre a Educação. (Tradução de M. Requixa). Coimbra: Edições Almedina.
LOCKE, John [2013]. Que faire des pauvres?(Tradução francesa, do inglês, por L. Bury; apresentação de S. Milano). Paris: Presses Universitaires de France.
MICHAUD, Ives [1991]. Locke. (Trad. de L. Magalhães). Rio de Janeiro: Zahar.
OLIVECRONA, Karl [1974]. “Locke on the Origin of Property”, Journal of the History of Ideas, XXXV, 2, 1974.
PAIM, Antônio [1987]. “A formulação inicial do Liberalismo na obra de Locke”. In: Antônio Paim (organizador). Evolução histórica do Liberalismo. Belo Horizonte: Itatiaia. Coleção “Biblioteca de Cultura Humanista”.
PAIM, Antônio; SOUZA, Francisco Martins de [1996]. Introdução histórica ao Liberalismo: Volume I – Formulação inicial na obra de Locke e Kant. Rio de Janeiro: Editoria Central da Universidade Gama Filho.
PAIM, Antônio [1997]. História das ideias filosóficas no Brasil. (1ª ed., 1967); 5. ed. Londrina: Ed. UEL. (Prêmio Instituto Nacional do Livro de Estudos Brasileiros, 1968; Prêmio Jabuti-85 de Ciências Humanas, concedido pela Câmara Brasileira do Livro, 1985).
PAIM, Antônio [2007]. O liberalismo contemporâneo. 3ª. Edição. Londrina: Edições Humanidades.
POMEAU, René [1988]. La Europa de las luces – Cosmopolitismo y unidad europea en el siglo XVIII. (Trad. de J. José Utrilla). México: Fondo de Cultura Económica. Coleção “Breviarios”.
RODRÍGUEZ Aranda, Luis [1973]. “Introducción”. In: LOCKE, John. Ensayo sobre el gobierno civil. 1ª edição. (Tradução ao espanhol de Amando Lázaro Ros; introdução de Luis Rodríguez Aranda). Madrid: Aguilar, pp. XI ss.
SILVA, Pedro Eduardo Batista F. da [2015]. “James Harrington e a tradição republicana na Inglaterra do século XVII”.https://doi.org/10.26512/emtempos.v0i26.14803[consultado em 27-10-2020].
SOUZA, Paulo Clinger de [2003]. A dialética da liberdade em Locke. (Prefácio de José Maurício de Carvalho). Londrina: Editora da Universidade Estadual de Londrina.
SOVERAL, Eduardo Abranches de [1991]. “Locke (John)”. In: CABRAL, Roque, Antônio PAIM et alii. Logos – Enciclopédia Luso-brasileira de Filosofia. Lisboa / São Paulo: Editorial Verbo, vol. 3, pp. 439-444.
SPINOZA, Baruch de [1988].Correspondencia. (Introdução, tradução, notas e índices a cargo de A. Domínguez). Madrid: Alianza Editorial. Coleção “El libro de Bolsillo”.
VÉLEZ Rodríguez, Ricardo [1978]. Liberalismo y conservatismo en América Latina. Bogotá: Tercer Mundo. Colección “Universidad y Pueblo”.
VÉLEZ Rodríguez, Ricardo [1987]. “Politischer Messianismus und Theologie der Befreiung”. In: HOFMANN, Rupert (organizador). Gottesreich und Revolution. Münster: Verlag Regensberg, pp. 57-74.
VÉLEZ Rodríguez, Ricardo [1995]. Tópicos especiais de filosofia moderna, Juiz de Fora: Editora da UFJF; Londrina: Editora da UEL.
VÉLEZ Rodríguez, Ricardo [1998]. A democracia liberal segundo Alexis de Tocqueville. São Paulo: Mandarim.
VÉLEZ Rodríguez, Ricardo [2000]. Estado, cultura y sociedad en la América Latina. Bogotá: Editora de la Universidad Central. Colección “30 años de la Universidad Central”.
*Artigo publicado originalmente no site do autor.