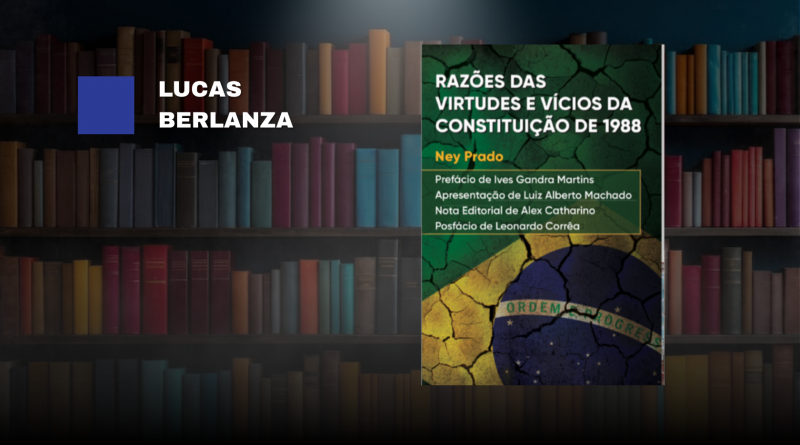“Razões das Virtudes e Vícios da Constituição de 1988”: resgatando a lucidez de Ney Prado
Como segundo volume a ser enviado aos participantes de sua campanha para membros colaboradores, o Instituto Liberal relançou a obra Razões das Virtudes e Vícios da Constituição de 1988, de autoria do jurista Ney Prado (1929-2019), originalmente editada pela Inconfidentes em 1994 sob os auspícios do antigo Instituto Liberal de São Paulo. A nova edição do clássico tem prefácio de Ives Gandra Martins, apresentação de Luiz Alberto Machado, nota editorial de Alex Catharino, posfácio de Leonardo Corrêa e comentários de contracapa de Rodrigo Saraiva Marinho e Thiago Rafael Vieira.
Ney Prado frequentava os círculos dos Institutos Liberais dos anos 80 e 90, foi professor de Ciência Política na FGV, chefe da Divisão de Estudos Políticos do Colégio Interamericano de Defesa em Washington e professor-emérito da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, pertencendo a muitas outras organizações e portando diversas outras titulações. Sua relação com o tema da Constituição brasileira teve início quando integrou a Comissão Afonso Arinos, que apresentou um anteprojeto, na visão de nosso autor, tendente para o socialismo. Inconformado, Ney Prado denunciou a proposta na Revista Manchete, contribuindo para o seu abandono.
A pequena obra que o Instituto Liberal resgatou, respeitando essencialmente o texto original, é, como explicita o título, uma apreciação crítica do que há de positivo e do que há de negativo na Carta Magna oficialmente em vigência no Brasil – diga-se “oficialmente”, porque, na prática, sabemos bem que nossas autoridades tem ignorado os parâmetros constitucionais de maneira progressivamente intolerável. A análise de Ney Prado, porém, ao constatar, entre os problemas, a tendência autocontraditória do texto, leva-nos a ponderar que a estrutura formulada pela própria Constituição, ao menos em parte, ensejou o caos a que as autoridades togadas contemporâneas a submeteram.
Em sua introdução, Ney Prado define a Constituição de 88 como “um documento provocativo inegavelmente criativo, mas, por suas características, desestabilizador da vida nacional”. Diz-nos o autor que essa Constituição “provocou enorme insegurança jurídica, dificultou a governabilidade, inibiu os negócios e investimentos internos e externos, sem falar nos conflitos sociais que gerou”. Embora admitindo a impossibilidade de afastar por completo as suas subjetividades, Ney Prado enunciou pretender que sua análise considerasse dados objetivos, extraídos da realidade, à luz das consequências que efetivamente o texto constitucional estivesse provocando “nos mundos jurídico, político, econômico e social” nos cinco anos em que tinha estado em vigor até a publicação do livro.
A tese do jurista – aliás, a mesma de seu amigo Roberto Campos, notável liberal mato-grossense que provavelmente é o autor mais citado no decorrer da obra – é de que não teria sido necessário fazer uma nova Constituição para o Brasil, bastando modificar a Constituição anterior, em vigência durante o regime militar, dado que não houve nenhuma revolução ou ruptura drástica para promover a abertura política. Uma “doença” que Ney Prado e Campos chamam de “constitucionalite” levou a que o país optasse pelo caminho do total redesenho do Estado brasileiro, o que teve consequências dramáticas para a nova etapa da vida nacional.
São nove as virtudes que Ney Prado enxerga na Constituição brasileira, que me limito a sintetizar:
O simbolismo: Refere-se ao mero fato, em si mesmo, de ela representar uma aspiração da sociedade brasileira por um regime de liberdade política.
Os princípios: Para Ney Prado, uma série de princípios inseridos no texto constitucional, fossem os fundamentais, fossem os setoriais – como os relativos à administração pública -, forneceria orientações positivas para a aplicação do texto constitucional.
A sistematização: O autor considera que a organização formal da Constituição é meritória, elencando os temas em ordem bem disciplinada e começando por se referir à nação e à pessoa humana em primeiro lugar para abordar o Estado propriamente dito na sequência, como que a sugerir que a nação e a pessoa humana seriam mais importantes.
A forma inovadora: A Carta Magna leva em consideração de maneira mais aprofundada, em sua estrutura, a importância dos interesses, indo além da divisão apenas em interesses públicos e privados, decorrente do Direito Romano.
A democracia: A rigor, a Constituição brasileira prevê um regime que admite mais participação política do que o anterior, ainda que, como Ney Prado mesmo afirma, as instituições merecessem revisão que pudesse “melhor servir à fiscalização dos poderes, à provedoria da justiça em todos os níveis e, particularmente no Poder Executivo, à realização dos princípios fundamentais da administração pública”. Infelizmente, nos últimos anos, a previsão claramente democrática da Constituição não se mostrou suficiente para frear a hipertrofia autoritária do Judiciário.
A moralidade: A Constituição se preocuparia, além da estrita legalidade, com a licitude, o que Ney Prado via como positivo para a fiscalização da moralidade administrativa. Gostaria de concordar com esse ponto, mas não me parece que tenha tido muitos efeitos práticos…
O federalismo: O autor enaltece o reconhecimento da federação e de competências aos estados e municípios, porém, lamenta que a redução dos recursos financeiros da União, isto é, do poder central, não tenha sido acompanhada de uma transferência de encargos. Infelizmente, esse arranjo não era sustentável, e, com o passar dos anos, a dependência de estados e municípios em relação à União aumentou profundamente, sendo hoje um dos grandes “gargalos” do Brasil a necessidade de rever o pacto federativo.
O meio ambiente: Ney Prado considera um avanço o legislador constitucional se preocupar com a sanidade ambiental. Ainda que considere o tema de suma importância, tendo a discordar do autor nesse ponto e não julgar que ele deveria ser objeto de previsões constitucionais.
As instituições jurídicas: O autor entende que a Constituição define adequadamente os recursos à disposição governamental para a defesa do Estado e das instituições e disciplina adequadamente as Forças Armadas. Infelizmente, nada do que consta da Constituição foi suficiente para determinar freios ao autoritarismo vigente na cúpula do Judiciário.
Os vícios da Constituição, aos quais se dedica espaço muito maior na obra, na opinião de Ney Prado, seriam os seguintes:
A ilegitimidade: Não tendo havido nenhuma ruptura violenta, o Congresso poderia efetuar reformas no texto constitucional então vigente para comportar o retorno da democracia, sem qualquer necessidade de uma nova Assembleia Nacional Constituinte. Também se postula que a Constituinte não foi exclusiva, isto é, eleita apenas para esse fim, mas formada pelo próprio Congresso, integrado, inclusive, por “senadores biônicos”, eleitos indiretamente em 1982.
A inautenticidade: A Constituição se desenvolveu tomando emprestados diversos arranjos jurídicos estrangeiros, notadamente do constitucionalismo português de índole marxista, inspirador do modelo de “Constituição-dirigente”, que se propõe a ser muito mais do que um texto limitador do poder e passa a ser um grande programa de manifestação política, quase um manifesto. Além da cópia irrefletida de modelos, nossa Constituição não acompanhou a evolução do próprio constitucionalismo português. Conforme Ney Prado, “pusemos na nossa Constituição tudo o que os portugueses acabaram por extirpar de sua própria Constituição”.
O retrocesso: Os constituintes caminharam, segundo Ney Prado, na contramão da História, ignorando as transformações da globalização econômica e tecnológica.
Os preconceitos: Ney Prado enxerga no texto de 1988 uma obsessão em declarar sua aversão ao regime anterior muito maior do que a de preparar o futuro. Com isso, criou reveses desnecessários. Por exemplo, na opinião de nosso jurista, o ódio contra as Forças Armadas ensejou a extinção do sistema de informação: “para punir os abusos do passado, desarmou-se o Estado contra o terrorismo, o banditismo ideológico, as quadrilhas de corrupção política e dos costumes e até contra atividades de inspiração política externa contrárias aos interesses nacionais”. O preconceito alcançaria também, naturalmente, o empresariado e o capital estrangeiro.
O casuísmo: Refere-se ao excesso de regulações e tentativas de prever todas as hipóteses e assuntos em seu conteúdo, inclusive tudo que poderia ser definido por leis complementares e ordinárias.
As contradições: Refere-se aos paradoxos tanto entre os valores adotados pelos constituintes quanto entre as normas positivamente registradas no conteúdo do texto.
A insuficiência do inacabado: O texto da Constituição de 1988 estabelece diversas determinações que apontam para uma complementação posterior por leis complementares, do que resulta que o constituinte “se livrou” desses temas, mas quis deixá-los na Carta Magna, fator ensejador de grande confusão.
A transitoriedade: A Constituição dispõe de um Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, contendo “vacilações inéditas” e determinando uma revisão constitucional em cinco anos. Conforme sintetiza Ney Prado, “em cento e sessenta quatro anos de experiência constitucional, jamais tivemos uma Constituição que não afirmasse a estabilidade jurídica como seu produto e, para isso, não afirmasse a própria estabilidade como pressuposto”.
A tendência utópica: Refere-se à sua pretensão de ser, em si mesma, um instrumento de transformação social mais do que uma carta de restrição dos poderes constituídos, bem como a seu completo divórcio da realidade.
A tendência demagógica: Refere-se ao populismo dos constituintes, contaminados pela atmosfera política na feitura do texto constitucional.
O corporativismo: Trata-se de agravamento de característica que já existia nas Constituições anteriores, contemplando demandas de uma série de grupos de pressão.
A tendência socialista: Ney Prado identifica diversos aspectos socializantes na Constituição, restringindo direitos de propriedade e afetando lucros, produção e a iniciativa pessoal no campo econômico.
A tendência estatizante: A Constituição de 1988 apenas reforçou a tendência estatista presente na cultura política brasileira, aumentando o papel do Estado sobremaneira “nos campos da ciência, da tecnologia, da cultura, da arte, do esporte e do lazer” e consagrando monopólios e demais intervenções econômicas.
O paternalismo: Refere-se ao vício de louvar o Estado como protetor dos oprimidos, ampliando suas esferas de atuação nas relações entre os indivíduos.
O assistencialismo: Ney Prado alveja o excesso de ocupação com os chamados “direitos sociais”, em total indiferença aos imperativos da própria realidade.
O exagerado fiscalismo: O aumento de atribuições e responsabilidades do poder público estimula o crescimento da burocracia e a voracidade fiscal.
As consequências recessivas: Refere-se às implicações para a economia brasileira das características intervencionistas, paternalistas, assistencialistas e fiscalistas do modelo de Estado consagrado pela Constituição de 1988.
A invencível xenofobia: Mencionando os desvarios da chamada Teoria da Dependência, que enxergava o Brasil e as nações subdesenvolvidas como constantes vítimas, Ney Prado reservou um destaque final a medidas constitucionais que explicitamente rejeitam o concurso econômico estrangeiro.
Nosso autor conclui sua crítica sustentando que “a atual Constituição tem virtudes e vícios – na verdade, mais vícios do que virtudes. Mas uma conclusão nos parece irrefutável: ela está longe de representar o instrumento juspolítico que garanta ao país uma democracia estável e um desenvolvimento autossustentado”. A História provou que ele tinha razão e que mesmo as virtudes que apontou na Constituição, em boa medida, degenerariam, na prática. O convite de Ney Prado é para que a sociedade brasileira e os ocupantes dos poderes constituídos recepcionem suas críticas e trabalhem, não pela desobediência civil ou pela rebelião armada, mas pelo esforço consciente por reformar a Constituição para adequá-la à realidade. Seu remédio para o texto de 1988 não diferia do remédio que queria para o de 1967: transformação, não ruptura total. Resta saber, diante dos profundos dramas contemporâneos, se essa solução será possível.