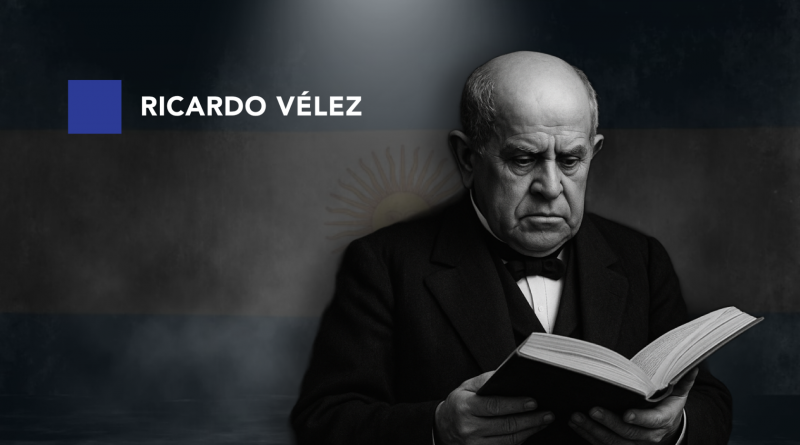Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888) e o patrimonialismo argentino (segunda parte)
Para ler a primeira parte introdutória, clique aqui.
4 – Simpatia de Sarmiento pelos Estados Unidos.
Sarmiento professava uma indiscutível simpatia pelos Estados Unidos. Ao término da sua permanência nesse país como representante diplomático da Argentina, tomou iniciativas claramente simpáticas à Nação do Norte, embora, na prática, terminasse se esquecendo dos interesses econômicos do seu país. Os Americanos, como de praxe, sobretaxavam os produtos argentinos e o nosso autor simplesmente não tomou conhecimento desse problema, a julgar pelo que afirma Manuel Gálvez [18]: “Como se aproximava o término de sua missão diplomática, era necessário enumerar o que tinha feito. Lançou a ideia de que se ensinasse o espanhol nos Estados Unidos, nas escolas. Tratou de que professores, mestres e homens de ciência visitassem a Argentina. Enviou livros que considerava muito úteis para o ensino. Pagou a viagem de um oficial de engenheiros, a fim de que fosse empregado no Paraguai. Apresentou vários informes ao governo argentino, um dos quais tratava acerca das concessões de terras às empresas de estradas de ferro. E propôs a arbitragem na resolução de conflitos internacionais. Pena que, por estar às voltas com as suas iniciativas culturais e se corresponder com a sua amiga (a norte-americana Mary, que conheceu quando se desempenhava como embaixador da Argentina), tivesse esquecido assuntos importantes: o enorme imposto às nossas lãs, vigente então ali, e que ocasionou a ruína desse ramo de nossa indústria. Segundo um jornal, o descuido de Sarmiento representou para o país a perda de 150 milhões de pesos fortes, ou seja, de três mil e setecentos e cinqüenta milhões de pesos-papel”.
O entusiasmo do nosso autor por tudo quanto se relacionasse aos Estados Unidos era evidente, e foi registrado na época pela imprensa de Buenos Aires, que o chamava de “argentino ianque”, identificando-o “como o mais ianque entre os argentinos e o mais argentino entre os ianques” [19]. O seu pró-americanismo chegava, às vezes, às raias da candura, sobretudo quando pensava em realizações no terreno educacional. Sintetizando as entusiásticas propostas de Sarmiento, frisa Manuel Gálvez:
Também deve ser marcado um lugar especial na sua obra, no que diz relação ao nosso ianquizamento. Falou em fundar uma universidade americana em San Juan. Propôs a Mary [sua amiga americana] fazer nomear seu irmão Superintendente das Escolas e o seu filho, caso ele chegasse ao poder, reitor de uma Universidade. Pediu ao Ministro da Instrução Pública fundar uma Escola Normal em San Juan e encarrega-lo da sua organização, com professores norte-americanos. Num discurso sobre a Doutrina Monroe, afirmou que os Estados Unidos “têm o direito de resguardar os arredores do Santo Berço de um mundo novo e proteger os cristãos desta parte do Ocidente”. E, no mesmo discurso, preconizou uma invasão da América Espanhola por mestras de escola americanas. Opina que a Young Men Christian Association, instituição protestante e anticatólica, será um ‘bom modelo para organizações semelhantes’ na Argentina. Propõe fundar ‘escolas de Boston’ e até uma Universidade de Cambridge com professores do Harvard College, utilizando os fundos produzidos pelas minas de San Juan. Propôs que, nos conflitos entre a Argentina e os Estados Unidos, se recorresse à arbitragem e que o âmbito fosse (…) a Suprema Corte dos Estados Unidos (…). Em abril de 1868, esquecendo o que os Estados Unidos fizeram e estavam fazendo ainda no México (…), escreve: “Com emigrados da Califórnia está se formando no Chaco uma colônia norte-americana que prospera admiravelmente e estão muito contentes. Pode ser a origem de um território e, algum dia, de um Estado ianque” [20].
Sarmiento, de origem humilde e pobre, autodidata, amante da liberdade, lutador contra a opressão do tirano Rosas, aspirava a ser um educador e um intelectual reconhecido pelo mundo afora. Daí por que, quando a Universidade de Michigan lhe concedeu o título de doutor honoris causa, em 1868, (honra pela qual tinha lutado durante a sua permanência nos Estados Unidos), ficou visivelmente emocionado. Em tom um tanto irônico, Manuel Gálvez registrou esse momento:
“ Ann Harbour. Vá ali por acaso. Ali fica a Universidade do Estado de Michigan. Assiste a um ato público, à esquerda do Presidente. Num determinado momento, ouve o seu nome: a Universidade designa-o doutor honoris causa. Surpreende-se? Não seria muito, pois sabe que Mary negociava o doutorado de alguma Universidade. O seu coração enche-se de júbilo. Mas não compreende bem o que lhe dizem: em três anos, não conseguiu aprender inglês. Entregam-lhe um diploma. O Presidente pede à concorrência ficar em pé, e assim se faz. Tremem as mãos de Sarmiento. Como teme não ser entendido, pede ao Secretário da Legação, que está ao seu lado e é um filho de Mitre, o chamado Bartolito, que agradeça em seu nome. Pede dizer estas coisas, que são falsas: que durante toda a sua vida foi mestre de escola; que na Argentina está sendo implantada uma escola comum norte-americana, até nos confins de nossas imensas comarcas e que caminhamos em direção à democracia com passo firme. E promete que, se chegar à Presidência, será “como sempre, e antes de tudo, mestre de escola”. Já tem o título. Sonhou com ser general, com ser doutor honoris causa pela Universidade do Chile ou de Buenos Aires. Agora é mais do que isso: é doutor de Michigan. Mas Sarmiento não imagina que esse título, que lhe parece excepcionalmente honroso, fará rir em Buenos Aires” [21].
5 – Sarmiento, personalidade especial.
As características socioculturais que acabam de ser apresentadas em relação a Sarmiento, fizeram dele uma personalidade especial. Allison Williams Bunkley (1925-1950) afirmava que ele era “um enigma”. Félix Weinberg (1928-2012) frisa que, em 1885, dizia-se de Sarmiento que era “General, literato, pedagogo, ex-ministro, ex-diplomata, ex-senador, ex-constituinte, ex-governador, ex-presidente; autor de livros didáticos, de panfletos revolucionários, de discursos monumentais, do Facundo– que é o Dom Quixote americano – de obras de ciência: fundador de escolas, organizador de parques e jardins, importador de pássaros e peixes úteis, aclimatador de plantas exóticas, destruidor de gafanhotos, louva-deuses e outras pragas; criador de práticas democráticas, fomentador de indústrias, assimilador de tudo que concerne ao progresso de seu país, protetor de animais, perseguidor de vigaristas, introdutor de sábios, difusor de observatórios científicos e de escolas normais…criador do céu e da terra” [22].
Características especiais que marcaram não apenas a personalidade polifacética de Sarmiento, mas que, de uma forma ou de outra, foram espelhadas por toda uma geração, a de 1837, integrada pelos doutrinários argentinos, jovens que não se satisfaziam apenas com ver independente o seu país da Espanha, mas que queriam mais: tornar a Argentina uma República Moderna. A respeito, frisa Aldyr García Schlee:
“Provinciano de San Juan, autodidata que nunca passou da escola primária, foi um intuitivo que se considerava predestinado à liderança intelectual e política. Constituiu com Florêncio Varela (1807-1848), Esteban Echeverría (1805-1851), Juan Bautista Alberdi (1810-1884), Miguel Cané (1851-1905) e Bartolomé Mitre (1821-1906) um núcleo de unitários argentinos para os quais a luta contra Rosas superava os limites de uma contenda nacional e até mesmo rio-platense, para se transformar num conflito de caráter universal entre a civilização e a barbárie. Esse grupo, pertencente à primeira geração romântica hispano-americana – a geração de 37 – era composto de jovens representantes da burguesia regional sul-americana, que havia lutado ou lutava ainda contra o regime monopolizador da Espanha e que ocuparia o espaço político do colonizador, depois da Independência, em nome da liberdade e do progresso” [23].
Sarmiento tinha a força do autodidata e do self-made-man, de origem humilde, mas que, possuidor de uma personalidade forte e sedutora (embora, como seus biógrafos testemunham, fisicamente feio), era consciente de suas potencialidades e sabia para onde ir. Um dos traços que mais cedo apareceram no seu modo de ser era uma certa vaidade intelectual, fruto de sua brilhante inteligência, mas também de uma vontade de superação e de uma força de caráter inegável. A propósito dessa característica,, escreveu Manuel Gálvez:
“A Escuela de la Patria, onde aos cinco anos ingressa, é a primeira a ser estabelecida em San Juan. Fundam-na don Ignacio e don José Genaro Rodríguez, portenhos, mas alguma parte têm as autoridades nessa obra. Domingo considerá-la-á, tempo depois, como um modelo de perfeição. Não só ensinam verdadeiramente os Rodríguez, mas estimulam, também, a mais elevada moralidade e os melhores sentimentos, como obrigar os alunos, qualquer que seja a classe social a que pertençam, a se tratar mutuamente de Señor. Domingo é o melhor aluno de leitura. Um dia, o diretor, que tinha feito construir um estrado, ou coisa semelhante, com varanda, fez subir Domingo, que acaba de ser nomeado primeiro cidadão; e o rapazinho sobe, orgulhoso, para ocupar o estrado, no meio às palmas de mestres e companheiros. Como não acreditar nos seus talentos o filho de José Clemente? Ele próprio explica a sua vaidade, bem como os elogios e a publicidade do ato. Todos falam de seus méritos e ele garante que, entre os dois mil meninos que concorreram ao longo de nove anos à escola, não chegavam a uma dúzia os que o superassem – talvez quis dizer igualassem – na capacidade de aprender. Conhece a fatuidade, defeito que ele trata de diminuir diante do leitor. Com o correr dos anos, a sua fatuidade e vaidade aumentarão até os limites da megalomania, de forma que os Rodríguez, ao fomentarem a vaidade inata do pequeno (…) fazem-lhe mais dano do que bem” [24].
Sarmiento, pela amplitude de propósitos e pela riqueza de sua personalidade, poder-se-ia comparar com uma figura típica da história sul-rio-grandense: o também liberal e herdeiro do pensamento doutrinário, Joaquim Francisco de Assis Brasil (1857-1938). A propósito, escreve Aldyr García Schlee:
“Embora não possa ser comparado a qualquer autor brasileiro, pelo peculiar momento da realidade nacional que viveu e pelo caráter especialíssimo de sua obra, ainda assim Sarmiento teve no Brasil, mais precisamente no Rio Grande do Sul, um êmulo tardio: Joaquim Francisco de Assis Brasil (1857-1938) – o castelão de Pedras Altas – que para cá trouxe, dizem, os pardais e os eucaliptos, como o autor de Facundo levou para a Argentina os eucaliptos e os pardais; além de assumirem ambos uma atitude de pais da pátria, numa perspectiva teórica muito semelhante. Segundo essa perspectiva, que perpassa por Facundo e não deixa de ser coerente consigo mesma, a Argentina (e o Brasil) são desligados de seu âmbito americano (bárbaro) e configurados como apêndices culturais e políticos da Europa (civilizada)”.
II – Facundo e o Patrimonialismo Argentino.
Em oito itens pretendo abarcar os aspectos mais importantes da obra de Sarmiento, Facundo, no que tange à caracterização do Patrimonialismo argentino. São os seguintes: 1) O Patrimonialismo argentino: uma forma de feudalismo achamboado. 2) Patrimonialismo e atraso. 3) “Tipos ideais” do Patrimonialismo argentino. 4) Patrimonialismo e Terror. 5) Base moral do Patrimonialismo Argentino: o ethos guerreiro e do ócio. 6) Base física do Patrimonialismo Argentino: a insularidade social do Pampa. 7) Base jurídica do Patrimonialismo Argentino: a vontade onipotente do Caudilho. 8) Base urbana do Patrimonialismo Argentino: o centralismo de Buenos Aires. Destacarei, em algumas Considerações Finais, o caminho assinalado por Sarmiento para que a Argentina superasse os vícios do Patrimonialismo dos Caudilhos: essa via seria a da retomada dos ideais liberais, pela nova geração que fazia a guerra a Rosas e da qual ele era um dos porta-vozes.
1 – O Patrimonialismo Argentino: uma forma de “Feudalismo Achamboado”.
O padre jesuíta italiano Giovanni Antônio Andreoni (1649-1716) que adotou o nome de André João Antonil, ao se referir ao latifúndio brasileiro dos séculos XVII e XVIII, cunhou a expressão “Feudalismo Achamboado” para caracterizar a índole personalista e despótica do Senhor de Engenho no Brasil colonial. Caracterização semelhante do caudilhismo platino fez Domingo Antônio Sarmiento. O autor de Facundo ilustra a forma em que, no interior da Argentina, prevaleceu um tipo de feudalismo bastante peculiar, que terminou desaguando no poder unipessoal do caudilho Faustino Quiroga (1788-1835). Duas famílias se disputavam, tradicionalmente, o poder na Província de La Rioja: os Ocampo e os Dávila (de forma semelhante a como, na Itália renascentista, contrapunham-se os Orsini e os Médici). A propósito, escreve Sarmiento:
“As querelas entre os Ocampo e os Dávila formam toda a história oculta de La Rioja: ambas as famílias, antigas, ricas, tituladas disputam o poder há muito tempo, dividem a população em bandos, como os Guelfos e os Gibelinos, desde muito antes da Revolução da Independência. Destas duas famílias saiu uma multidão de homens notáveis nas armas, no foro e na indústria, porque os Dávila e os Ocampo trataram sempre de sobrepor-se uns aos outros por todos os meios disponíveis que a civilização tem consagrado” [26].
Os Ocampo e os Dávila praticam, cada um, a privatização do poder em benefício de amigos, familiares e protegidos. Os Dávila chamam, para garantir a sua supremacia, um líder rural proveniente de Los Llanos (núcleo pastoril que se encontrava situado num oásis montanhoso encravado no centro de uma extensa travessia). Esse líder é dom Prudêncio Quiroga, pai de Facundo. Dom Prudêncio exerce, nessa sociedade agropastoril, uma autoridade patriarcal e a mantém isolada “em toda a sua pureza bárbara e hostil às cidades” [27], a partir do cargo oficial que exerce, à frente do Executivo municipal. Os Ocampo, que obtiveram o governo da região em 1820, não deixaram por menos: chamaram em sua ajuda o filho de Dom Prudêncio, Facundo Quiroga, que já despontava como um autêntico líder patriarcal e combatente destemido; foi nomeado Sargento-Mor das milícias de Los Llanos e Comandante de Campanha.
A partir desse momento, considera Sarmiento, começa a vida pública de Facundo Quiroga. O elemento bárbaro encarna-se no novo Comandante de Campanha, como frisa o nosso autor: “O elemento pastoril, bárbaro, daquela província – aquela terceira entidade que aparece no sítio de Montevidéu, com Artigas (1764-1856) – vai apresentar-se em La Rioja com Quiroga, chamado a seu apoio por um dos partidos da cidade. Este é um momento solene e crítico na história de todos os povos pastoris da República Argentina: há em todos eles um dia em que, por necessidade de apoio exterior ou pelo temor que já inspira um homem audaz, elegem-no Comandante de Campanha. É este o cavalo dos gregos, que os troianos se apressuraram em introduzir na cidade” [28].
A história que se passa em La Rioja, no curto período de tempo que vai de 1820 até 1823, é trágica e intensa. O general Ocampo, governador de la Rioja, manda o seu Comandante de Campanha, Faustino Quiroga, sair em defesa da cidade, que é ameaçada pelo exército número 1 de Los Andes, comandado pelos generais Aldao e Corro; essa força tinha-se sublevado. Num primeiro combate, os sublevados vencem as forças de Ocampo, que não recebeu em tempo os reforços que tinha solicitado às províncias de San Juan e Mendoza. Facundo, a partir desse momento, separa-se de Ocampo, e passa a agir por conta própria. Com o seu exército de llaneros, Facundo hostiliza as forças vencedoras a ponto de obrigar os seus comandantes, Aldao e Corro, a negociar com ele: o resultado dessa negociação é que Facundo e Aldao aliaram-se para tomar o poder em La Rioja, destituindo o general Ocampo. A propósito, anota Sarmiento:
“Quiroga encaminha-se à cidade, toma-a, prende os indivíduos do Governo, manda-lhes confessores e a ordem de prepararem-se para morrer. Que objetivo tem, para ele, esta revolução? Nenhum: sentiu-se com forças, estendeu os braços, e aniquilou a cidade. Foi culpa sua?” [29].
Uma vez deposto Ocampo, o caudilho Quiroga não quer exercer diretamente o poder em La Rioja. Prefere um governo fantoche que lhe ajude a debilitar de forma definitiva as oligarquias tradicionais. Numa jogada de mestre, Quiroga manda chamar a dom Nicolás Dávila, que estava desterrado em Tucumán e lhe entrega o governo de La Rioja, “(…) reservando-se ele mesmo, tão somente, o poder real que o seguia a Los Llanos. O abismo que se interpunha entre ele e os Ocampo e os Dávila era tão profundo, tão brusca a transição, que não era possível então fazê-la de um golpe; o espírito da cidade era demasiado poderoso, ainda, para sobrepor-lhe o da campanha: ainda um doutor em leis valia mais para o Governo que um peão qualquer – depois mudou tudo isso” [30].
O clã dos Dávila passa a governar em benefício próprio: a sede do governo é transferida para a região de Chilecito, onde a família tem muitas propriedades e para ali é transferida a Casa da Moeda. Isso para os novos donos do poder se distanciarem da região de Los Llanos, de onde Facundo Quiroga tira as suas forças. Do confronto que advém a seguir entre o general Dávila e Facundo Quiroga, resulta a morte do governador. Facundo entra triunfante, em La Rioja, assume temporariamente o poder, mas, não afeito às questões do governo, repassa o mando a um títere seu, o desconhecido e vulgar Blanco um espanhol que o caudilho tirou do nada.
Balanço da história: com o predomínio de Quiroga, estabelece-se em La Rioja a barbárie. Cumpre-se, aqui, o princípio básico do Patrimonialismo, que foi acertadamente caracterizado por Weber como a eliminação pura e simples, pelo déspota, de qualquer sentimento de dignidade do seio da sociedade [31]. Eis o relato que desse processo de degradação faz Sarmiento:
“Facundo, gênio bárbaro, apodera-se do seu torrão; as tradições de governo desaparecem, as formas se degradam, as leis são um joguete em mãos torpes e no meio dessa destruição efetuada palas pisadas dos cavalos, nada se substitui, nada se estabelece – o desafogo, a desocupação e a incúria são o bem supremo do gaúcho. Se La Rioja, como tinha doutores, houvesse tido estátuas, estas haveriam de servir para amarrar os cavalos” [32].
2 – Patrimonialismo e Atraso.
O caudillo argentino era, primeiramente, no sentir de Sarmiento, uma autoridade patriarcal. As características deste tipo de dominação encontravam-se presentes, inicialmente, na imensidão das planícies asiáticas. Essa autoridade poderia revestir feições mais tradicionais, concentrando o poder de mando nos mais velhos, ou apresentando feições agressivas, centrando o comando no líder guerreiro. Ao se lembrar dessa autoridade telúrica, o ensaista argentino não deixava de pensar na imensidão dos pampas, percorridos por grupos humanos sob o comando dos caudilhos. As necessidades de ocupação da terra nessa parte do Novo Mundo ensejaram um tipo de patriarcalismo guerreiro. A autoridade, nos pampas gaúchos, será a do caudilho, um chefe mais agressivo do que o simples patriarca. Nesse modelo de dominação, o progresso fica comprometido pelo predomínio da vontade do líder sobre as considerações da racionalidade econômica. Escreve a respeito:
“Essa vida pastoril, involuntariamente nos leva a trazer à memória a lembrança da Ásia cujas planícies imaginamos sempre cobertas com as tendas do calmuco, do cossaco e do árabe. A vida primitiva dos povos, a vida eminentemente bárbara e estacionária, a vida de Abraão, que é o beduíno de hoje, desponta nos campos argentinos, embora modificada de uma maneira diferente pela civilização. A tribo árabe que vaga pelas solidões asiáticas vive reunida sob o comando de um ancião ou de um chefe guerreiro; a sociedade existe, ainda que não esteja fixada num ponto determinado da terra; as crenças religiosas, as tradições imemoriais, a invariabilidade dos costumes, o respeito aos velhos, formam juntos um código de leis, de usos e práticas de governo que mantém a moral tal como a compreendem a ordem e a associação da tribo. Mas o progresso está sufocado, porque não pode haver progresso sem a posse permanente do solo, sem a cidade, que é a que desenvolve a capacidade industrial do homem e lhe permite ampliar suas aquisições” [33].
Faltava à sociedade argentina, de outro lado, a tessitura social que faria emergir laços de solidariedade entre os indivíduos. Esses liames consolidar-se-iam no surgimento do espaço público, de onde emergiria o autêntico sentimento republicano. Não estando a sociedade construída de baixo para cima, a partir dos laços de solidariedade que são ensejados pela luta na defesa dos mesmos interesses, terminou sendo a Argentina um conjunto de unidades não costuradas interiormente. O único fator de identidade foi a dominação pura e simples dos caudilhos, bem como o predomínio indiscutível deles, em cada unidade, mediante o terror e a aniquilação de qualquer força que se lhes sobrepusesse. Sarmiento compara esse tipo de sociedade com a que emergiu no mundo antigo (em Esparta e em Roma), no estabelecimento das cidades, nascidas da disposição de um grupo que tinha tempo para pensar o bem público, em virtude do fato de os cidadãos estarem livres dos afazeres materiais, dos quais se encarregavam os escravos. Embora nos pampas o gado libertasse os estancieiros dos trabalhos de luta pela sobrevivência, a estrutura de dominação patrimonialista, reinante nas imensidões argentinas, terminou fazendo com que a iniciativa particular não aparecesse, na consolidação de um espaço urbano, que servisse de caixa de ressonância à luta pelo bem público. O único bem visado era o do caudilho e dos seus colaboradores. A respeito, escreve nosso ensaísta:
“Mas o que de notável esta sociedade poderia apresentar quanto ao seu aspecto social, seria uma afinidade com a vida antiga, com a vida espartana ou romana se, por outro lado, não revelasse uma dessemelhança radical. O cidadão livre de Esparta ou de Roma jogava sobre seus escravos o peso da vida material, o cuidado de prover à subsistência, enquanto vivia livre de preocupações no foro, na praça pública, ocupando-se exclusivamente dos interesses do Estado, da paz, da guerra, das lutas de partido. O pastoreio proporciona as mesmas vantagens, enquanto o gado desempenha a função inumana do ilota antigo. A procriação espontânea forma e acresce indefinidamente a fortuna; a mão do homem é supérflua; seu trabalho, sua inteligência, seu tempo, não são necessários para a conservação e aumento dos meios de vida. Mas, se nada disso ele precisa para a vida material, as forças que economiza não podem ser empregadas como as de um romano: faltam-lhe a cidade, o município, a associação íntima e, portanto, falta-lhe a base de todo o desenvolvimento social; não estando reunidos os estancieiros, não têm necessidades públicas a satisfazer; em síntese, não há res publica” [34].
A primeira característica que Sarmiento atribuía ao patrimonialismo argentino era o atraso irremediável que produzia. Ali onde um caudilho se assentava, no espaço de apenas uma geração, a coisa pública virava a sua propriedade privada e assentavam-se, também, o atraso, a vulgaridade e a perda de esperança por parte da população, de forma semelhante a como da dominação muçulmana decorriam o fanatismo bárbaro e a medievalização dos costumes. São cinzas as cores com que o ensaísta descrevia essa dura realidade, que não era apenas de sua pequena pátria, São Luís, mas que era encontradiça, infelizmente, também, pela República Argentina afora:
“Aqui os feitos falam com toda sua horrível e espantosa severidade. Só a história da conquista dos maometanos sobre a Grécia apresenta exemplos de uma barbarização, de uma destruição tão rápida. E isto sucede na América do século XIX! É obra de só vinte anos, no entanto! O que se diz de La Rioja é exatamente aplicável a Santa Fé, San Luis, a Santiago del Estero, esqueletos de cidades, vilarejos decrépitos e devastados. Em São Luís faz dez anos que só há um sacerdote e que não há escolas, nem uma pessoa que use fraque. Vamos, porém, julgar em San Juan a sorte dos cidadãos que escaparam à destruição, mas que vão se barbarizando insensivelmente. San Juan é uma província agrícola e comercial, exclusivamente; o não ter campanha a livrou do domínio dos caudilhos por muito tempo. Qualquer que fosse o partido dominante, governador e empregados eram tomados da parte educada da população, até o ano de 1833, em que Facundo Quiroga colocou um homem vulgar no governo. Este, não podendo subtrair-se à influência dos costumes civilizados que prevaleciam, a despeito do poder, entregou-se à direção da parte culta, até que foi vencido por Brizuela, chefe dos riojanos, sucedendo-o o general Benavides, que conserva o mando faz nove anos, já não como uma magistratura periódica, mas como uma propriedade sua. O despotismo de Benavides é brando e pacífico, o que mantém a quietude e a calma dos espíritos. Benavides é o único caudilho de Rosas que não se fartou de sangue; mas a influência barbarizadora do atual sistema não se faz sentir menos por isso” [35].
A grande façanha do regime patrimonialista segundo Sarmiento, consistiu, em termos econômicos, em ter suscitado, na Argentina, uma tremenda concentração de riqueza na mão do Senhor Patrimonial. É o que o ensaísta encontrou na gestão de Facundo Quiroga à frente da província de La Rioja. O regime tributário consistia numa descarada ação de arremate das rendas da província ao sabor do capricho do tiranete. Esse procedimento, aos poucos, foi tornando mais agressivo o avanço do caudilho sobre os bens dos cidadãos, até se converter em estancieiro de estancieiros, graças a um confisco com o nome de dízimo imposto sobre o gado, que era simplesmente marcado com o nome de Quiroga. Já não eram necessários mais subterfúgios, a começar pelo expediente dos arremates dos tributos! O tirano apropriava-se dos bens dos cidadãos à luz do dia. Eis o que escreveu Sarmiento a respeito:
“(…) Incapaz de criar um sistema de rendas, (Facundo Quiroga) recorre ao que recorrem sempre os governos ineptos e imbecis (só que aqui o monopólio levará o selo da vida pastoril, da espoliação e da violência). Arrematavam-se os dízimos de La Rioja, naquela época, em dez mil pesos anuais (este era, pelo menos, o termo médio). Facundo se apresenta na mesa de remate e já sua presença, até então inusitada, impõe respeito aos criadores. ‘Dou dois mil pesos, diz, e mais um, sobre o melhor lance’. O escrivão repete a proposta três vezes e ninguém puja aquele valor. É que todos os concorrentes se haviam retirado, um a um, ao ler no olhar sinistro de Quiroga que aquele era o último lance. No ano seguinte, bastou-lhe mandar ao remate um bilhetinho assim concebido: ‘Dou dois mil pesos e mais um sobre o melhor lance. – Facundo Quiroga’. No terceiro ano suprimiu-se a cerimônia de remate: em 1831 Quiroga fixava nos dois mil pesos o valor para os dízimos, em La Rioja; mas lhe faltava dar um passo, ainda, para fazer o dízimo render um por cento – e Facundo, desde o segundo ano, não quis receber o de animais, mas distribuiu sua marca a todos os fazendeiros, a fim de que ferrassem o dízimo e o guardassem nas estâncias até que ele o reclamasse. As crias se aumentavam, os dízimos novos se acrescentavam ao rebanho de gado e, por volta de dez anos, pode-se calcular que metade dos animais das estâncias de uma província pastoril pertenciam ao Comandante Geral de Armas, e levavam sua marca” [36].
Ao atraso ensejado no terreno econômico pelo caudilhismo corresponde, no âmbito da cultura, o preconceito contra tudo que for produto do pensamento. Sarmiento estudou com cuidado o regime do ditador paraguaio Gaspar Rodríguez de Francia (1766-1840), que manteve o seu país isolado do resto do mundo entre 1816 e 1840, frisando que esse foi o modelo em que se inspirou o tirano Rosas para pautar as suas relações no plano internacional, sendo que, no caso dele, acrescia-se a grosseria típica de quem não tem cultura e faz gala da própria ignorância como se fosse um título de nobreza. A propósito do patrimonialismo de inspiração positivista do doutor Francia no Paraguai, Sarmiento escreve:
“Valeria a pena saber por que no Paraguai, terra desmontada pela mão sábia do jesuitismo, um sábio educado na antiga Universidade de Córdoba abre uma página nova na história das aberrações do espírito humano, encerra um povo nos seus limites de bosques primitivos e, apagando os rastros que conduzem a esta China recôndita, oculta-se e durante trinta anos esconde sua presa nas profundezas do continente americano, impedindo-a de lançar um único grito até que, morto ele próprio, pela idade e pela fadiga de estar imóvel perante um povo submisso, este pode, enfim, com voz extenuada e apenas inteligível dizer aos que vagam por suas imediações: “Ainda vivo! Mas quanto sofri!”. Quantum mutatus ab illo! Que transformação sofreu o Paraguai! Que equimoses e chagas deixou a canga no seu pescoço, que não opunha resistência!” [37].
Inspirado no ditador paraguaio, o discípulo Rosas é mais eficiente e consegue banir qualquer ar de civilização de seu país, fechando a entrada ao mais tênue raio de luz que possa colocar em claro a pobreza espiritual do dono do poder e do seu séquito de bajuladores. A propósito do terrível preconceito rosista contra a cultura, simples prolongamento do espírito inquisitorial de Felipe II (1527-1598) e de Torquemada (1420-1498), escreve Sarmiento:
“E por que não merece estudo o espetáculo da República Argentina que, depois de vinte anos de convulsão interna, de ensaios de organização de todo gênero, produz, no fim, do fundo de suas entranhas, do íntimo do seu coração, o mesmo doutor Francia na pessoa de Rosas, mas ainda maior, mais desenvolto e mais hostil, se se pode, às ideias, costumes e civilização dos povos europeus? Não se descobriria nele o mesmo rancor contra o elemento estrangeiro, a mesma ideia de autoridade do governo, a mesma insolência para desafiar a reprovação do mundo, acrescidas de sua originalidade selvagem, seu caráter friamente feroz e sua vontade incontrastável até o sacrifício da pátria (…), até abjurar o porvir e a condição de nação culta, como a Espanha de Felipe II e de Torquemada? É este um capítulo acidental, um desvio momentâneo causado pela aparição em cena de um gênio poderoso, bem assim como os planetas que saem de sua órbita regular, atraídos pela aproximação de algum outro, mas sem subtrair-se de todo à atração de seu centro de rotação, que logo assume a preponderância e lhes faz entrar na sua rota ordinária?” [38].
3 – “Tipos Ideais” do Patrimonialismo Argentino.
Sarmiento fez um estudo detalhado da hierarquia típica do Patrimonialismo argentino. Estabeleceu uma série de categorias telúricas, algo assim como os “tipos ideais” weberianos [39], ou os tipos históricos com os que Oliveira Vianna ilustra a formação social brasileira [40]. Em comum com estes dois autores, Sarmiento tem a característica de que a tipologia sociológica por ele levantada refere-se, de forma direta, à história social do meio por ele estudado. Assim, o ensaísta considera que há, na história argentina do século XIX, duas tipologias para explicar o funcionamento da sociedade, como empreendimento surgido a partir do exercício do poder como propriedade privada: a denominada por ele de “tipos costumeiros” e a que caracteriza como “tipos marginais”.
Entre os “tipos costumeiros”, de cima para baixo, aparecem as seguintes categorias: caudilhos, comandantes de cidades, comandantes de campanha, autoridades inferiores (constituídas pelos juízes de campanha e pelos capatazes de carretas), auxiliares e rastreadores vaqueanos. Já entre os “tipos marginais” encontramos apenas duas categorias, em linha descendente: primeiro, os malfeitores e, em segundo lugar, os gaúchos malos. De comum entre ambas séries de “tipos”, Sarmiento considera que há um aspecto: todos entendem o poder como posse particular. A diferença consiste em que, entre os “tipos costumeiros”, há uma noção de lei e de instituições, geradas a partir das relações de compadrio entre os senhores patrimoniais e os seus subordinados, bem como a partir do reconhecimento, mesmo que limitado, pelos senhores patrimoniais acobertados sob a denominação de “tipos costumeiros”, de autoridades “formais”, ou seja, das instituições republicanas herdadas das lutas de independência. Já nos “tipos marginais”, a submissão é apenas obediência, em cada momento, à vontade anárquica do senhor patrimonial, sem nenhum jogo de cintura que possibilite o reconhecimento de autoridades “formais”. Rosas seria uma expressão do primeiro tipo de dominação patrimonial, a emergente dos “tipos costumeiros”. Facundo Quiroga se aproximaria do segundo tipo, o “marginal”, como fica patente a partir do estudo deste déspota provinciano, caracterizado pela abulia administrativa e pela tentativa de firmar a sua autoridade única e exclusivamente no terror pessoal por ele imposto aos estranhos e apaniguados [41].
Estas duas séries de “tipos ideais” sobrepõem-se aos tipos emergentes do “governo formal” das Províncias e da Capital, assim como, no Brasil meridional estudado por Oliveira Vianna, como por exemplo em Minas Gerais, a autoridade telúrica dos “Senhores de Engenho” (os “senhores patrimoniais locais”), nos séculos XVII e XVIII, sobrepunha-se à autoridade surgida das câmaras municipais e até à investidura dos próprios governadores nomeados pela Coroa [42]. Vejamos a forma subtil em que se entrelaçam autoridades formais e poderes patrimoniais no marco da sociedade argentina estudada por Sarmiento, sendo que as autoridades telúricas terminam sufocando as formais. Observe-se como a descrição de Sarmiento estabelece um interessante paralelo entre a Argentina dos caudilhos e alguns poderes patrimoniais tradicionalmente fracos (como o Papado em Roma, ou os Sultanatos, no Oriente); em ambos os casos, as autoridades formais, quando contestadas pelos poderes inferiores, negociam com eles. Muitas vezes tais poderes secundários constituem verdadeiras figuras marginais que saem fortalecidas dessa negociação:
”O que digo do juiz aplica-se ao Comandante de Campanha. Este é um personagem de categoria mais alta que o primeiro e em quem se reunirão, no mais alto grau, as qualidades de reputação e antecedentes daquele. Entretanto, uma circunstância nova, longe de diminuir o mal, agrava-o. O Governo das cidades é que expede o título de Comandante de Campanha; mas como a cidade é fraca no campo, sem influência e sem auxiliares, o Governo lança mão dos homens que mais temor lhe inspiram para dar-lhes este emprego, a fim de tê-los obedientes; maneira muito conhecida de proceder de todos os governos fracos e que afastam o mal momentaneamente, para que se produza mais tarde em dimensões colossais. Assim, o Governo Papal faz transações com os bandidos, empregando-os em Roma, estimulando com isto a bandidagem e criando-lhe um futuro seguro; assim o Sultão concedia a Mahomed-Ali a investidura de Paxá do Egito, para ter que reconhece-lo mais tarde como rei hereditário, em troca de que não o destronasse. É singular que todos os caudilhos da revolução argentina tenham sido Comandantes de Campanha: López e Ibarra, Artigas e Güemes, Facundo e Rosas. É o ponto de partida para todas as ambições. Rosas, quando se apoderou da cidade, exterminou todos os Comandantes que o haviam elevado, entregando este posto influente a homens comuns, que não pudessem seguir um caminho igual ao que ele havia feito: Pajarito, Celarrayán, Arbolito, Pancho el Ñato, Molina foram outros tantos Comandantes de que Rosas purgou o país” [43].
4 – Patrimonialismo e Terror.
Uma marca registrada do caudilhismo argentino consistia, no sentir de Sarmiento, no terror praticado pelos tiranos. No caso de Quiroga, tratava-se de um terrorismo decorrente da sua vontade absolutamente imprevisível. A nota característica desse terrorismo era o medo que a pessoa do caudilho impunha aos membros do grupo social, notadamente àquelas pessoas que, por pertencerem às classes mais abastadas, deveriam ser humilhadas pelo sátrapa, a fim de banir qualquer enlevo de honra ou de dignidade. Eis a descrição que Sarmiento faz desse fenômeno:
“Um dia está Quiroga de bom humor, e brinca com um jovem como o gato com o temeroso rato: brinca para ver se mata ou não mata; o terror da vítima foi tão ridículo que o verdugo ficou de bom humor, rindo às gargalhadas, contra seu costume habitual. Mas o seu bom humor não deve ficar ignorado, precisa espraiar-se, ser estendido sobre uma grande superfície: soa o toque da generala (para chamar as tropas às armas ou a postos) em La Rioja, e os cidadãos saem à rua armados, ao rumor de alarme; Facundo, que determinou a generala para se divertir, forma os cidadãos na praça, às onze da noite, despede das filas a plebe, e deixa só os pais de família abastados e os jovens que ainda conservam lampejos de cultura; manda-os marchar e contramarchar toda a noite, fazer alto, alinhar-se, marchar de frente, de flanco, é um cabo de instrução que ensina a uns recrutas, e a vara do cabo anda pela cabeça dos desajeitados, pelo peito dos que não se alinham bem; que querem? Assim se ensina! – O dia sobrevém e os semblantes pálidos dos recrutas, sua fadiga e extenuação, revelam tudo o que foi aprendido na noite – por fim, dá descanso à sua tropa e leva a generosidade até o ponto de comprar pastéis e distribuir a cada um o seu, que se apressa a comer, porque esta é parte da diversão” [44].
A crueldade do patrimonialismo argentino fica patente, também, no terror desenvolvido pelo tirano Rosas. Para garantir a ausência de oposição de parte da sociedade, a fim de construir a unanimidade (que constituía, segundo Rousseau, o fundamento da felicidade geral da nação), dom Juan Manuel mandava prender, indistintamente, cidadãos a esmo, a fim de deixar todo mundo de barbas de molho. Ninguém estava seguro na capital da República Argentina, muito menos no interior do país. Eis o que Sarmiento escreveu a respeito dessa esdrúxula e autocrática política penitenciária:
“Lições deste gênero não são inúteis para as cidades, e o hábil político que em Buenos Aires elevou estes procedimentos a sistema, refinou-os e fez produzir efeitos maravilhosos. Por exemplo: de 1835 até 1840, quase toda a cidade de Buenos Aires passou pelas prisões; havia, às vezes cento e cinquenta cidadãos que permaneciam presos dois, três meses, para ceder seu lugar a um novo grupo de duzentos, que permanecia seis meses. Por que? Que haviam feito? (…), que haviam dito? Imbecis! Não vedes que está se disciplinando a cidade!… Não recordais que Rosas dizia a Quiroga que não era possível constituir a República porque não havia costumes? E que estava acostumando a cidade a ser governada… Pois ele concluirá a obra e, em 1844, poderá apresentar ao mundo um povo que não tem senão um pensamento, uma opinião, um entusiasmo sem limites pela pessoa e pela vontade de Rosas! Agora sim se pode constituir uma República!” [45].
Ficaria incompleta a descrição do terror patrimonialista argentino, se não mencionássemos, aqui, o instrumento assassino inventado por Rosas para facilitar a eliminação dos inimigos e implantar o medo nos espíritos: trata-se da instituição da “mazorca”. Constituía ela uma espécie de tribunal secreto integrado pelos íntimos colaboradores do ditador, que tinha como finalidade condenar à morte os mais destacados inimigos e executá-los de maneira sumária. Era um tipo de SS dos Pampas, que agia em silêncio e com a total cobertura do dono do poder, que lhe garantia a impunidade.
Mas o terror imposto à sociedade, tanto por Facundo Quiroga como por Juan Manuel Rosas, possui raízes mais fundas do que a simples vontade criminosa do tirano: a natureza selvagem do pampa argentino. Sarmiento adere, aqui, a uma tese nitidamente naturalista, muito em voga, aliás, na segunda metade do século XIX. Lembremos a obra do romancista francês Émile Zola (1840-1902). Essa feição aparece clara no seguinte texto, em que o nosso ensaísta coloca Quiroga nessa espiral de violência proveniente das agressivas condições ensejadas pelas planícies e os descampados gaúchos:
“Pretendo explicar a revolução argentina com a biografia de Juan Facundo Quiroga, porque acredito que ele revela suficientemente uma das tendências, uma das duas diferentes alternativas que se opõem no seio daquela sociedade singular (…). Em Facundo Quiroga não vejo simplesmente um caudilho, mas uma manifestação da vida argentina tal como a moldaram a colonização e as peculiaridades do terreno, ao qual creio necessário dedicar uma séria atenção, porque sem ele a vida e os feitos de Facundo Quiroga são vulgaridades que não mereciam entrar, senão episodicamente, no domínio da história. Vejo Facundo em relação com a fisionomia da natureza grandiosamente selvagem que prevalece na imensa extensão da República Argentina; Facundo, expressão fiel da maneira de ser de um povo, de suas preocupações e instintos; Facundo enfim que, sendo o que foi, não por um acidente de seu caráter, mas por antecedentes inevitáveis e alheios à sua vontade, constitui-se no personagem histórico mais singular, mais notável que pode apresentar-se à contemplação de homens capazes de compreender que um caudilho que encabeça um grande movimento social, não é mais do que o espelho em que se refletem, em dimensões colossais, as necessidades, preocupações e hábitos de uma nação em uma determinada época de sua história” [46].
Considerações semelhantes, de rigoroso caráter naturalista, tece o nosso autor em relação a Rosas e a outros caudilhos platinos como Artigas (1764-1850) os quais, com a sua feição sanguinolenta, dão continuidade à violência geográfica das solidões pampeiras, nesse conflito de fundo que tudo explica na América do Sul: o confronto entre civilização e barbárie, entre campo e cidade. Assim como o pampa é a origem da violência asiática, a cidade é a origem das luzes e da vida civilizada. Corresponderá a esta dar a volta por cima, se sobrepondo à violenta influência da campanha, a fim de restabelecer os hábitos de civilidade, de que eram portadoras as cidades sul-americanas antes da emergência dos caudilhos. Essa foi a gesta de Sarmiento e dos jovens liberais da geração de 37. Mas voltemos à descrição da violência argentina emergente da sanguinária tradição dos caudilhos, entre os quais se destaca Rosas. A respeito, frisa Sarmiento:
“A montonera, tal como apareceu nos primeiros dias da República, sob as ordens de Artigas, já apresentou esse caráter de ferocidade brutal e esse espírito terrorista que, ao imortal bandido, ao estancieiro de Buenos Aires (Rosas), estava reservado converter em um sistema de legislação aplicado à sociedade culta e apresenta-lo, em nome da América envergonhada, à contemplação da Europa. Rosas não inventou nada: seu talento consistiu apenas em plagiar seus antecessores e fazer dos instintos brutais das massas ignorantes um sistema meditado e coordenado friamente. A correia do couro tirado do Coronel Maciel e do qual Rosas fez para si uma manea que foi vista por agentes estrangeiros, tem seus antecedentes em Artigas e nos demais caudilhos bárbaros, tártaros: a montonera de Artigas enchalecava seus inimigos, isto é, costurava-os dentro de um retovo de couro fresco e os deixava assim, abandonados nos campos. O leitor suprirá todos os horrores desta morte lenta (no ano 1836 repetiu-se este horrível castigo com um coronel do exército). Já o executar com faca, degolando e não fuzilando, é um instinto de carniceiro que Rosas soube aproveitar para dar à morte formas gaúchas e ao assassino prazeres horríveis, sobretudo para mudar as formas legais e admitidas nas sociedades cultas, por outras que ele chama americanas (…). Esse é o caráter que apresenta a montonera desde a sua aparição: um gênero singular de guerra e julgamento que só tem antecedentes nos povos asiáticos que habitam as planícies, e que nunca poderá confundir-se com os hábitos e costumes das cidades argentinas, as quais eram, como todas as cidades americanas, uma combinação da Europa e da Espanha. A montonera só pode explicar-se pelo exame da organização íntima da sociedade de onde procede. Artigas, vaqueano, contrabandista – isso mesmo – fazendo a guerra à sociedade civil, à cidade, comandante de campanha por transação, caudilho das massas a cavalo, é o mesmo tipo que, com ligeiras variantes, continua se reproduzindo em cada comandante de campanha que chegou a fazer-se caudilho” [47].
5 – Base Moral do Patrimonialismo Argentino: o Ethos guerreiro e do Ócio.
Sarmiento considerava que o modo de agir do caudilho estava alicerçado num conjunto de valores de inspiração antiburguesa, que privilegiava o ócio sobre o trabalho, Essa ética do atalho ou do não-trabalho formou-se, na cultura gaúcha, ao ensejo da mistura racial entre espanhóis, aventureiros, índios e negros. Somente o processo educativo seria capaz de mudar esse estado de coisas. A respeito, o ensaísta escreve:
“Na campanha de Buenos Aires se reconhece o soldado andaluz, e na cidade predominam os sobrenomes estrangeiros. A raça negra, já quase extinta (exceto em Buenos Aires), deixou seus zambos e mulatos, habitantes das cidades, como elo que liga com o pacóvio o homem branco – raça inclinada à civilização, dotada de talento e dos mais belos instintos de progresso. Além do mais, da fusão desses três sangues resultou um todo homogêneo, que se distingue por seu amor à ociosidade e por sua incapacidade industrial, sempre que a educação e as exigências de uma posição social não o esporeiem e não o tirem de seus hábitos. Muito deve ter contribuído para produzir esse resultado desgraçado a incorporação de indígenas propiciada pela colonização. As raças americanas vivem na ociosidade e se mostram incapazes, ainda que obrigadas, para dedicar-se a um trabalho duro e contínuo. Isso deu a ideia de introduzir negros na América, que tão fatais resultados produziu. Mas não se mostrou melhor dotada de ação a raça espanhola, quando se encontrou nos descampados americanos, abandonada a seus próprios instintos” [48].
Sobre esse pano de fundo, a história argentina foi moldando um outro aspecto dos atores sociais: a vida da estância, a luta em prol da independência, tornaram o gaúcho mais hábil para a guerra, não para os trabalhos produtivos decorrentes da paz. A altivez de quem luta para vencer ou morrer, esse foi o traço marcante daqueles combatentes natos. Outra marca indelével foi o nacionalismo, que se bem ajudou a configurar a identidade de uma Nação, no entanto, é responsável, também, pela excessiva altivez dos argentinos, coisa que, para Sarmiento, não foi ruim, embora desagradasse aos seus vizinhos latino-americanos. Paralelamente, surgiu, na alma do gaúcho, o desprezo em face de tudo quanto lembrasse vida do espírito (e a cultura é a primeira manifestação dele!). Abriu-se, assim, um perigoso caminho para o caudilhismo, com as figuras que foram estudadas por Sarmiento, entre as que sobressaem as de Facundo Quiroga e Dom Juan Manuel de Rosas.
Eis o que Sarmiento escreve a respeito: “Os argentinos, de qualquer classe que sejam, têm plena consciência de seu valor como nação; todos os demais povos americanos jogam-lhes na cara essa vaidade e se sentem ofendidos por sua presunção e arrogância. Creio que a imputação não é de todo infundada e não me causa espécie. Ai do povo que não tem fé em si mesmo! Para esse não foram feitas as grandes coisas! (…). É implacável o ódio que lhes inspiram os homens cultos, e invencível seu desgosto por suas roupas, usos e maneiras. Por sua forma foram moldados os soldados argentinos; é fácil imaginar como muitos de seus hábitos podem se traduzir em valor e resignação para a guerra; acrescente-se que, desde a infância, estão habituados a matar reses e que este ato de crueldade necessária os familiariza com o derramamento de sangue e endurece seu coração contra os gemidos das vítimas. A vida do campo, pois, desenvolveu no gaúcho as faculdades físicas sem nenhuma das da inteligência. Seu caráter moral se ressente de um hábito de triunfar sobre os obstáculos e o poder da natureza: é forte, altivo, enérgico. (…). Se a dissolução da sociedade radica-se profundamente na barbárie, pela impossibilidade e inutilidade da educação moral e intelectual, não deixa, por outro lado, de ter seus atrativos. O gaúcho não trabalha; o alimento e o vestuário, encontra-os preparados em casa; um e outro lhe proporciona o seu gado, se é proprietário; a casa do patrão ou do parente, se nada possui. As atenções que o gado exige reduzem-se a correrias e partidas de prazer. A marcação, que é como a colheita dos agricultores, é uma festa cuja chegada se recebe com enlevos de júbilo; ali é o ponto da reunião de todos os homens num raio de 20 léguas; ali (ocorre) a ostentação da incrível destreza do laço” [49].
Sobre esse pano de fundo de uma ética mais vizinha do esforço guerreiro que do trabalho, o gaúcho argentino elaborou detalhada liturgia para fazer gala das suas habilidades cavalheirescas, algo assim como um código de honra, em que a espada do fidalgo foi substituída pelo cuchillo. A finalidade desses incorrigíveis brigões não é matar o adversário, mas feri-lo, pondo de relevo as habilidades do combatente, numa espécie de dança que prenuncia o tango, expressão típica atual da virtù portenha. Os gaúchos estudados por Sarmiento assinariam embaixo da definição que, contemporaneamente, cunhou Ernesto Sábato (1911-2011) em relação a essa dança: “Un pensamiento triste que se baila”. Pensamiento triste que, no contexto do Patrimonialismo argentino terminou privilegiando – como, aliás, no latifúndio brasileiro presidido pelo Senhor de Engenho ou de Curral – matadores que se homiziavam nas estâncias (tendo sido Rosas, na Argentina, um típico estancieiro protetor de homicidas).
A respeito da liturgia do cuchillo, escreveu Sarmiento o seguinte: “O gaúcho estima, sobre todas as coisas, as forças físicas, a destreza no manejo do cavalo e, além disso, a coragem. A reunião na pulperia, este club diário, é um verdadeiro circo olímpico em que se ensaiam e comprovam os quilates do mérito de cada um. O gaúcho anda armado com o cuchillo que herdou dos espanhóis; esta peculiaridade da Península, este grito característico de Zaragoza: guerra a cuchillo! é, aqui, mais real que na Espanha. O cuchillo, mais que uma arma, é um instrumento que lhe serve para todas as ocupações (…). O gaúcho, além de ginete, faz alarde de valente – seu cuchillo brilha a cada instante, descrevendo círculos no ar à menor provocação ou sem provocação alguma, sem outro interesse que medir-se com o de um desconhecido – e joga as punhaladas como jogaria os dados. Tão profundamente entram estes hábitos pendenceiros na vida íntima do gaúcho argentino, que os costumes criaram sentimentos de honra e uma esgrima própria que garanta a vida. O homem da plebe dos outros países pega a faca para matar, e mata; o gaúcho argentino a desembainha para lutar, e somente fere (…). Matar é uma desgraça, a menos que o fato se repita tantas vezes que inspire horror o contato com o assassino. O estancieiro Dom Juan Manuel Rosas, antes de ser homem público, tinha feito de sua residência uma espécie de asilo para os homicidas, sem que jamais aceitasse ladrões a seu serviço; preferências que se explicariam facilmente por seu caráter de gaúcho proprietário, se sua conduta posterior não houvesse revelado afinidades que encheram o mundo de espanto” [50].
6 – Base física do Patrimonialismo Argentino: a Insularidade Social no Pampa.
Diferentemente do município romano, que congregava os cidadãos num espaço geográfico perfeitamente delimitado e se contrapondo- também, ao Feudo medieval, que garantia proteção dos barões sobre os vassalos espalhados pelas campanhas ao redor dos castelos, o Pampa argentino, com a sua imensidão que se assemelha a um mar verde onde naufragam as solidariedades vizinhais, os gaúchos encontravam-se dispersos e impossibilitados de tecer elos de solidariedade; nem a autoridade, longínqua garantir-lhes ia o sentimento de segurança. A atitude é a de “cada um por si”, o que fazia da dispersão social uma espécie de “feudalismo achamboado” (como já foi destacado no item anterior em que lembrei a referência de Antonil ao latifúndio brasileiro). Eis a bela descrição que desse atomismo social faz Sarmiento:
“Nas planícies argentinas não existe a tribo nômade: o pastor possui o solo com títulos de propriedade, está fixado num ponto que lhe pertence; porém, para ocupar a terra foi necessário desmanchar agregados e espalhar as famílias sobre uma imensa superfície. Imaginai uma extensão de duas mil léguas quadradas, contendo população, sim; mas com as habitações colocadas a quatro léguas de distância umas das outras, às vezes a oito ou a duas, as mais próximas. O desenvolvimento da propriedade mobiliária não é impossível, os gozos do luxo não são de todo incompatíveis com esse isolamento: a fortuna pode levantar um soberbo edifício no descampado; mas o estímulo falta, o exemplo desaparece e a necessidade de agir com dignidade, que se sente nas cidades, não se faz sentir ali no isolamento e na solidão. As privações indispensáveis justificam a preguiça natural e a frugalidade nos gozos traz, em seguida, todas as exterioridades da barbárie. A vida em sociedade desapareceu completamente: só resta a família feudal, isolada, reconcentrada; e não havendo sociedade reunida qualquer tipo de governo torna-se impossível – a municipalidade não existe, a polícia não pode exercer-se e a justiça civil não tem meios de alcançar os delinquentes. Ignoro se o mundo moderno apresenta um tipo de associação tão monstruoso como este. É totalmente oposto do município romano, que concentrava num recinto toda a população e saía dali lavrar os campos circunvizinhos, constituindo uma organização social forte, cujos resultados benéficos se fazem sentir até hoje e prepararam a civilização moderna (…). É (…) algo semelhante ao feudalismo da Idade Média, em que os barões residiam no meio rural e dali hostilizavam as cidades e assolavam as campanhas; mas aqui faltam o barão e o castelo feudal. Se o poder se levanta no campo, é momentaneamente, é por si mesmo: não se herda nem pode conservar-se por falta de montanhas e posições fortes. Disso resulta que, mesmo a tribo selvagem do pampa está melhor organizada, para o desenvolvimento moral, do que nossas campanhas” [51].
A imensidão do pampa argentino assemelhava-se, no sentir de Sarmiento, à vastidão das planícies asiáticas. A solidão, em ambos os contextos, conduziu os homens que ali habitavam a cultuar o líder indômito e valente, abrindo assim caminho para o caudilhismo e o poder absoluto dos Comandantes de Armas, notáveis pela sua força bruta e pela sua crueldade. O despotismo oriental das planícies asiáticas irmana-se, na imaginação do ensaísta argentino, ao caudilhismo do chefe nos Pampas, A respeito desse paralelismo, escreve Sarmiento:
“A extensão das planícies (…) imprime à vida do interior certo matiz asiático que não deixa de ser pronunciado (…). Com efeito, há algo, nas soledades argentinas, que traz à memória as soledades asiáticas, alguma analogia encontra o espírito entre o pampa e as planícies que medeiam entre o Tigre e o Eufrates; algum parentesco entre a tropa solitária de carretas que cruzam os descampados para chegar, ao fim de uma marcha de meses, a Buenos Aires, e a caravana de camelos que se dirige até Bagdá ou Esmirna. Nossas carretas viageiras são uma espécie de esquadra de pequenos batéis, cuja gente tem costumes, idioma e vestes peculiares que a distinguem dos outros habitantes, como o marinheiro se distingue dos homens de terra. O capataz é um caudilho, como na Ásia o chefe de caravana; para cumprir seu destino, precisa de uma vontade de ferro, um caráter arrojado e até a temeridade, capaz de conter a audácia e o alvoroto dos flibusteiros de terra que precisa dominar e governar sozinho, no desamparo dos ermos. Ao menor sinal de insubordinação, o capataz alteia o seu chicote de fierro e descarrega sobre o insolente golpes que causam contusões e feridas; se a resistência se prolonga, antes de apelar às pistolas, cujo auxílio geralmente desdenha, salta do cavalo com o formidável cuchillo na mão e reivindica logo sua autoridade pela superior destreza com que sabe manejá-lo. A quele que morre nessas execuções do capataz não deixa nenhum direito a nenhuma reclamação, considerando-se legítima a autoridade que o assassinou. Assim é que, por essas peculiaridades, começa a se establecer na vida argentina o predomínio da força bruta, a preponderância do mais forte, a autoridade sem limites e sem responsabilidades dos que mandam, a justiça administrativa sem forma e sem debate” [52].
A imensidão geográfica dispersa os homens e torna impossíveis as atividades civilizadas. Tudo fica reduzido ao esforço de sobrevivência, tanto mais embrutecedor quanto menos deixa espaço para a vida comunitária. Os dois fatores sociais que mais sofrem com essa dispersão são a escola – que não consegue desenvolver a sua ação básica de educação para a cidadania – e a Igreja, cujos pastores, isolados, terminam perdendo o sentido de sua missão evangelizadora e se aproximando dos vícios do caudilhismo. Sarmiento pintava com cores sombrias esses traços dissociadores do pampa argentino: “O progresso moral, a cultura da inteligência, descuidada na tribo árabe ou tártara, aqui não é só descuidada, mas impossível. Onde colocar a escola para que cheguem a receber lições as crianças disseminadas a dez léguas de distância? Assim, pois, a civilização é de todo irrealizável, a barbárie é normal – e precisa-se dar graças se os costumes domésticos conservam algum resquício de moral. A religião sofre as consequências da dissolução da sociedade: o vicariato é nominal, o púlpito não tem auditório. O sacerdote foge da capela solitária e se desmoraliza na inatividade e na solidão; os vícios, a simonia, a barbárie normal penetram em sua cela e convertem a sua superioridade moral em elementos de fortuna e de ambição, porque por fim ele acaba se tornando caudilho de partido” [53].
7 – Base jurídica do Patrimonialismo Argentino: A Vontade Onipotente do Caudilho.
Max Weber tinha assinalado que a tendência a fazer da lei simples expressão da vontade do chefe, era uma das características marcantes do Patrimonialismo. Pois bem: na sociedade gaúcha não consegue se firmar a ideia de que a instância legal corresponde a um patamar dominado pela Res Publica e por uma tradição jurídica que independe da vontade dos governantes. Tudo, no terreno da legislação, gira em torno à vontade do caudilho. Quem se firma como juiz é aquele que possui altivez e força, e dá provas de poder mediante a imposição esmagadora da sua vontade. A barbárie dos costumes pede barbárie de procedimentos. Círculo vicioso que faz sumir as instituições nas águas turvas das lutas sem quartel entre lideranças violentas. A dimensão do direito como tradição que deve ser respeitada, desaparece. Ficam em pé, apenas, o caudillo e seu séquito de colaboradores e dependentes, num contexto de autocratismo que o nosso autor aproxima do despotismo asiático. Eis a caracterização que Sarmiento faz desse aspecto da vida dos pampas:
“Costumes deste gênero requerem meios vigorosos de repressão e, para reprimir desalmados, são necessários juízes mais desalmados ainda. O juíz de campanha (…) é, naturalmente, algum famoso de tempos atrás, a quem a idade e a família chamaram à vida ordenada. A justiça que se administra é, de todo o ponto, arbitrária: guiam-no, na sua consciência, (…) suas paixões, e as suas sentenças são inapeláveis. Acontece, às vezes, haver juízes destes que o são por toda a vida e que deixam uma memória respeitada. Mas, o conhecimento dos meios empregados e do caráter arbitrário das penas formam ideias no povo sobre o poder da autoridade, que mais tarde vêm produzir seus efeitos. O juiz se faz obedecer por sua reputação de audácia temível, por sua autoridade, seu juízo sem formas, suas sentenças, seu eu é que mando e os seus castigos inventados por ele mesmo. O resultado disso, dessa desordem, quem sabe por muito tempo inevitável, é o caudilho, que quando chega a se levantar numa revolta, possui já, sem contradição e sem que os seus sequazes o duvidem, o poder amplo e terrível que só se encontra, hoje, nos povos asiáticos” [54].
8 – Base Urbana do Patrimonialismo Argentino: o Centralismo de Buenos Aires.
Se a dispersão do pampa argentino foi um dos componentes básicos do Patrimonialismo, justamente porque manteve as individualidades desunidas para que o caudilho pudesse coloca-las sob o seu domínio inquestionável, algo semelhante deu-se com as Províncias em face da Capital Federal: elas foram incapazes de ensejarem uma autêntica Federação, produzindo como resultado a absoluta falta de iniciativas da Periferia sobre o Centro, com o predomínio centrípeto deste. A tirania de Rosas instaurou o centralismo mais brutal que se possa imaginar. Centralismo que distribuía grilhões e morte, ao contrário do que foi, em épocas mais alvissareiras, a ação benéfica da Capital que fazia chegar às províncias luzes e civilização. A Argentina, em lugar de ter conquistado a unidade na civilização e na liberdade, viu-a consolidada no seio da barbárie. É o que lamenta Sarmiento neste texto:
“Bem caro pagaram os que diziam: ‘A República Argentina acaba no Arroio do Meio’. Agora ela vai dos Andes até o mar; a barbárie e a violência chegaram a Buenos Aires em proporções superiores à das províncias. Não podemos nos queixar de Buenos Aires que é grande e o será mais, porque assim lhe coube por sorte; deveríamos antes nos queixar da Providência, pedindo-lhe que retifique a configuração da terra. Não sendo isso possível, temos por bem o que se faz por mão de mestre. Queixemo-nos da ignorância desse poder brutal, capaz de esterilizar, para si e para as províncias, os dons que a natureza prodigalizou ao povo que desencaminha. Buenos Aires, em lugar de mandar agora luzes, riqueza e prosperidade ao interior, manda-lhe só grilhões, hordas exterminadoras e tiranetes subalternos. Também vinga-se do mal que as províncias lhe fizeram ao arranjar-lhe Rosas! Assinalei esta circunstância da posição monopolizadora de Buenos Aires, para mostrar que há uma organização do solo tão central e unitária naquele país, que mesmo que Rosas tivesse gritado de boa-fé Federação ou Morte, teria concluído pelo sistema unitário que hoje se estabeleceu. Nós, contudo, queríamos a unidade na civilização e na liberdade, e nos deram a unidade na barbárie e na escravidão. Mas outro tempo virá em que as coisas tomarão seu rumo normal” [25].
Considerações Finais: a Libertação da Argentina pela Retomada dos Ideais Liberais.
Se bem é certo que Sarmiento pintava com cores lúgubres o futuro imediato da sua Pátria, sufocada pelo absolutismo de Rosas, no entanto, como bom discípulo dos Doutrinários, não abria mão de perscrutar um futuro melhor. Sobre um pano de fundo de historiografia providencialista, à maneira dos seus mestres Guizot e Tocqueville e seguindo um caminho bem semelhante ao trilhado por Alexandre Herculano (1810-1877), o ensaísta argentino pensava que a Providência tinha permitido a ascensão de Facundo Quiroga e Rosas. Ela cuidaria, também, para que ressurgissem das cinzas os velhos ideais liberais que deram vida, nos seus primórdios, à República Argentina de Rivadávia e dos que organizaram o Estado após a derrota dos espanhóis, nos primórdios do século XIX. A Geração de 37, de que participava Sarmiento, embora perseguida de forma contumaz pelo tirano, conseguiu elaborar um plano de salvação nacional, fortemente enraizado nos ideais do Liberalismo e na herança das Luzes.
Não se trataria, portanto, de partir de zero. Tratar-se-ia, pensava Sarmiento, de retomar uma tradição esquecida pela maré montante do Estado Patrimonialista, gerido como propriedade privada pelos Caudilhos. As luzes viriam da França e dos Estados Unidos. Mas não como cópia servil das instituições desses países. A missão da Geração de 37 seria semelhante à dos denominados por Oliveira Vianna de Homens de 1.000, no Segundo Reinado no Brasil [56], entre os quais se destacava a figura do visconde de Uruguai, Paulino Soares de Sousa (1807-1866) o qual, no seu Ensaio sobre Direito Administrativo [57] considerava que era necessário, à nova geração de estadistas, conhecer em profundidade o que tinha dado certo nos Estados Unidos da América, na França e na Inglaterra, a fim de, à luz dessas experiências, estudar a própria realidade para construir instituições que conduzissem ao progresso e à garantia da liberdade.
Quando os jovens pertencentes a essa Geração de 37 tivessem regressado do exílio, uma vez derrubado Rosas, seria possível, considerava Sarmiento, aglutinar a Nação Argentina ao redor de uma proposta de reconstrução. Esses jovens dariam ensejo a políticas que abrissem as fronteiras aos imigrantes europeus e americanos e, com a ajuda deles, seria possível acelerar o processo de modernização, do qual fazia parte, também, um amplo programa de educação básica, que deitaria as bases da consciência cidadã. A respeito do potencial humano desperdiçado pela tirania de Rosas e que, certamente, floresceria com a derrubada do tirano, escrevia Sarmiento:
“Os moços estudiosos que Rosas perseguiu espalharam-se por toda a América, examinando os diversos costumes, penetraram na vida íntima dos povos, estudando seus governos, verificando as situações que em alguns mantém a ordem sem detrimento da liberdade e do progresso, e notando em outros os obstáculos que se opõem a uma boa organização. Uns viajaram pela Europa, estudando o direito e o governo; outros residiram no Brasil, alguns na Bolívia e no Chile, e mais outros, enfim, percorreram a metade da Europa e a metade da América e trazem um tesouro de conhecimentos imenso de experiência, e elementos preciosos que um dia serão postos a serviço da Pátria, quando esta reunir em seu seio esses milhares de proscritos que andam hoje disseminados pelo mundo, esperando que soe a hora da queda do governo absurdo e insustentável, que ainda não cede ao ímpeto de tantas forças que trarão a sua destruição” [58].
Sarmiento pretendia aglutinar as forças vivas da Nação ao redor de uma proposta de governo que respondesse, ponto por ponto, às falhas estruturais ensejadas pela ditadura de Rosas. O pensador argentino culminava Facundo detalhando os pontos essenciais de sua plataforma. Mencionemos, primeiro, quais eram os aspectos negativos que deveriam ser focados pela sua proposta. Eis as nódoas da tirania de Rosas: 1) Durante quinze anos, o tirano “não tomou uma só medida administrativa para favorecer o comércio interior e a indústria nascente” da Argentina. 2) Ao longo desse período, Rosas “não quis garantir as fronteiras do Sul e do Norte por meio de uma linha de fortes, uma vez que esse trabalho (…) não lhe dava nenhuma vantagem contra os seus inimigos”. 3) Rosas “perseguiu o nome europeu e hostilizou a imigração de estrangeiros”. 4) Colocou, nos rios interiores do país, “uma barreira insuperável para que não (fossem) navegados livremente”. 5) Malbaratou “as lucrativas rendas do porto de Buenos Aires, gastando em quinze anos quarenta milhões de pesos fortes que produziu”. 6) O tiranete “destruiu os colégios e tirou as rendas das escolas”. 7) O ditador “acorrentou a imprensa” não permitindo outros jornais diferentes dos que se afinassem com os seus pontos de vista. 8) Rosas perseguiu, até vê-los mortos ou desterrados, “todos os homens ilustrados, não admitindo, para governar, outra coisa que a sua teimosia, sua loucura e sua sede de sangue”. 9) Destruiu “as garantias que, nos povos cristãos, asseguram a vida e a propriedade dos cidadãos”. 10) O tirano “fez do crime, do assassinato, da castração e da degola um sistema de governo”. 11) Rosas “profanou os altares, pondo neles seu infame retrato”. 12) O caudilho organizou um governo que tinha “o direito de matar os que não pensassem como ele”. 13) Rosas “esteve continuamente suscitando desentendimentos” com os governos vizinhos, com os europeus e com os Estados Unidos da América [59].
Se contrapondo a esses treze defeitos da tirania de Rosas, Sarmiento colocava os seguintes pontos que respondiam, diretamente, às falhas da odiosa ditadura. Eis os itens contemplados: 1) O novo governo “consagrar-se-á ao restabelecimento dos correios e a assegurar os caminhos que a natureza abriu em toda a extensão da República”. 2) “Colocará o exército permanente no Sul, e garantirá rios e territórios para estabelecer colônias militares que em cinquenta anos serão cidades e províncias florescentes”. 3) Estabelecerá grandes associações para introduzir população e distribuí-la em territórios à beira de imensos rios e “em vinte anos acontecerá o que na América do Norte aconteceu no mesmo tempo: levantaram-se Cidades, Províncias e Estados nos descampados em que pouco antes se alimentavam os bisontes selvagens”. 4) O novo governo “fomentará a navegação fluvial; milhares de navios percorrerão os rios e irão extrair as riquezas que hoje não têm saída nem valor”. 5) O porto de Buenos Aires “será declarado propriedade nacional, para que suas rendas sejam destinadas a promover o bem de toda a República”. 6) O novo governo “organizará a educação pública em toda a República com rendas adequadas e com Ministério especial como na Europa, como no Chile, Bolívia e todos os países civilizados, porque o saber é riqueza e um povo que vegeta na ignorância é pobre e bárbaro”. 7) O novo governo estenderá por todo o país o benefício da imprensa livre, e “veremos pulular livros de instrução e publicações destinados à indústria, à literatura, às artes e a todos os trabalhos da inteligência”. 8) O novo governo rodear-se-á “de todos os grandes homens que a República possui e que hoje estão dispersos por toda a terra (…). A inteligência, o talento e o saber serão chamados de novo para dirigir os destinos públicos, como nos países civilizados”. 9) O novo governo “restabelecerá as formas representativas e assegurará para sempre os direitos que todo homem tem de não ser perturbado no livre exercício de suas faculdades intelectuais e de suas atividades”. 10) O novo governo “fará da justiça a maneira de corrigir os delitos públicos”. 11) Ele “dará ao culto a dignidade que merece”, e favorecerá a ação dos ministros, destinada a formar a moral social. 12) Respeitará as diversas opiniões, que são expressão da razão que Deus colocou em cada um de nós. 13) Por último, o novo governo, no terreno das relações internacionais, restabelecerá as relações civilizadas com os outros países, superando de vez a animosidade criada com eles por Rosas e fará ressurgir “a tranquilidade no exterior e no interior, dando a cada um o seu direito, marchando pelas mesmas vias de conciliação e ordem em que marcham os povos cultos” [60].
A história ulterior da Argentina testemunha que as reformas propostas por Sarmiento tornaram-se realidade quando o pensador assumiu a Presidência da República, no período compreendido entre 1868 e 1874. A nova equipe de estadistas soube preservar os elementos liberais presentes na Constituição de 1853, juntando-os com medidas que estimularam a consolidação da agricultura e da indústria nascente. As benfazejas reformas efetivadas por Sarmiento e pela Geração de 37 que o acompanhou ao poder, foram as responsáveis pelo fato de a República Argentina ter chegado, nas últimas décadas do século XIX e primeiros decênios da passada centúria, a se situar entre os países mais desenvolvidos do mundo. A Argentina entrou novamente em declínio, infelizmente, quando o patrimonialismo peronista tomou conta do país, a partir dos anos 40.
Como destaca com propriedade Alejandro Gómez, “o Estado Benfeitor ocupou o papel do empresário e protetor dos cidadãos. Os direitos e liberdades consagrados na Constituição de 1853 foram anulados pela sanção de uma nova Constituição em 1949, na qual se incluía a ‘doutrina peronista’. Embora essa Constituição só tenha tido vigência até 1955, o ‘exército de burocratas’ e o espírito intervencionista do Estado na economia foram sendo incrementados até o presente. O princípio de ‘justiça social’ seria a desculpa ideal para restringir a liberdade econômica e ampliar a esfera da ação do Estado. (…) Quem se beneficiou com todo esse desastre? A classe política e sua camarilha (sindicalistas, empresários que têm contratos com o governo, etc.) [61].
NOTAS DE RODAPÉ
[1] ZIBELMAN, Regina. “Apresentação”, in: SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo – Civilização e Barbárie no Pampa Argentino. (Tradução e introdução de Aldyr Garcia Schlee). Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul / Editora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 1996, p. VII.
[2] SCHLEE, Aldyr García. “Domar Facundo”, in SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo – Civilização e Barbárie no Pampa Argentino. Ob. Cit., pp. XIII-XIV.
[3] GÁLVEZ, Manuel. Vida de Sarmiento, el hombre de autoridad. 3ª Edição, Buenos Aires: Editorial Tor, 1957, p. 9.
[4] O grupo dos Unitários, chamado também de “Geração de 1837”, era um partido político de tendência liberal, aliado à Grã-Bretanha. Defendia um governo unitário, centralizado nas Províncias Unidas do Rio da Prata, que levavam o nome de Provincias Unidas de Sulamérica. Era integrado por Domingo Faustino Sarmiento, Juan Bautista Alberdi, Miguel Cané, Esteban Echeverría, Félix Frías, Juan Carlos Gómez, Juan María Gutiérrez, Andrés Lamas, Vicente Fidel López, José Mármol, Bartolomé Mitre, José Rivera Indarte, Marcos Sastre e Florencio Varela. Tratava-se de um verdadeiro caleidoscópio regional onde estavam representadas as várias regiões argentinas, desde Tucumán até a Banda Oriental, além de San Juan, Córdoba e Buenos Aires. Esses jovens Unitários receberam a influência dos Doutrinários Franceses, discípulos de François Guizot (1787-1874) e Pierre-Paul Royer-Collard (1763-1845).
[5] SCHLEE, Aldyr García, “Domar Facundo” in: SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo – Civilização e barbárie no pampa argentino, ob. cit., pp. XVI-XVII.
[6] GÁLVEZ, Manuel. Vida de Sarmiento, el hombre de autoridad. 3ª edição, ob. cit., p. 98.
[7] GÁLVEZ, Manuel. Vida de Sarmiento, el hombre de autoridad. 3ª edição, ob. cit., p. 58.
[8] SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo – Civilização e barbárie no pampa argentino, ob. cit., p. 12.
[9] TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. (Tradução brasileira, prefácio e notas de Neil Ribeiro da Silva). 2ª edição. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1977.
[10] SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo – Civilização e barbárie no pampa argentino. Ob. Cit., p. 9.
[11] GÁLVEZ, Manuel. Vida de Sarmiento. Ob. cit., pp. 118-119.
[12] GÁLVEZ, Manuel. Vida de Sarmiento. Ob. cit., p. 119.
[13] GÁLVEZ, Manuel. Vida de Sarmiento. Ob. cit., p. 92.
[14] GÁLVEZ, Manuel. Vida de Sarmiento. Ob. cit., p. 103.
[15] Cf. JEFFERSON, Thomas. Escritos Políticos. (Tradução de Leônidas Gontijo de Carvalho). 1ª Edição. São Paulo: Abril Cultural, 1973, Os Pensadores.
[16] HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. O Federalista. (Tradução brasileira de A. Della Nina). 1ª Edição. São Paulo: Abril Cultural, 1973, Coleção “Os Pensadores”.
[17] CONSTANT DE REBECQUE, Henri-Benjamin. Principios de Política. (Tradução espanhola de Josefa Hernández Alonso. Introdução de José Alvarez Junco). Madri: Aguilar, 1970, p. 8.
[18] GÁLVEZ, Manuel. Vida de Sarmiento. Ob. Cit., p. 284.
[19] GÁLVEZ, Manuel. Vida de Sarmiento. Ob. Cit., p. 281.
[20] GÁLVEZ, Manuel. Vida de Sarmiento. Ob. Cit., pp. 284-285.
[21] GÁLVEZ, Manuel. Vida de Sarmiento. Ob. Cit., p. 287.
[22] Apud SCHLEE, Aldyr García. “Domar Facundo”, art. Cit., p. XV.
[23] SCHLEE, Aldyr García. “Domar Facundo”, art. Cit., p. XIV.
[24] GÁLVEZ, Manuel. Vida de Sarmiento. Ob. Cit., pp. 14-15.
[25] Cf. VIANNA, Francisco José de Oliveira. Populações Meridionais do Brasil – Populações Rurais do Centro-Sul. 7ª edição. Belo Horizonte: Itatiaia; Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense. 1987, p. 59.
[26] SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo. Ob. cit., p. 102.
[27] SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo. Ob. cit., p. 103. Destaquemos que Dom Prudêncio foi nomeado tesoureiro e alcaide de La Rioja.
[28] SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo. Ob. cit., pp. 103-104.
[29] SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo. Ob. cit., p. 105.
[30] SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo. Ob. cit., pp. 106-107.
[31] Cf. WEBER, Max. Economía y Sociedad – vol. IV – “Tipos de Dominación”. (Tradução ao espanhol de José Medina Echavarría et alii). 1ª Edição em espanhol. México: Fondo de Cultura Económica, 1944, 4 Volumes, vol. IV, pp 131 seg.
[32] SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo. Ob. cit., pp. 109-110.
[33] SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo. Ob. cit., pp. 33-34.
[34] SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo. Ob. cit., p. 35.
[35] SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo. Ob. cit., pp. 77-78.
[36] SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo. Ob. cit., pp. 110-111.
[37] SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo. Ob. cit., p 11.
[38] SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo. Ob. cit., pp. 11-12.
[39] Cf. WEBER, Max. La ciencia como profesión – La política como profesión. (Tradução espanhola e Introdução de Joaquín Abellán). Madri: Espasa-Calpe, 1992, pp. 93-97.
[40] Cf. VIANNA, Francisco José de Oliveira. Instituições Políticas Brasileiras – Volume I – Fundamentos Sociais do Estado (Direito Público e Cultura). Belo Horizonte: Itatiaia / São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 1987, pp. 61-74.
[41] Cf. SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo. Ob. cit., pp. 41-82.
[42] Cf. VIANNA, Francisco José de Oliveira. Instituições Políticas Brasileiras – Volume I – Fundamentos Sociais do Estado (Direito Público e Cultura). Belo Horizonte: Itatiaia / São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo; Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 1987, pp. 168-180.
[43] Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo, ob. cit., p. 65.
[44] Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo, ob. cit., pp. 112-113.
[45] Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo, ob. cit., p. 113.
[46] Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo, ob. cit., pp. 16-17.
[47] Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo, ob. cit., pp. 72-73.
[48] Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo, ob. cit., pp. 29-30.
[49] Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo, ob. cit., pp. 39-40.
[50] Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo, ob. cit., pp. 61-63.
[51] Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo, ob. cit., pp. 34-35.
[52] Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo, ob. cit., pp. 27-28.
[53] Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo, ob. cit., p. 36.
[54] Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo, ob. cit., p. 64.
[55] Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo, ob. cit., pp. 25-26.
[56] Cf. VIANNA, Francisco José de Oliveira. “O carisma imperial e a seleção dos homens de 1.000”, in: Instituições Políticas Brasileiras, Volume I – Fundamentos Sociais do Estado (Direito Público e Cultura), ob. cit., pp. 283 ss.
[57] SOUSA, Paulino Soares de (visconde de Uruguai). Ensaio sobre Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1960.
[58] Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo, ob. cit., Pp. 295-296.
[59] Cf. Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo, ob. cit., pp. 297-300.
[60] Cf. Sarmiento, Domingo Faustino. Facundo, ob. cit., ibid.
[61] GÓMEZ, Alejandro. “A crise econômica argentina é conseqüência da debilidade institucional”. In: Idéias Liberais. Instituto Liberal de São Paulo, vol. VII, nº 108 92002): pp. 5-6.
BIBLIOGRAFIA
BOTANA, Natalio. La tradición republicana – Alberdi, Sarmiento y las ideas políticas de su tiempo. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1984.
CONSTANT DE REBECQUE, Henri-Benjamin.Princípios de Política. (Tradução espanhola de Josefa Hernández Alonso; Introdução de José Alvares Junco). Madri: Aguilar, 1970.
GÁLVEZ, Manuel. Vida de Sarmiento, el hombre de autoridad. 3ª edição. Buenos Aires: Editorial Tor, 1957.
GÓMEZ, Alejandro. “A crise econômica argentina é conseqüência da debilidade institucional”. In: Idéias Liberais. Instituto Liberal de São Paulo, vol. VII, nº 108 (2002): pp. 5-6.
HAMILTON, Alexander; MADISON, James. JAY, John. O Federalista. (Tradução de A. Della Nina). 1ª Edição. São Paulo: Abril Cultural, 1973, Coleção “Os Pensadores”.
JEFFERSON, Thomas. Escritos Políticos. (Tradução de Leônidas Gontijo de Carvalho). 1ª Edição. São Paulo: Abril Cultural, 1973, Coleção “Os Pensadores”.
SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo – Civilização e Barbárie no Pampa Argentino. (Tradução brasileira e Introdução de Aldyr García Schlee; Apresentação de Regina Zibelman). Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul / Editora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 1996.
SOUSA, Paulino Soares de (visconde de Uruguai). Ensaio sobre Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1960.
SCHLEE, Aldyr García. “Domar Facundo” – Introdução. In: SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo – Civilização e Barbárie no Pampa Argentino. (Tradução brasileira e Introdução de Aldyr García Schlee; Apresentação de Regina Zibelman). Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul / Editora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 1996, pp. XIII-XIV.
TOCQUEVILLE, Alexis de. A Democracia na América. (Tradução brasileira, Prefácio e Notas de Neil Ribeiro da Silva). 2ª Edição. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1977.
VIANNA, Francisco José de Oliveira. Instituições Políticas Brasileiras – Volume I – Fundamentos Sociais do Estado (Direito Público e Cultura). Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 1987.
VIANNA, Francisco José de Oliveira. Populações Meridionais do Brasil – Populações Rurais do Centro-Sul. 7ª edição. Belo Horizonte: Itatiaia; Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 1987.
WEBER, Max. Economía y Sociedad. 1ª Edição em espanhol. (Tradução de José Medina Echavarría et alii). México: Fondo de Cultura Económica, 1944.
WEBER, Max. La ciencia como profesión – La política como profesión. (Tradução espanhola e Introdução de Joaquín Abellán). Madrid: Espasa-Calpe, 1992.
ZIBELMAN, Regina. “Apresentação”. In: SARMIENTO, Domingo Faustino. Facundo – Civilização e Barbárie no Pampa Argentino. (Tradução brasileira e Introdução de Aldyr García Schlee; Apresentação de Regina Zibelman). Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul / Editora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 1996, p. VII.
*Artigo publicado originalmente no site do autor.