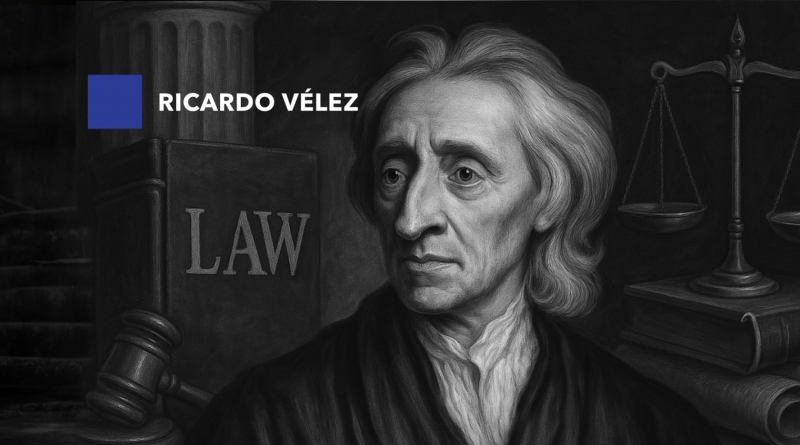John Locke e os ideais liberais de justiça e representação (parte três)
Para ler a parte dois, clique aqui.
2 – Ainda no plano do senso comum, Locke formula duas inferências: todos nascemos livres e iguais.
Somos livres, no sentido de que não estamos escravizados uns aos outros; somos iguais aos nossos semelhantes, porquanto submetidos à superioridade divina. Ora, a tese sustentada por sir Robert Filmer (1588-1653) na sua obra intitulada: O Patriarca publicada postumamente, em 1680, de que alguns homens, portadores da autoridade régia ou patriarcal, estão acima dos outros, contradita essa inferência do senso comum.
A respeito, frisa Peter Laslett: “Por sir Robert Filmer ter afirmado ser possível encontrar na Revelação uma prova de que Deus havia estabelecido a superioridade de alguns homens com relação a outros, os pais acima dos filhos, os homens acima das mulheres, os mais velhos acima dos mais jovens e os monarcas acima de todos os demais, sua doutrina era a tal ponto perigosa e precisava ser refutada” [Laslett, 1998: 136]. A polêmica de Locke contra Filmer escora-se em dois tipos de argumentos: a observação e a autoridade das Sagradas Escrituras. Do ponto de vista da primeira, é claro que a superioridade dos pais é apenas temporária e necessária à preservação da humanidade. Do ângulo da segunda, Deus, nas Escrituras, não colocou os seres humanos uns acima dos outros, mas, pelo contrário, criou-os “à sua imagem e semelhança”.
3 – O que é que nos faz livres e em que consiste a liberdade?
Na trilha do neoplatonismo herdado pela filosofia inglesa, Locke responde que é a razão (a voz de Deus em nós), que nos torna livres. “Nascemos livres, assim como nascemos racionais”, frisa o filósofo [Locke, 1998: II, § 61, p. 437]. Graças à razão, manifestada no bom senso, apreendemos, em nós, a lei da natureza e essa apreensão nos torna livres. Neste ponto, Locke segue os ensinamentos de Richard Hooker na obra: On the Laws of Ecclesiastical Polity. Ora, não possuímos uma liberdade absoluta. A liberdade, para Locke, “consiste em estar livre de restrições e violência por parte de outros, o que não pode existir onde não existe lei” [Locke, 1998: II, § 57, 433].
A lei da razão, expressão da lei natural, frisa o autor, “não é tanto uma limitação quanto a direção de um agente livre e inteligente rumo ao seu interesse adequado, e não preserva além daquilo que é para o bem geral de todos quantos lhe estão sujeitos” [Locke, 1998: II, § 57, 433]. Não temos, portanto, “liberdade para que cada um faça o que bem quiser (pois quem poderia ser livre quando o capricho de qualquer outro homem pode dominá-lo?), mas uma liberdade para dispor e ordenar como se quiser a própria pessoa, ações, posses e toda a sua propriedade, dentro dos limites das leis às quais se está submetido; e, portanto, não estar sujeito à vontade arbitrária de outrem, mas seguir livremente a sua própria” [Locke, 1998: II, § 57, 433-434].
A liberdade, portanto, para Locke, não é apenas mera ausência de restrições. Ela possui, também, um caráter positivo. É ampliada com a criação da sociedade e do governo e se concretiza graças à existência de leis, que são normas que pautam as cortes de justiça. Pode ser definida negativamente como a condição de não estar submetido a poder legislativo algum, senão àquele que foi criado, por consenso, na sociedade política. Pode ser definida positivamente, como a progressiva eliminação da arbitrariedade da regulamentação da vida política e social [Locke, 1998: II, § 22, 401-403].
A razão, concebida como uma lei (a lei da natureza) é quase um poder e é soberana sobre as ações humanas. Encontramos, aqui, traços herdados da filosofia estóica. Pode ditar as ações de um homem (na consciência) e pode, também, regrar as relações com os demais homens (em sociedade). Ela é o atributo humano que nos coloca acima dos animais.
4 – Princípio do direito de defesa do indivíduo e da sua sociabilidade.
Quando nos reconhecemos como criaturas de Deus e dotados de razão para organizar as nossas ações, aceitamos, também, a seguinte conclusão: qualquer homem que proceda de forma irracional (procurando submeter outrem a seu poder e negando aos outros a liberdade que ele possui) torna-se “passível de ser destruído pela pessoa prejudicada e pelo resto da humanidade, como qualquer outra besta selvagem ou fera nociva que proceda do modo destrutivo para com seus pares” [Locke, 1998: II, § 172, 539-540].
Em relação à história inglesa da época, ao ensejo da acirrada luta entre os whigs, que defendiam as liberdades, e os tories, que as negavam, frisa Laslett: “Quando examinamos atentamente as passagens que apresentam esse raciocínio, Carlos e Jaime Stuart se encaixam com grande facilidade no papel daqueles animais selvagens com os quais os homens não podem ter sociedade ou segurança, pois tentaram governar a Inglaterra como déspotas” [Laslett, 1998: 140].
Todos nascemos livres, iguais uns aos outros, capazes de um comportamento racional (e, em conseqüência, habilitados para nos compreendermos e colaborarmos mutuamente). “É preciso enfatizar – frisa Laslett a respeito deste ponto do pensamento lockeano – que nascemos todos dessa forma, cativos ou livres, selvagens ou civilizados, dentro ou fora da sociedade ou do Estado, pois é essa uma doutrina verdadeiramente universal em Locke” [Laslett, 1998: ibid.].
5 – Tanto o direito de governar quanto o poder para fazê-lo constituem um direito e um poder naturais e universais.
Esse direito e esse poder são semelhantes e equivalentes aos de se conservar a si próprio e ao resto da humanidade. Quando alguém, na defesa desses direitos fundamentais, exerce a força contra um agressor, fá-lo em nome de toda a humanidade, não apenas em nome de si próprio e para ressarcir os danos sofridos, mas também para defender a autoridade “da razão e da equidade comum, que é a medida fixada por Deus às ações dos homens, para a mútua segurança destes”, frisa o filósofo [Locke, 1998: II, § 8, 386]: “Aquele que, adotando um comportamento violento, desconhecer ao seu semelhante os direitos básicos à vida, à liberdade e às posses, constitui um perigo para toda a humanidade. “E, neste caso – frisa o filósofo – todo homem tem o direito de punir o transgressor e de ser o executor da lei da natureza” [Locke, 1998: II,§ 11, 387].
6 – Qual é a lei fundamental da natureza?
Locke responde: trata-se do direito e do dever de cada homem de se preservar a si próprio e a todos os demais, o máximo possível. Quando o governo é considerado sob este viés converte-se, simplesmente, num “(…) magistrado, que por ser magistrado teve o direito comum de punir depositado em suas mãos” [Locke, 1998: II,§ 11, p. 388]. O filósofo não deixa lugar a dúvidas quanto ao direito da natureza que a todos assiste de se defenderem de agressões violentas. A respeito desse direito, que não pode ser negado, afirma: “(…) E assim ocorre que, no estado de natureza, todo homem tem o poder de matar um assassino, tanto para impedir que outros cometam o mesmo mal, que nenhuma reparação pode compensar, pelo exemplo do castigo que lhe cabe de parte de todos, como para guardar os homens dos intentos de um criminoso que, tendo renunciado à razão, à regra e à medida comuns concedidas por Deus aos homens, pela violência injusta e a carnificina por ele cometidas contra outrem, declarou guerra a toda a humanidade e, portanto, pode ser destruído como um leão ou um tigre, um desses animais selvagens com os quais os homens não podem ter sociedade ou segurança” [Locke, 1998: II, § 11, p. 389].
7 – Em que consiste o estado de natureza?
Locke responde: consiste na condição segundo a qual o poder executivo da lei da natureza permanece, de forma exclusiva, nas mãos dos indivíduos, não tendo, portanto, chegado a se tornar comunal. Algumas tribos de aborígines vivem assim, frisa o filósofo. Os poderes nacionais constituídos, quando agem buscando um fim comum como a paz, por exemplo, fazem-no como indivíduos no estado de natureza, cada um buscando, do seu jeito, o fim almejado, pois carecem de uma autoridade comum a todos eles. O filósofo espelhava as condições das relações internacionais do século XVII, quando não havia instâncias supranacionais como as Nações Unidas.
É interessante, no entanto, a forma em que Locke ilustra as relações entre dois indivíduos no estado de natureza. Embora não coagidos por um poder constituído, quando fazem, por exemplo, um acordo de troca, vêm-se obrigados em virtude do acordo pactuado. Isso constitui, ao nosso modo de ver, uma antecipação ainda não sistematizada da perspectiva moral kantiana, alicerçada no imperativo categórico da consciência.
Citemos o texto de Locke: “(…) As promessas e acordos de troca, etc., entre dois homens numa ilha deserta mencionados por [El Inca] Garcilaso de la Vega (1539-1616) em sua História do Peru (1616), ou entre um suíço e um índio nas florestas da América, comprometem a ambos, embora em referência um ao outro eles estejam num perfeito estado de natureza. Pois a verdade e observância da palavra dada cabem aos homens como homens, e não como membros da sociedade” [Locke, 1998: II, § 14, 393-394].
8 – Desvantagens do estado de natureza e sociabilidade natural do indivíduo.
Embora tenhamos a lei da natureza por guia e possamos, mediante o uso da razão, conhecê-la, no entanto, para indivíduos mal-intencionados, essa lei pode virar desculpa, com a finalidade de negar os direitos essenciais dos outros. Faz falta um juízo autorizado que impeça este abuso. Essa carência ou desvantagem do estado de natureza é que impulsiona o homem a entrar em sociedade. Isso não significa, no entanto, como pretendia Thomas Hobbes (1588-1679), que o homem se encontre em estado de guerra com os seus semelhantes, antes do seu ingresso em sociedade. A respeito, Peter Laslett frisa, interpretando o pensamento lockeano: “É de esperar que a guerra esteja bem mais perto da superfície no estado de natureza, como atestam a frequência e a importância da guerra no estado internacional da natureza, porém isso não pode significar que a guerra defina o estado de natureza, ou que ela seja de algum modo relevante para distinguir o estado de natureza do estado social” [Laslett, 1998: 144-145].
“No princípio, o mundo todo era América” [ Locke, 1998: II, § 49, 427], frisa o nosso autor, impressionado com o relato sobre as comunidades aborígenes da América, narrado pelo primeiro cronista americano do Novo Mundo, o Inca Garcilaso de la Vega, considerado o “príncipe dos escritores do Novo Mundo”, cuja obra nosso autor leu muito provavelmente quando da sua indicação por Lorde Shaftesbury, para a elaboração das Constituições Fundamentais da Carolina, determinando a forma de dividir a terra e geri-la na Colônia.
O documento, elaborado por Locke sob a supervisão de Lorde Shaftesbury, que era um dos oito Lordes agraciados pelo rei Carlos II (1630-1685) com a concessão da Colônia, cuja existência sob essa modalidade de posse por particulares se dá entre 1663 e 1691, constituiu o chamado Grande Modelo (Grand Modell), e era integrado por uma Constituição e Diretrizes detalhadas para Assentamento e Desenvolvimento que foram redigidas por Locke, sendo este o arquétipo utilizado pela Inglaterra para as outras concessões de terras entregues a colonos ingleses na América. Na Colônia da Carolina, os oito lordes presidiam um Conselho que nomeava o Governador, instaurando, de outro lado, a representação dos proprietários num Parlamento colonial. Registremos que quando Espanha passou a ameaçar a integridade do território da Carolina, após 1891, o Monarca inglês decidiu nomear um governador para a Colônia, preservando o Parlamento local, tendo se mantido o novo modelo daí em diante.
Locke partiu da obra de James Harrington (1611-1677) intitulada: The Commonwealth of Oceania (1656), que desenhava um modelo de governança para as terras coloniais submetidas à Inglaterra durante o Protetorado de Cromwell (1649-1658), no qual vigorou o modelo republicano [cf. Silva, 2015]. Locke adaptou as propostas político-administrativas de Harrington ao contexto da monarquia inglesa restaurada.
El Inca Garcilaso não somente tinha narrado as histórias inacreditáveis do Peru indígena, como tinha sintetizado, na obra intitulada: Historia de la Florida (1605) chamada também de La Florida del Inca, as aventuras do governador espanhol de La Florida, Hernando de Soto (1496-1542) e a sua viagem aos desconhecidos territórios da Georgia, e das duas Carolinas, tendo morrido de febre à beira do Rio Mississipi, sendo o primeiro europeu a explorá-lo. Soto tinha recebido de Carlos V (1500-1558) a missão de conquistar a Flórida, após ter participado da conquista do Peru, ao lado de Francisco Pizarro (1478-1541) e Diego de Almagro (1475-1538). Era evidente o interesse estratégico de Locke na consulta à obra de Garcilaso e de Hernando de Soto para redigir as suas Constituições Fundamentais da Carolina, levando em consideração a agressiva ocupação espanhola da Flórida, que ameaçava as colônias americanas vizinhas.
Locke considerava que os próprios europeus, antes da instituição do Estado, viveram como os índios americanos. Laslett afirma, em relação a este ponto: “Na verdade, essa condição de vida comunitária orientada pela razão, sem um superior comum na Terra, em assistência mútua, paz, boa vontade e preservação (…), é o pano de fundo universal contra o qual é preciso compreender o governo. Ele nos revela o que é e como procede o governo, mostrando-nos o que ele não é e como não procede” [Laslett, 1998: 145]. Locke distancia-se aqui claramente de Thomas Hobbes, para quem o homem, no estado de natureza, não é sociável, sendo lobo para o homem. O pessimismo hobbesiano, proveniente de raízes platônicas e calvinistas, contrasta com o otimismo lockeano, de inspiração aristotélica. Afinal, tanto para Aristóteles (384-322 a.C.) quanto para Locke, o homem é animal político. A sociabilidade faz parte da sua natureza. O estado de natureza é social e político. O estado de sociedade, conseqüentemente, não se contrapõe de forma radical, na concepção lockeana, ao estado de natureza, aparecendo como um aperfeiçoamento deste. A respeito, escreve Laslett: “O estado de natureza lockeano, com sua sociabilidade imanente, e sua aceitação da dependência humana com respeito aos seus semelhantes, incorpora, em certo sentido, a atitude aristotélica” [Laslett, 1998: 146, n. 9].
*Artigo publicado originalmente no site do autor.