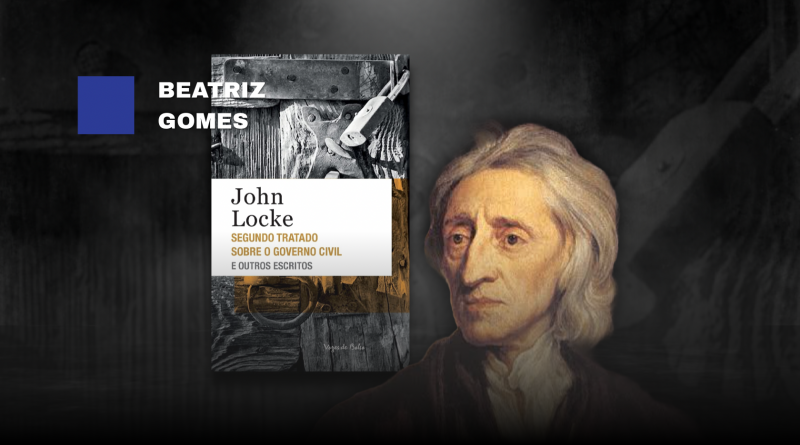John Locke: o Segundo Tratado sobre o Governo Civil
John Locke, em seu Segundo Tratado sobre o Governo Civil (1690), formula uma das arquiteturas basilares do pensamento liberal moderno. Embora não utilizasse o termo liberalismo, que só surgiria na Espanha do século XIX, sua obra inaugura o que autores modernos, ao descrever as fases do liberalismo, chamam de tradição liberal clássica: uma reflexão política centrada na precedência do indivíduo sobre o Estado, na origem contratual do poder político e na legitimidade da resistência diante do governo que trai sua finalidade pública.
Locke escreve o Segundo Tratado em meio à chamada querela da exclusão, na Inglaterra do final do século XVII, quando whigs e tories disputavam a própria fonte da autoridade política. Os tories defendiam o absolutismo e a sucessão real como algo derivado do direito divino dos reis; já os whigs sustentavam que todo poder legítimo nasce do consentimento dos governados e deve ser exercido segundo leis aprovadas pelo Parlamento.
Esse conflito não era só institucional, mas conceitual: discutia-se se a obediência política decorre de nascimento e tradição ou de acordo racional entre indivíduos livres e iguais. Esse pano de fundo é essencial para o “timing” de Locke, pois a obra é, ao mesmo tempo, intervenção política e tratado filosófico, como uma tentativa de fundar princípios estáveis de legitimidade política aplicáveis para além da contingência histórica.
O ponto de partida e principal disruptura trazida por Locke no Tratado é a noção de que os seres humanos nascem livres e iguais, dotados de direitos naturais anteriores à existência do Estado: vida, liberdade e propriedade. Locke descreve o estado de natureza como uma condição de liberdade sob a lei natural, sustentada pela razão e orientada à preservação de si e dos outros. Porém, nesse estado, cada indivíduo é juiz de sua própria causa, e a ausência de um árbitro comum tende a transformar conflito em vingança. É dessa limitação prática, e não de qualquer incapacidade moral dos homens, que surge a necessidade de constituir sociedade civil. Forma-se o corpo político quando indivíduos livres consentem em transferir o poder de julgar e punir para uma comunidade dotada de leis conhecidas e de um juiz imparcial.
O governo, então, não é extensão de um poder paterno, nem conquista, nem prerrogativa de linhagem; ele é poder autorizado, depositado pelos indivíduos na sociedade civil para proteger seus direitos naturais, ao passo que o poder político só é legítimo enquanto desempenha essa finalidade. Desta feita, a teoria da propriedade ocupa lugar central nessa construção. Locke rejeita a tese de que a propriedade deriva de um direito hereditário adâmico (ver nota) e igualmente supera a teoria contratual que exigia consentimento unânime para passar da posse comum à propriedade privada. A solução do autor é o trabalho: cada indivíduo possui propriedade de sua própria pessoa e, quando mistura seu trabalho com os recursos naturais, torna aquilo que produz sua propriedade. Esse argumento, embora elegante, é mais complexo do que parece.
Locke reconhece limites à apropriação: ninguém pode tomar mais do que é capaz de usar sem desperdiçar; a apropriação é legítima apenas quando há recurso suficiente e tão bom quanto para os demais – o que, de forma atemporal, abre margem para fortalecimento argumentativo de correntes contrárias.
A introdução da moeda, contudo, transforma o quadro: ao permitir a acumulação sem desperdício, o dinheiro suspende o limite natural da apropriação. Essa passagem é decisiva para a posteridade da teoria, haja vista que fornece, ao mesmo tempo, uma justificação moral para a propriedade privada capitalista e o ponto a partir do qual surgirão leituras divergentes sobre Locke, alternadamente entendido como defensor da acumulação, crítico das desigualdades arbitrárias ou fundador de um princípio de limitação da propriedade pelo bem comum. A partir de então, filósofos apontam que a teoria da propriedade de Locke se torna, ao longo da modernidade, simultaneamente fundamento de legitimidade e campo de disputa interpretativa.
Segundo a obra, a sociedade civil, assim constituída, tem finalidade precisa: assegurar a preservação da propriedade em sentido amplo, isto é, vida, liberdade e bens. Para isso, Locke define que o poder legislativo, expressão da vontade da comunidade, é o poder supremo, ainda que limitado, eis que não pode ser arbitrário, não pode tomar propriedade sem consentimento e não pode transferir a terceiros o poder de fazer leis. O executivo, por sua vez, aplica as leis e pode exercer prerrogativa em casos em que a ação precisa preceder a decisão legislativa, mas essa prerrogativa é sempre julgada pelo povo segundo o bem público. Onde o governo excede os limites do mandato recebido, corrompe a finalidade pública ou destrói as bases da propriedade civil, dissolvem-se os laços da sociedade política. Nesse ponto, o direito de resistência deixa de ser ameaça de desordem para se tornar restauração da própria ordem legítima, eis que o povo pode retirar a confiança
concedida e instituir novo governo. A contribuição histórica de Locke, portanto, não está apenas na defesa de direitos individuais, mas no modo como articula liberdade, lei e limite.
Longe de associar liberdade à ausência de normas, Locke afirma que só há liberdade onde há lei, pois a lei justa protege os direitos de cada um contra invasões, sejam elas privadas ou estatais. Criar leis é criar condições para que os indivíduos não precisem temer uns aos outros. A sociedade civil é, assim, não a negação da liberdade, mas sua moldura: um regime que permite que cada um preserve sua vida, sua autonomia e sua capacidade de iniciativa sem submeter-se ao poder arbitrário de outro.
Essa arquitetura fornece o alicerce do liberalismo clássico, mas também oferece perguntas que permanecem atuais: quais são os limites legítimos da propriedade diante da desigualdade acumulada? Como garantir que o legislativo não se converta em instrumento de interesses particulares? Em que momento a prerrogativa executiva deixa de ser flexibilidade e se torna abuso? o direito de resistência é princípio vivo ou apenas recurso histórico?
O Segundo Tratado não resolve definitivamente esses dilemas, mas nos obriga a formulá-los com rigor; talvez sua força resida exatamente em oferecer uma ordem de ideias para pensar o poder, seus limites e sua legitimidade, a partir de um princípio que permanece decisivo para qualquer comunidade política livre: o poder é um depósito, não uma licença; um encargo, não uma posse; uma responsabilidade, não um direito absoluto.
Nota: Direito hereditário adâmico era a ideia de que o poder político dos governantes deriva da autoridade paterna original de Adão.
*Beatriz Gomes é associada do IFL-Belo Horizonte e advogada especialista em Direito Civil e Empresarial.