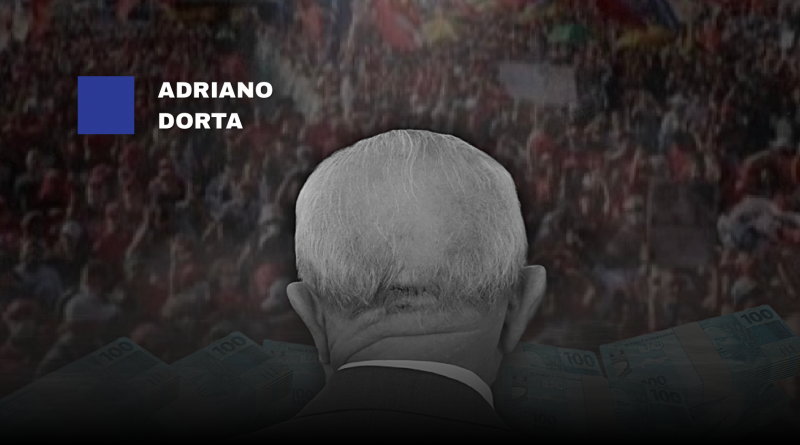Lula e o populismo macroeconômico
Antes de discutir o fenômeno do populismo macroeconômico, é preciso definir o que o populismo é e como um populista chega ao poder por vias democráticas. A partir dessa definição, é possível avaliar se Lula pode ser enquadrado na literatura como um populista.
O populismo pode ser entendido como uma estratégia com discurso e lógica dentro da ação política que um líder adota dentro de um determinado contexto. Esse líder pode se filiar a diferentes partidos – tanto de esquerda quanto de direita – e mesclar diferentes doutrinas ideológicas. Porém, uma coisa que liga todas essas características ao populismo é o conflito do “povo versus elite”.
O populista cria uma retórica onde a sociedade é dividida em dois blocos homogêneos e antagônicos: o povo, de maioria virtuosa e explorada pela elite, e a elite, uma minoria corrupta, egoísta e acumuladora que sequestra as instituições e impede que a vontade do povo prevaleça (DORNBUSCH; EDWARDS, 1991).
Esse populista se apresenta como antissistema e o único representante autêntico do povo e, em nome dessa representação exclusiva, tende a deslegitimar instituições, que seriam “protetoras da elite”.
No caso da direita populista brasileira, o ataque é direcionado a elites nos campos religioso, cultural, midiático ou político que protegeriam estrangeiros, religiões e etnias que poderiam ser uma ameaça à identidade e à cultura nacionais.
Já no caso do populismo de esquerda, o discurso se concentra no antielitismo econômico. As elites econômicas – como mercado financeiro, capitalismo, Banco Mundial, big techs, ,ultinacionais, globalização – supostamente saqueiam o país em detrimento do povo.
Em ambos os casos, a solução proposta é quase sempre um pacote de políticas intervencionistas e nacional-desenvolvimentistas – ou qualquer medida que tenha forte papel do Estado.
Apesar de o populismo emergir como uma expressão de acirramento do conflito social entre antagônicos, está diretamente ligado a uma dimensão econômica. O populismo macroeconômico instrumentaliza as políticas fiscal, monetária e/ou cambial para criar um crescimento artificial e uma redistribuição de renda no curto prazo, ignorando as restrições do balanço de pagamentos e a situação fiscal interna no médio e longo prazo.
Embora as medidas econômicas populistas alcancem os objetivos no curto prazo, acabam ampliando o atraso do país no crescimento estável (ACEMOGLU, 2013).
Além dos elementos já mencionados, o líder populista costuma apresentar outras características recorrentes: adota um estilo abertamente paternalista, tende a simplificar em excesso problemas complexos, recorre com frequência a uma linguagem provocativa ou agressiva, incentiva a polarização política e se apoia em práticas de clientelismo e compadrio. Muitas vezes, também utiliza o mecenato – por meio de incentivos e patrocínios a artistas e atividades culturais – como forma de reforçar sua base de apoio e sua própria imagem como representante exclusivo do “povo”.
O terreno fértil para o crescimento de um líder populista é a insatisfação dos formuladores de políticas e de grande parte da população com o desempenho da economia, acompanhada de uma percepção difusa de que a situação “poderia estar melhor”.
Em geral, esse contexto é marcado por crescimento baixo ou moderado, estagnação ou mesmo depressão econômica após tentativas de estabilização. Uma distribuição de renda altamente desigual também tende a gerar tensões políticas e econômicas adicionais.
Um bom equilíbrio externo (com acúmulo de reservas internacionais), alguma melhora nas contas públicas e um quadro de relativa estabilização podem constituir o espaço perfeito – ainda que não necessariamente sábio – para a implementação de um programa altamente expansionista.
Em resumo, a macroeconomia populista utiliza o gasto público para transferir recursos aos mais pobres, elevando o consumo e, com isso, a demanda por aumento da produção. A capacidade ociosa pode ser entendida como a situação em que a economia não opera em seu pleno potencial. Essa capacidade ociosa é utilizada como base retórica para justificar uma maior intervenção estatal (DORNBUSCH; EDWARDS, 1991, p. 12).
O que ocorre é que, no início, as políticas parecem justificáveis: o crescimento acelera, os salários sobem e o desemprego diminui. Os formuladores de política econômica garantem que não haverá inflação e que eventuais desequilíbrios entre oferta e demanda poderão ser compensados por meio de importações.
Com o tempo, porém, a economia começa a enfrentar dificuldades em razão da forte expansão da demanda. A formação de estoques, o realinhamento de preços relativos e a desvalorização cambial fazem a inflação aumentar, ainda que com os salários nominais subindo. O déficit público se agrava devido aos subsídios cada vez mais caros e ao crescimento dos gastos, o que retroalimenta a inflação.
A queda na arrecadação de impostos deteriora violentamente o déficit orçamentário, o governo tenta reestabilizar cortando subsídios e induzindo uma desvalorização real da moeda. Os salários reais caem e as políticas se tornam instáveis.
Em seguida, outro governo – seja o próximo eleito, seja um substituto pós-impeachment – assume o comando e implementa uma estabilização de orientação ortodoxa. Os salários reais tendem a cair e permanecer deprimidos porque o investimento se encontra reprimido pela fuga de capitais. Essa dinâmica decorre de um fato simples: o capital é móvel; o trabalho não. Enquanto o capital pode se deslocar para escapar de políticas ruins, o trabalho permanece preso à jurisdição que adotou essas políticas.
Por que o Lula se encaixaria nesse conceito? Porque o atual presidente discursa incentivando os conflitos sociais entre a “elite escravista” e a classe média “ostentadora” contra o “povo”, além de criar acirramento com o setor financeiro e bancário, argumentando que “essas pessoas” só falam em teto de gastos, enquanto há pessoas com fome (GAZETA DO POVO, 2022; ESTADÃO, 2022; O GLOBO, 2023).
O antigo ministro da Economia, Paulo Guedes, praticou reformas microeconômicas, fez ajustes das contas públicas, privatizações, diminuiu impostos e burocracia. Apesar das críticas que possam ser feitas, o ex-ministro da Fazenda entregou um país com contas fiscais melhores do que pegou (PESSOA, 2022).
Lula e seu ministro da Fazenda – apelidado popularmente como “Taxad” – têm apresentado números expressivos de crescimento do PIB e de redução do desemprego. O aumento do consumo das famílias é real e, à primeira vista, parece um sinal positivo, mas o ambiente macroeconômico que sustenta esse crescimento não é sustentável.
Grande parte desses números expressivos vem do aumento do consumo financiado por transferências de renda e por uma política fiscal mais expansionista. O governo utiliza Previdência, Bolsa Família, abono salarial, seguro-desemprego e outros programas como motores adicionais da demanda, elevando a renda disponível de uma parcela relevante da população.
O problema é que esse impulso ocorre em uma economia com pouca capacidade ociosa, isto é, que já opera próxima do seu limite produtivo. Nessa situação, o aumento da demanda não se traduz principalmente em mais produção, mas em pressão sobre os preços.
Em paralelo, a inflação já rompeu tanto o centro quanto o teto da meta. A meta de inflação tem centro em 3%, com limite superior de 4,5%, mas o IPCA ultrapassou esse teto em outubro de 2024, quando atingiu 4,76%, e desde então não retornou sequer ao limite superior da banda, mesmo com a taxa básica de juros em 15% ao ano.
As contas públicas também se encontram deterioradas. Em setembro deste ano, último resultado divulgado pelo Banco Central, responsável pela compilação dos dados, a dívida bruta brasileira alcançava 78,1% do PIB, o equivalente a R$ 9,75 trilhões. Esse nível de endividamento, combinado com inflação acima da meta e juros elevados, reforça a percepção de que o atual ciclo de crescimento baseado em expansão do gasto e do consumo tem fôlego limitado e aumenta o risco de instabilidade à frente.
Na última reunião, o Banco Central optou por manter a taxa Selic no patamar de 15% ao ano, o que eleva o custo de rolagem da dívida pública e faz com que o seu estoque cresça ainda mais rapidamente.
Diante desse quadro, o governo tende a terceirizar a responsabilidade, intensificando um discurso de cunho populista que apresenta o Banco Central como defensor dos interesses da “elite” contra a vontade do “povo”.
Lula não usa o populismo macroeconômico para tirar o país do atraso, mas para garantir a sobrevivência eterna do PT no poder. Compra apoio político com gasto público, distribui esmolas em vez de oportunidades e mantém o povo preso a um sistema de pão e circo, enquanto a economia enfraquece, a dívida explode e o futuro é hipotecado.
Referências:
DORNBUSCH, Rudiger; EDWARDS, Sebastian. The Macroeconomics of Populism in Latin America. Chicago: University of Chicago Press, 1991.
ACEMOGLU, Daron; EGOROV, Georgy; SONIN, Konstantin. A Political Theory of Populism. Quarterly Journal of Economics, v. 128, n. 2, p. 771–805, 2013. Disponível em: https://doi.org/10.1093/qje/qjt004.
LULA diz que elite no Brasil é escravista e classe média ostenta acima do necessário. Gazeta do Povo, 18 ago. 2022. Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/eleicoes/breves/lula-diz-que-elite-no-brasil-e-escravista-e-classe-media-ostenta-acima-do-necessario/.
LULA a banqueiros: “Para que acumular tanto dinheiro, imbecil? Distribua um pouco”. Estadão, 28 mar. 2023. Disponível em: https://www.estadao.com.br/politica/lula-a-banqueiros-para-que-acumular-tanto-dinheiro-imbecil-distribua-um-pouco-veja-video/.
Em tom de campanha, Lula reedita tática da herança maldita e cita Bolsonaro uma vez a cada dois dias. O Globo, 17 fev. 2023. Disponível em: https://oglobo.globo.com/politica/noticia/2023/02/em-tom-de-campanha-lula-reedita-tatica-da-heranca-maldita-e-cita-bolsonaro-uma-vez-a-cada-dois-dias.ghtml.
PESSOA, Samuel. Por que a herança de Bolsonaro na economia não é tão ruim assim. Blog do IBRE – FGV. Disponível em: https://blogdoibre.fgv.br/posts/por-que-heranca-de-bolsonaro-na-economia-nao-e-tao-ruim-assim.