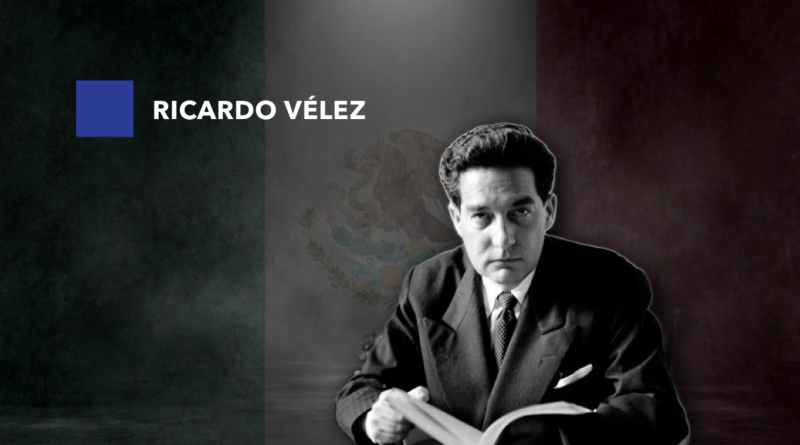O Estado mexicano como “ogro filantrópico”, segundo Octavio Paz (1914-1998) (terceira parte)
Para ler a parte dois, clique aqui.
II – O Estado Patrimonial Mexicano como “Ogro Filantrópico”
Desenvolverei os seguintes itens nesta segunda parte: 1 – Ambigüidade da sociedade mexicana em face da modernidade. 2 – Patriarcalismo e Caudilhismo. 3 – Patrimonialismo Estamental. 4 – Estatismo e hipertrofia do Executivo. 5 – Saindo do Patrimonialismo no México: o caminho da reforma política.
1 – Ambiguidade da sociedade mexicana perante a Modernidade.
Octavio Paz considerava que a essência do Patrimonialismo do seu país decorria da ambigüidade em face da modernização. Pelo fato de ter-se expandido à sombra do Império Espanhol (e, a fortiori, sob a proteção do Catolicismo de cruzada peninsular), os mexicanos nunca acordaram para o uso sistemático da razão. A Ilustração ficou a meio caminho. Não houve a formulação de uma ética laica, como aquela que passou, em determinado momento, a inspirar às Nações evangelizadas pelo Protestantismo. O princípio do livre exame foi afogado pela ortodoxia da Segunda Escolástica e pela Contra-Reforma. Ambigüidade: essa é a característica fundamental da cultura mexicana, em face do ideal da modernização. Mas, em decorrência do peso da tradição contra-reformista, jamais foi focalizada completamente essa opção, a começar pela livre crítica da razão da qual emergiriam o Individualismo e a Ilustração. Assim, quando pensam a modernização do seu país, os mexicanos oscilam entre o fascínio perante o progresso da República Americana e a rejeição da modernidade, que eles carregam no seu DNA ameríndio e peninsular. Dolorosa divisão. A respeito dessa complexa realidade, escrevia o Nobel mexicano:
“A expulsão dos Jesuítas precipitou a crise intelectual dos crioulos: não só ficaram sem mestres, como também sem um sistema filosófico que justificasse a sua existência. Muitos deles voltaram então os olhos em direção a uma outra tradição inimiga da tradição que tinha fundado a Nova Espanha. Nesse momento, tornou-se visível e palpável a radical diferença entre as duas Américas. Uma, a de língua inglesa, é filha da tradição que fundou o mundo moderno: a Reforma, com as suas consequências sociais e políticas, a democracia e o capitalismo; outra, a nossa, a de fala portuguesa e castelhana, é filha da monarquia universal católica e da Contra-Reforma. Os crioulos mexicanos não podiam embasar o seu projeto de abertura à modernidade na sua tradição política e religiosa: adotaram, embora sem adaptá-las, as ideias da outra tradição (…). Os Estados Unidos aparecem na nossa história durante esse segundo momento. Aparecem não como um poder estranho que deve ser combatido, mas como um modelo que deve ser imitado. Foi o princípio de uma fascinação que, se bem mudou de forma ao longo dos últimos cento e cinquenta anos, não decresceu, contudo, em intensidade. A história dessa fascinação confunde-se com a dos grupos de intelectuais que, desde a Independência, elaboraram todos esses programas de reforma social e política, com os que intentaram transformar o país numa nação moderna. Por cima das suas diferenças, há uma ideia comum que inspira aos liberais, aos positivistas e aos socialistas: o projeto de modernizar o México. A partir dos primeiros anos do século XIX, esse projeto define-se perante – a favor ou contra – os Estados Unidos. A paixão dos nossos intelectuais pela civilização norte-americana vai do amor ao rancor e da adoração ao horror. Formas contraditórias mais coincidentes da ignorância: num extremo, o liberal Lorenzo de Zavala (1788-1836), que não vacilou em tomar o partido dos texanos na sua guerra contra o México; no outro, os marxistas-leninistas contemporâneos e os seus aliados, os teólogos da libertação, que fizeram da dialética materialista uma encarnação do Espírito Santo, e do imperialismo norte-americano a prefiguração do Anticristo” [27].
A ambigüidade com que a imaginação mexicana representou o relacionamento com os Estados Unidos, no sentir de Paz, estruturou-se ao redor de uma versão do mito do gigante bobão mas poderoso, que pode nos esmagar e cujo castelo misterioso nos enche de sonhos. Disneyworld é o pano de fundo dos nossos sonhos (os dos mexicanos e, em geral, os de todos nós, latino-americanos). Perigo e atração, ódio e amor, identidade e estranheza, ambiguidade representada no terreno das ideias com a crítica ferrenha contra tudo que é americano, mas que se encontra também espelhada nos nossos planos de modernização que, invariavelmente, olham para o gigante do norte. No terreno mais subtil da imaginação e do subconsciente, é a dialética entre o Mundo dos Sonhos e a Casa do Gigante.
A respeito desse ponto, o Nobel mexicano escrevia: “Antes de serem uma realidade, os Estados Unidos foram para mim uma imagem. Não é estranho: desde crianças os mexicanos vemos esse país como o outro. Um outro que é inseparável de nós e que, ao mesmo tempo, é radical e essencialmente estranho. No norte do México a expressão o outro lado designa aos Estados Unidos. O outro lado é geográfico: a fronteira; cultural: uma outra civilização; lingüístico: uma outra língua; histórico: um outro tempo (os Estados Unidos correm perseguindo o futuro, enquanto nós ainda estamos amarrados ao nosso passado); metafórico: eles são a imagem de tudo quanto não somos. São a estranheza mesma. Só que estamos condenados a viver com essa estranheza: o outro lado é o lado vizinho. Os Estados Unidos estão sempre presentes entre nós, inclusive quando nos ignoram ou nos dão as costas; a sua sombra cobre todo o continente. É a sombra de um gigante. A ideia que temos desse gigante é a mesma que aparece nos contos e nas lendas. Um grandalhão generoso e um pouco simples, um ingênuo que ignora a sua força e ao qual é possível enganar, mas cuja cólera pode nos destruir. À imagem do gigante bom e bobalhão justapõe-se a do ciclope astuto e sanguinolento (…)” [28].
O escritor mexicano particularizava a ambiguidade entre passado e futuro, típica da cultura mexicana, como a representação daquilo que dura (a pedra, a tradição), em face daquilo que é passageiro (a máquina, a inovação). Mexicanos e chicanos ancoraram definitivamente num passado de tradições imutáveis e, embora o segundo grupo more nos Estados Unidos, manteve-se, sempre, fiel às suas crenças ancestrais. Dos grupos imigrantes na República Americana, os chicanos são, de longe, os que melhor se subtraíram às influências culturais norte-americanas. O nosso pensador exprimia esse ponto de vista da seguinte forma:
“A conquista do futuro é a tradição norte-americana. Por isso é a tradição da mudança, enquanto a hispânica é a tradição da resistência à mudança. Espanha e as suas obras: construções perduráveis e significados eternos, intemporais. O valioso é , para nós, sinônimo de duração. A herança pré-colombiana aumenta essa inclinação: a pirâmide é a imagem da imutabilidade. As oposições entre norte-americanos e mexicanos sintetizam-se nas nossas atitudes em face da mudança. Para nós, o segredo não consiste em chegar antes, mas em ficarmos onde estamos. É a oposição entre o vento e a rocha. Não falo de ideias e filosofias, mas de crenças e estruturas mentais inconscientes; qualquer uma que seja a nossa ideologia, mesmo se for progressista, nós referimos instintivamente o presente ao passado enquanto os norte-americanos referem-no ao futuro. Os trabalhadores mexicanos que emigram para os Estados Unidos mostraram uma notável capacidade de inadaptação à sociedade norte-americana. Essa capacidade é feita de insensibilidade diante do futuro. Nele, o passado está vivo. É o mesmo passado que preservou aos chicanos, provavelmente a minoria dos Estados Unidos que melhor conservou a sua identidade. Em México não foram os profissionais do anti-imperialismo os que melhor resistiram, mas a gente humilde que faz peregrinações ao santuário da Virgem de Guadalupe. O nosso país sobrevive graças ao seu tradicionalismo” [29].
O tradicionalismo mexicano é, no sentir de Paz, um constante se projetar em direção ao passado das tradições. Ora, como elas são várias, trata-se, portanto, de conviver com múltiplos passados. Como entre os mexicanos não se instalou definitivamente a Ilustração, jamais foi feita uma crítica a esses passados, de forma que eles continuam assombrando ao cidadão mexicano contemporâneo. Não acontece isso com o cidadão norte-americano herdeiro dos pillgrim brothers, filhos da crítica calvinista aos valores medievais. Eles já nasceram projetados para o futuro, em decorrência dessa herança crítica. Para os norte-americanos, a sua tradição é a crítica ao passado efetivada no início da modernidade; a tradição deles é o Iluminismo enquanto, para os mexicanos, as múltiplas tradições em que ancoram rejeitam a crítica iluminista. A respeito, o nosso autor escrevia acerca dessas ambiguidades, utilizando ainda a imagem do castelo do gigante:
“Viajar pelos Estados Unidos, para um mexicano, é penetrar no castelo do gigante e percorrer as suas câmaras de horrores e maravilhas. Mas há uma diferença: o Castelo do ogro nos surpreende pelo seu arcaísmo; os Estados Unidos pela sua novidade. O nosso presente está, sempre, um pouco atrás do verdadeiro presente, enquanto que o deles está um pouco mais adiante. O deles é um presente em que já está escrito o porvir; o nosso está ainda amarrado ao passado. Faço mal em usar o singular quando falo do nosso passado: são muitos, ainda estão vivos e todos pelejam continuamente no nosso interior. Astecas, maias, otomões, castelhanos, mouros, fenícios, galegos: emaranhado de raízes e ramas que nos afogam. Como conviver com eles sem ser o seu prisioneiro? Essa é a pergunta que, sem cessar, fazemos e à qual não temos conseguido dar uma resposta definitiva. Não temos sabido assumir o nosso passado, talvez, porque tampouco temos sabido fazer a sua crítica. A dificuldade dos norte-americanos é precisamente a contrária: nasceram como uma crítica cortante ao passado. Essa crítica foi uma afirmação não menos radical dos valores da modernidade, tal como tinham sido definidos primeiro pela Reforma e, depois, pela Ilustração. Não é que não tenham um passado; é um passado orientado ao futuro” [30].
A ambiguidade cultural mexicana, do ângulo ideológico, traduziu-se em algo que é também observável no Brasil: os mexicanos adotaram a retórica liberal, sem que as palavras fossem sustentadas por realidades correspondentes aos significantes [31]. Esvaziamento da linguagem numa dolorosa bifurcação entre significantes provenientes do Iluminismo e significados vinculados às tradições telúricas que negavam essa linguagem. A respeito, escrevia Paz:
“A carreira imperial da República norte-americana coincide, em sua primeira parte, durante a segunda metade do século XIX, com a implantação (no México) do regime liberal, que não tardou em se transformar em ditadura. É um fenômeno que, mutatis mutandis, repete-se em toda a América Espanhola. A revolução liberal, iniciada na Independência, não resultou na implantação de uma verdadeira democracia, nem no nascimento de um capitalismo nacional, mas numa ditadura militar e num regime econômico caracterizado pelo latifúndio e as concessões a empresas e consórcios estrangeiros, especialmente norte-americanos. O liberalismo foi infecundo e não produziu nada comparável às criações pré-colombianas ou às da Nova Espanha: nem pirâmides nem conventos, nem mitos cosmogônicos nem poemas de Soror Juana Inés de la Cruz (1651-1695). México seguiu sendo o que tinha sido, mas já sem acreditar naquilo que era. Os velhos valores caíram por terra, não as velhas realidades. Cedo foram recobertas pelos novos valores progressistas e liberais. Realidades mascaradas: começo da inautenticidade e da mentira, males endêmicos dos países latino-americanos. No início do século XX estávamos já instalados em plena pseudomodernidade: estradas de ferro e latifúndio, constituição democrática e um caudilho dentro da melhor tradição hispano-árabe, filósofos positivistas e caciques pré-colombianos, poesia simbolista e analfabetismo. A adoção do modelo norte-americano contribuiu para a dissolução dos valores tradicionais; a ação política e econômica do imperialismo norte-americano fortaleceu as arcaicas estruturas sociais e políticas. Essa contradição revelou que a ambivalência do gigante não era imaginária mas real: o país de Thoreau era também o de Roosevelt-Nabucodonosor” [32].
Vale a pena anotar, à margem desta última citação que, nas duas derradeiras linhas, o nosso pensador deixava explícita, mais uma vez, a duplicidade não apenas da representação que os mexicanos tinham de si próprios – portadores de uma pseudomodernidade – como a dos norte-americanos, que eram imaginados, ao mesmo tempo, como o gigante perverso que a todos encadeava e o país que encarnava os ideais da liberdade. No fundo da ambigüidade mexicana – e também ibero-americana – como fonte secreta daquela, esconde-se a ambigüidade de que foi vítima o Império espanhol sob a dinastia dos Áustrias. Dominavam o maior império do mundo naquele momento (final do século XVI e primeiras décadas do século XVII) mas permaneciam ancorados na escala de valores da Idade Média. Essa ambiguidade ibérica foi a responsável pelo progressivo desmonte do Império espanhol e a sua saída de cena, deixando na primeira linha da política europeia outras potências: a França e a Inglaterra. A respeito, nosso autor escrevia:
“As sociedades não morrem vítimas de suas contradições mas da sua incapacidade para resolvê-las. Quando isso ocorre, uma espécie de parálise imobiliza o corpo social, primeiro os centros pensantes e deliberativos, depois os braços executores. A parálise é uma resposta da sociedade a perguntas sobre as que a sua tradição e os pressupostos de sua história não oferecem outra saída do que o silêncio. Isso foi o que aconteceu com o Império espanhol. Todas as desgraças dos povos hispano-americanos são efeitos longínquos desse estupor feito de obstinação, orgulho e cegueira que tomou conta da monarquia austríaca em meados do século XVII” [33].
2 – Patriarcalismo e Caudilhismo.
O pensador mexicano achava que o Estado, tanto no México quanto no resto da América Latina, tinha-se consolidado, fundamentalmente, como uma instituição de tipo patrimonialista. Não ocorreu, em terras americanas, sob a inspiração ibérica, um Estado de tipo contratualista, como o que acabou sendo organizado na América Anglo-Saxã (nos Estados Unidos e no Canadá). O nosso foi um tipo de organização patrimonialista em que o poder foi organizado de forma semelhante a como o Patriarca organiza a sua família: o Estado emerge da hipertrofia de um poder patriarcal original, que alarga a sua dominação doméstica sobre territórios, pessoas e coisas extrapatrimoniais, passando a administrá-los como propriedade familiar (patrimonial) [34]. A propósito dessa forma familística de organização do poder em Ibero-America, escrevia Octavio Paz:
“Os primeiros germes da democracia neste continente aparecem nas comunidades e seitas dissidentes da Nova Inglaterra. Certamente os espanhóis estabeleceram, nas terras conquistadas, a instituição do ajuntamento, fundado no auto-governo das vilas e cidades. Mas os ajuntamentos viveram sempre uma vida precária, estrangulados por uma extensa e complexa teia de jurisdições e privilégios burocráticos, eclesiásticos e econômicos. Nova Espanha foi, sempre, uma sociedade hierárquica, sem governo representativo e dominada pelo poder dual do Vice-Rei e do Arcebispo. Max Weber dividia os regimes pré-modernos em duas grandes categorias: o sistema feudal e o patrimonial. No primeiro, o Príncipe governa com – às vezes, contra – os seus iguais pelo nascimento e o rango: os barões; no segundo, o Príncipe rege a nação como se fosse o seu patrimônio e a sua casa; os seus ministros são os seus familiares e os seus criados. A monarquia espanhola é um exemplo de regime patrimonialista. Também o foram (e o são) as suas sucessoras, as repúblicas democráticas da América Latina, oscilantes sempre entre o Caudilho e a Demagogia, o Pai déspota e os Filhos revoltosos” [35].
Esse processo de diferenciação na organização do Estado decorre, no sentir de Paz, da presença de suas tradições religiosas: a reformista e a contra-reformista. Nos países da América em que vingou a Reforma Protestante, consolidou-se o tipo de Estado contratualista, com sociedades altamente diversificadas; já nos países em que vingou a Contra-Reforma, terminou prevalecendo o tipo de Estado patrimonial. A propósito, Paz escrevia o seguinte: “As comunidades religiosas da Nova Inglaterra firmaram ciosamente, desde o seu nascimento, a sua autonomia perante o Estado. Inspirados no exemplo das igrejas cristãs dos primeiros séculos, estes grupos foram sempre hostis à tradição autoritária e burocrática da Igreja católica. Desde Constantino, o cristianismo tinha vivido em simbiose com o poder político; durante mais de mil anos, o modelo de Igreja tinha sido o Império cesáreo-burocrático de Roma e Bizâncio. A Reforma foi o rompimento dessa tradição. Por sua vez, as comunidades religiosas da Nova Inglaterra levaram essa ruptura às últimas consequências, enfatizando os traços igualitários e a tendência ao auto-governo dos grupos protestantes dos Países Baixos. Na Nova Espanha, a Igreja foi, ante tudo, uma hierarquia e uma administração, ou seja, uma burocracia de clérigos que lembra, em alguns de seus aspectos, a instituição dos mandarins do antigo império chinês. Daí a admiração dos jesuítas, no século XVII, em face do regime de K’ang-shi, no qual viram realizada, por fim, a sua ideia do que poderia ser uma sociedade hierárquica e harmoniosa. Uma sociedade estável mas não estática, como um relógio que, embora sempre marche, dá sempre as mesmas horas. Nas colônias inglesas, a igreja não foi uma hierarquia de clérigos donos do saber, mas a livre comunidade dos fiéis. A igreja foi plural e esteve, desde o início, constituída por uma rede de associações de crentes, verdadeira prefiguração da sociedade política da democracia” [36].
Octavio Paz, como no Brasil Gilberto Freyre [37] e Oliveira Vianna [38], considerava que a base culturológica sobre a qual assentou a sociedade, ao longo dos cinco séculos de história, tinha sido a família. Esta primeira organização social, essa célula mater foi a origem de tudo e é a partir dela que deve ser entendida a teia de crenças fundamentais que alimentam o imaginário coletivo dos Mexicanos. O Patriarcalismo como fonte do Patrimonialismo. Esse foi o caminho percorrido pela sociedade. A propósito do papel essencial representado pela família, escrevia o nosso autor: “No fundo da psiquê mexicana há realidades recobertas pela história e pela vida moderna. Realidades ocultas, mas presentes. Um exemplo é a nossa imagem da autoridade política. É evidente que, nela, há elementos pré-colombianos e, também, restos de crenças hispânicas, mediterrâneas e muçulmanas. Por trás do respeito ao Senhor Presidente está a imagem tradicional do Pai. A família é uma realidade muito poderosa. É o lar, no sentido originário da palavra: centro e reunião dos vivos e dos mortos, ao mesmo tempo altar, cama onde se pratica o amor, fogão onde se cozinha, cinza que enterra os antepassados. A família mexicana atravessou quase indemne vários séculos de calamidades e somente até agora começa a se desintegrar nas cidades. A família deu aos mexicanos as suas crenças, valores, conceitos sobre a vida e a morte, o bom e o mau, o masculino e o feminino, o belo e o feio, o que se deve fazer e o indevido. No centro da família: o pai. A figura do pai bifurca-se na dualidade do patriarca e do macho. O patriarca protege, é bom, poderoso, sábio. O macho é o homem terrível, o chingón, o pai que foi embora, que abandonou mulher e filhos. A imagem da autoridade mexicana inspira-se nesses dois extremos: O Senhor Presidente e o Caudilho” [39].
[27] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”. In: El ogro filantrópico, ob. cit., pp. 55-56.
[28] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p 53.
[29] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 66.
[30] PAZ, Octavio. “El pasado y sus presentes”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., pp. 65-66.
[31] No caso brasileiro, os ideólogos da República, Rui Barbosa à testa, adotaram os princípios liberais consagrados na Carta de 24 de Fevereiro de 1891 – quase uma cópia da Carta Norte-Americana de 1786, mas à luz daquela praticaram uma autêntica ditadura de oligarquias, a denominada “Política dos Governadores”. No Rio Grande do Sul, os Castilhistas, no mesmo período, adotaram a retórica liberal, se mantendo, no entanto, encastelados na visão privatista do poder. A retórica liberal serviu para angariar votos, quando necessário, mas não implicou em verdadeira liberalização do regime. Essa síndrome da duplicidade perpetuou-se até a Revolução de 1930, comandada por Getúlio ao amparo de uma retórica que defendia eleições livres e anistia, ideais abruptamente negados quando os revolucionários chegaram ao poder. Há verdadeiramente uma brecha significativa entre os ideais da campanha da Aliança Liberal, apregoados em 1929 e o regime que se instaurou em 1930. Cf., a respeito, o documento intitulado: Aliança Liberal – Documentos da campanha presidencial, 2ª edição coordenada por mim. Brasília: Câmara dos Deputados, 1983. Um reação à duplicidade existente no início da República. Com relação à política dos governadores, cf., da minha autoria: A propaganda republicana, 1ª edição, Brasília: Universidade de Brasília, Decanato de Extensão, 1982, no contexto do “Curso de Introdução ao Pensamento Político Brasileiro”.
[32] PAZ, Octavio, “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., pp. 63-64.
[33] PAZ, Octavio, “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., pp. 68-69.
[34] O ensaista mexicano, com certeza, tinha lido a obra de Max Weber, Economía y Sociedad, (tradução ao espanhol de José Medina Echavarría, et Alii), primeira edição em espanhol, México: Fondo de Cultura Económica, 1944, IV volume, pp. 139-140.
[35] PAZ, Octavio, “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 58.
[36] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., pp. 88-89.
[37] Cf. FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala – Formação da família brasileira sob o regime de economia patriarcal. 25ª edição, Rio de Janeiro: José Olympio, 1987.
[38] Cf. VIANNA, Francisco José de Oliveira. Populações Meridionais do Brasil e Instituições Políticas Brasileiras, 1ª edição num único volume. (Introdução de Antônio Paim). Brasília: Câmara dos Deputados, 1982.
[39] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 23.
– Artigo publicado originalmente no site do autor.