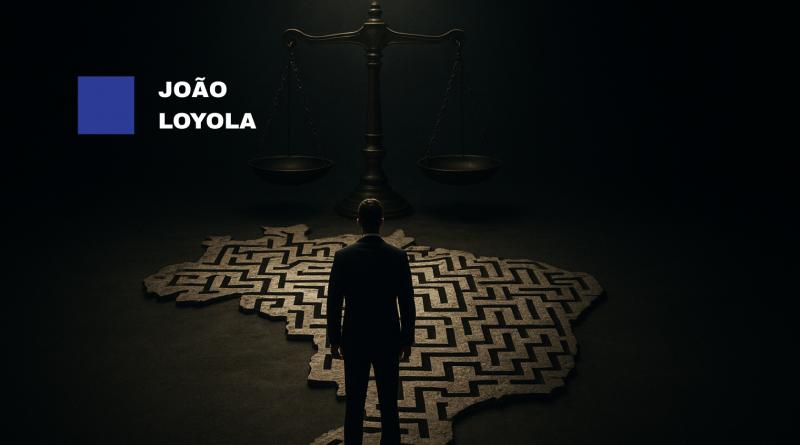“Sistemas Legais Muito Diferentes do Nosso” e o labirinto brasileiro
A história humana é, em grande medida, a história de como sociedades diferentes buscaram organizar a justiça. Cada comunidade, em seus próprios termos, precisou responder às mesmas perguntas: como resolver disputas, como punir crimes, como proteger contratos e como equilibrar a vida em sociedade sem mergulhar no caos. O livro Sistemas Legais Muito Diferentes do Nosso, de David Friedman, Peter Leeson e David Skarbek, é um mergulho fascinante nessa diversidade. Ele nos mostra que a lei e a ordem podem nascer de fontes muito distintas do Estado centralizado moderno, questionando o mito de que apenas o monopólio estatal é capaz de assegurar justiça.
Na China Imperial, o Direito se consolidou como instrumento de organização burocrática e de manutenção do poder do imperador. Era um sistema hierárquico, rígido e eficiente em certos aspectos administrativos. Porém, faltavam garantias fundamentais à liberdade individual, como a presunção de inocência ou a proteção contra a autoincriminação. O lado positivo estava na previsibilidade e na uniformidade do sistema, que reduzia a arbitrariedade local. O negativo era o custo humano: a liberdade individual era sacrificada em nome da ordem e da obediência ao poder central.
Entre os ciganos, o Direito funcionava por meio da reputação. Quem violava normas era punido não por prisão ou multa, mas pelo ostracismo: era expulso da comunidade, perdendo a rede de proteção social que lhe garantia sobrevivência e dignidade. A vantagem era a rapidez e a simplicidade da sanção, que reforçava a coesão comunitária sem necessidade de aparato burocrático. A desvantagem era a ausência de um recurso externo: se a comunidade errava ou agia de forma injusta, o indivíduo não tinha a quem recorrer.
Os Amish, grupo religioso protestante nos Estados Unidos, aplicam um sistema semelhante. As normas são baseadas na tradição e na religião, e a principal forma de punição é o “Meidung”, o ostracismo social. Quem desobedece às regras pode ser isolado da comunidade, até mesmo pela própria família. O modelo garante disciplina e preserva a identidade cultural do grupo, mas limita drasticamente a liberdade individual de contestação, pois a saída da comunidade significa a perda de todo suporte social e econômico.
O Direito Judaico é um exemplo de sistema religioso policêntrico que sobreviveu por milênios. Baseado na Torá e no Talmud, manteve sua autoridade mesmo durante séculos de diáspora. Seu ponto forte é a adaptabilidade: por não depender de um Estado, ele se moldava às condições locais, mantendo a coesão cultural. Porém, sua aplicação dependia da adesão voluntária das comunidades, e frequentemente convivia em tensão com as autoridades estatais dos países onde os judeus viviam.
O Direito Islâmico, a Sharia, representa um modelo abrangente, que regula tanto a vida civil quanto a religiosa. Sua força está na legitimidade que confere aos olhos dos fiéis, criando um sistema que não se limita a contratos ou disputas, mas molda toda a vida social. O problema, em termos de liberdade, é a fusão entre lei e religião: a diversidade de crença e de comportamento tende a ser reprimida em nome da uniformidade espiritual.
Há ainda exemplos curiosos e reveladores, como o Direito dos Piratas. Grupos de piratas do Caribe criaram códigos internos para regular suas embarcações, definir divisão de saques e limitar o poder dos capitães. Eram arranjos surpreendentemente democráticos, baseados em contratos coletivos. A vantagem era a eficácia na manutenção da disciplina em grupos potencialmente caóticos. A desvantagem era evidente: funcionavam apenas dentro de uma estrutura criminosa e não ofereciam garantias fora dela.
O Direito dos Prisioneiros segue lógica semelhante. Nas penitenciárias, os próprios detentos criam normas paralelas, regulando desde o comércio interno até os conflitos entre grupos. São regras eficazes em manter a ordem interna, mas à margem da lei oficial. A lição é clara: mesmo em ambientes de coerção absoluta, os indivíduos criam sistemas espontâneos de regulação.
Casos ainda mais radicais de descentralização são encontrados na Islândia do período das sagas e na Irlanda antiga. A Islândia medieval, entre os séculos X e XIII, não tinha Estado central. Disputas eram resolvidas por compensações financeiras entre famílias, mediadas por assembleias locais e árbitros respeitados. O sistema funcionava durante séculos, garantindo previsibilidade sem necessidade de governo central. A liberdade individual era privilegiada, pois não havia monopólio da força. A desvantagem era o risco da desigualdade de poder: famílias mais fortes
tinham maior capacidade de impor seus interesses. A Irlanda antiga funcionava de forma semelhante, com juízes privados (os Brehons) que aplicavam leisconsuetudinárias e resolviam conflitos mediante compensações.
A Somália tradicional também se destacou por séculos sem um Estado central, com clãs que estabeleciam contratos de proteção mútua e compensação. Mesmo após a queda do governo central no século XX, grande parte da população continuou a se reger por esse sistema descentralizado, que se mostrou mais resiliente do que os governos impostos de cima para baixo.
Esses exemplos revelam um padrão: todos os sistemas buscam equilibrar liberdade e ordem, cada um à sua maneira. Uns sacrificam a liberdade em nome da uniformidade; outros preservam a liberdade, mas convivem com riscos de parcialidade ou desigualdade. Nenhum é perfeito, mas todos mostram que a ordem pode nascer sem Estado, por reputação, religião, contratos ou comunidade.
É nesse ponto que a comparação com o Brasil se torna incômoda. Temos um dos sistemas jurídicos mais caros e ineficientes do mundo. O Judiciário consome cerca de 1,3% a 1,6% do PIB, equivalente a mais de R$ 150 bilhões anuais, quatro vezes a média internacional. São mais de 80 milhões de processos ativos, o que significa que praticamente um em cada quatro brasileiros está envolvido em uma disputa judicial. A duração média de um processo civil ultrapassa 900 dias. Insolvências levam quatro anos para serem resolvidas, enquanto, em países desenvolvidos, raramente passam de dois. Gastamos muito, entregamos pouco.
No ápice desse sistema, está o Supremo Tribunal Federal, que deveria ser guardião da Constituição, mas se tornou protagonista político. O STF deixou de ser árbitro para ser jogador, interferindo em políticas públicas, legislando na prática e ampliando seu poder para além da função que lhe foi atribuída. A insegurança jurídica se aprofunda porque a lei se torna aquilo que onze ministros decidem no momento e não aquilo que a Constituição estabelece.
A comparação é inevitável: enquanto outros povos criaram arranjos espontâneos, mais baratos e muitas vezes mais ágeis, o Brasil construiu um sistema jurídico caro, lento e politizado. Os regimes estudados no livro mostram que é possível haver ordem sem um Leviatã centralizador. Já nós, com todo o aparato estatal, continuamos atolados em burocracia, lentidão e decisões arbitrárias. A conclusão é clara: nosso modelo é um dos piores negócios que já fizemos enquanto sociedade. Pagamos caro demais para ter um sistema que entrega de menos e que, em vez de proteger nossa liberdade, se tornou uma das maiores ameaças a ela.