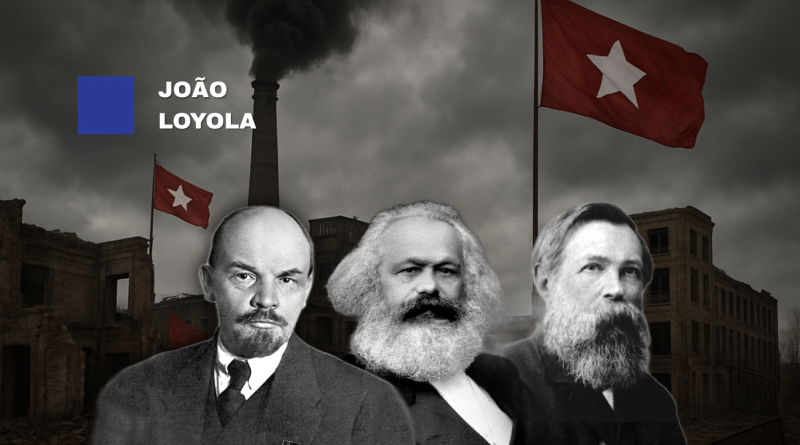O Estado em Marx, Engels e Lênin e o Estado Democrático de Direito liberal
Karl Marx, Friedrich Engels e Vladimir Lênin dedicaram parte significativa de suas reflexões ao tema do Estado, compreendendo-o como peça central na luta de classes e no processo revolucionário. Para eles, o Estado jamais seria neutro ou um árbitro imparcial entre grupos sociais. Em A Ideologia Alemã e no Manifesto Comunista, Marx e Engels descrevem o Estado como um “comitê executivo da burguesia”, uma superestrutura política erguida sobre a base econômica capitalista, cujo objetivo é garantir a reprodução do poder da classe dominante. Engels, em A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, aprofundou essa leitura histórica, mostrando que o Estado não surge para harmonizar interesses, mas para conter conflitos sociais, sempre em benefício da classe economicamente hegemônica. Lênin, em O Estado e a Revolução (1917), leva esse raciocínio ao extremo: o Estado seria apenas um instrumento de dominação de classe, que deveria ser destruído e substituído por uma ditadura do proletariado como etapa transitória rumo à extinção completa das instituições estatais. A consequência dessa concepção é radical: o Estado liberal, visto como “aparato burguês”, jamais poderia ser reformado, apenas rompido pela força.
Essa teoria da superestrutura conduz a uma consequência prática igualmente drástica: se o Estado liberal é apenas uma forma sofisticada de opressão burguesa, ele não pode ser aperfeiçoado, mas precisa ser rompido pela revolução. Lênin acreditava que o proletariado, uma vez no poder, deveria abolir as instituições da democracia representativa, instaurando um governo revolucionário centralizado, que garantisse a ditadura da maioria trabalhadora até que o Estado se tornasse desnecessário. Na prática, essa lógica justificou regimes de exceção e perseguições políticas em nome da revolução, instaurando sistemas muito mais autoritários do que aqueles que buscavam substituir. A promessa da extinção do Estado deu lugar à hipertrofia burocrática, em que um partido único concentrava poder absoluto e eliminava todas as liberdades individuais em nome de um ideal coletivo difuso.
O contraste com o Estado liberal e democrático é profundo. Se, na leitura marxista-leninista, o Estado é instrumento de uma classe contra outra, para o liberalismo, ele é o resultado de um pacto destinado a limitar a violência e garantir direitos naturais. Locke defendia que vida, liberdade e propriedade são inalienáveis, e o Estado só é legítimo se os proteger. Montesquieu mostrou que a separação dos poderes é condição para evitar abusos, e James Madison, nos Federalist Papers, sustentou que as instituições devem ser desenhadas para controlar o governo e também para obrigá-lo a se controlar a si mesmo. O Estado liberal, portanto, não é a dissolução da política em economia, como queria Marx, mas a construção de instituições que asseguram estabilidade, previsibilidade e respeito ao indivíduo.
A história fornece evidências eloquentes que ajudam a reforçar a comparação. Nos países que adotaram a concepção marxista-leninista, como a União Soviética, Cuba ou a Coreia do Norte, o que se viu não foi a extinção do Estado, mas sua hipertrofia. Em nome da ditadura do proletariado, eliminaram-se partidos de oposição, restringiram-se liberdades civis, perseguiu-se a propriedade privada e subordinou-se a vida individual ao projeto revolucionário. A União Soviética, que deveria caminhar para a dissolução do Estado, consolidou uma burocracia ainda mais opressiva e centralizada, marcada por expurgos políticos e milhões de mortes em campos de trabalhos forçados. Em Cuba, mais de sessenta anos de regime socialista significaram falta de liberdade de expressão, economia estagnada, êxodo populacional e dependência crônica do Estado. Na Coreia do Norte, a lógica marxista-leninista se converteu em uma dinastia ditatorial, mostrando que a promessa de extinção do Estado pode resultar no contrário: a perpetuação indefinida da opressão estatal. Já nas democracias liberais, como os Estados Unidos após 1787, a Inglaterra após a Revolução Gloriosa de 1688 e a Alemanha Ocidental no pós-guerra, as instituições liberais mostraram-se capazes de assegurar crescimento econômico, pluralismo político e liberdade individual. Onde prevaleceu a ordem liberal, floresceram prosperidade e inovação; onde prevaleceu a teoria marxista-leninista, consolidaram-se miséria, repressão e servidão.
A crítica filosófica reforça essa diferença de maneira ainda mais clara. Alexis de Tocqueville advertia, em A Democracia na América, que a liberdade só se preserva quando existem instituições que limitam o poder e estimulam a participação cívica, evitando tanto a tirania do Estado quanto a tirania da maioria. Benjamin Constant distinguia a liberdade dos antigos (coletiva, mas opressiva) da liberdade dos modernos, caracterizada por garantias individuais contra a tirania da coletividade. Edmund Burke lembrava que a sociedade é um pacto entre os mortos, os vivos e os que ainda nascerão, e que revoluções radicais tendem a destruir essa continuidade histórica, instaurando violência no lugar da ordem. Roger Scruton, por sua vez, enfatizava que conservar instituições não é apego ao passado, mas preservação do que se provou essencial à liberdade. Em todos esses autores, o fio condutor é claro: a liberdade política depende de freios institucionais que contenham as paixões revolucionárias e a tentação do poder absoluto. É nesse ponto que a tradição liberal mostra sua força, pois prefere o caminho da evolução gradual e do respeito à ordem jurídica em vez da ruptura violenta.
O Estado liberal moderno, estruturado no constitucionalismo, no império da lei e no respeito à propriedade privada, revelou-se um instrumento não de opressão de classe, mas de contenção do poder e de proteção das liberdades. O que Marx, Engels e Lênin chamavam de “ditadura da burguesia” foi, na verdade, a forma política que permitiu a maior difusão de riqueza e de oportunidades na história humana, ainda que marcada por imperfeições e crises. Ao contrário, a “ditadura do proletariado” prometida pelo marxismo resultou na mais cruel das ditaduras políticas, em que a liberdade foi sacrificada em nome de uma utopia que jamais se concretizou. A própria ideia de que o Estado poderia desaparecer mostrou-se uma falácia: quanto mais se concentrava o poder nas mãos do Partido, mais distante ficava a prometida extinção do Estado.
No Brasil contemporâneo, a distinção entre o modelo marxista-leninista e o liberal não é apenas acadêmica, mas extremamente atual. O Estado Democrático de Direito está constantemente sob pressão de tentativas de expansão desmedida, seja pela burocracia, pelo ativismo judicial ou por projetos populistas que buscam instrumentalizar o aparato estatal. A lição liberal é clara: o Estado não deve ser destruído, mas limitado; não deve ser o centro da vida social, mas o garantidor de um espaço em que a sociedade civil floresça livremente. Ele deve existir apenas para garantir segurança, justiça e liberdade, permitindo que a pluralidade de iniciativas humanas, associações, famílias, empresas e comunidades componham o tecido social de maneira espontânea.
Assim, a comparação entre o Estado de Marx, Engels e Lênin e o Estado liberal democrático não é apenas uma questão de interpretação histórica. Ela mostra que existem dois caminhos opostos: o da revolução permanente e da supressão de direitos, que leva inevitavelmente ao autoritarismo e ao empobrecimento, e o da contenção institucional, que sustenta a liberdade e a prosperidade. A escolha, histórica e prática, já foi feita inúmeras vezes ao redor do mundo. Sempre que se optou pelo modelo marxista-leninista, a promessa de emancipação resultou em servidão. Sempre que se seguiu o caminho liberal, a promessa de liberdade se cumpriu na vida real dos cidadãos, demonstrando que a verdadeira emancipação humana não nasce da destruição do Estado, mas da sua limitação consciente e de sua submissão às regras do direito.