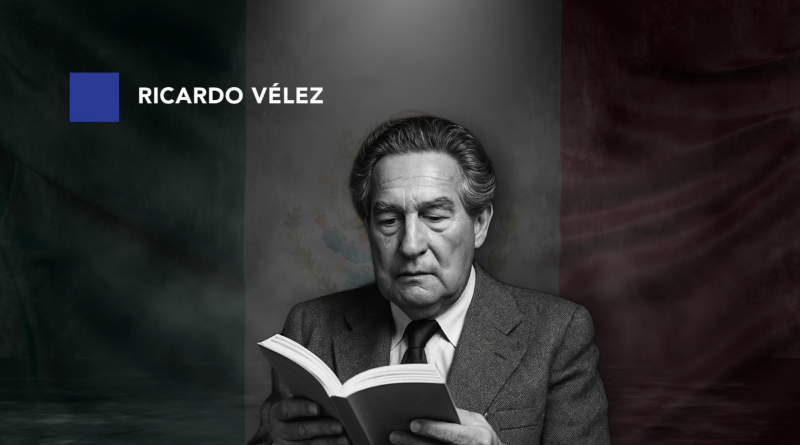O Estado mexicano como “ogro filantrópico”, segundo Octavio Paz (1914-1998) (final)
Para ler a parte quatro, clique aqui.
4 – Estatismo e Hipertrofia do Executivo.
Octavio Paz considerava que o poder no México foi se centralizando cada vez mais ao longo da história plurissecular do país. No início, na era colonial, prevalecia uma espécie de desconcentração de poderes no seio da sociedade, herança sem dúvida das tradições medievais ibéricas, mas que terminou dando ensejo, com o correr dos séculos, a uma modalidade de poder concentrado, sendo que a melhor expressão dessa hipertrofia era o moderno presidencialismo. A propósito dessa evolução, escrevia o nosso pensador:
“Desde a segunda metade do século XVI até finais do XVII, Nova Espanha foi uma sociedade estável, pacífica e próspera. Houve epidemias, ataques de Piratas, escassez de milho, tumultos populares, sublevações de nômades no norte, mas houve, também, abundância, paz e, com frequência, bom governo. Não porque todos os vice-reis fossem bons, embora houve alguns excelentes, mas porque o sistema constituía, de fato, um regime de equilíbrio de poderes. A autoridade do Estado estava limitada pela da Igreja. Por sua vez, o poder do Vice-rei enfrentava-se ao da Audiência e o do Arcebispo ao das Ordens Religiosas. Embora nesse sistema hierárquico os grupos populares não podiam ter senão uma influência indireta, a divisão de poderes e a pluralidade de jurisdições obrigavam o Governo a buscar uma espécie de consenso público. Nesse sentido, o sistema da Nova Espanha era mais flexível que o atual sistema presidencialista. Sob a máscara da democracia, os nossos presidentes são, à maneira romana, ditadores constitucionais. Só que a ditadura romana durava seis meses e a nossa seis anos” [56].
Para o Nobel mexicano, era claro que o poder exercido, no seu país, de forma patrimonial, terminou reforçando o Executivo e o predomínio do Estado sobre a sociedade. Ao ensejo do predomínio dos interesses da elite governante sobre o resto dos cidadãos, houve uma mimetização daqueles por trás de uma aparência revolucionária, que curiosamente produziu o abandono das ideologias liberal e conservadora e a manutenção da retórica revolucionária, sob cujo manto passaram a se resguardar as tradicionais elites patrimonialistas. Traços notadamente reacionários da estrutura do poder no México, que Paz desenhava com as seguintes pinceladas:
“México é um país centralista, o poder legislativo e o judiciário são apêndices obedientes do poder executivo; Porfírio Díaz nomeava os deputados e senadores e, depois, cada Presidente revolucionário fez o mesmo. Nesse aspecto, a única diferença com o Porfiriato é a existência do PRI (Partido Revolucionário Institucional). O resultado dessa palpável contradição entre a verdade legal e a verdade verdadeira, tem sido a aclimatação da mentira na nossa vida pública. Não menos grave do que a naturalização da mentira tem sido o eclipse das idéias conservadoras: ninguém as professa nem ninguém as defende, nem sequer os banqueiros. Explico-me: desapareceu o Partido Conservador e a sua filosofia política, não os interesses conservadores. O que aconteceu é que esses interesses aparecem mascarados, primeiro com a máscara liberal e agora com a revolucionária” [57].
O fortalecimento exagerado do Estado, no entanto, não era privilégio do México do século XX. O estatismo foi, com certeza, o grande mal da política mundial nesse período da História da Humanidade. Octavio Paz pensava que faltou um instrumento conceitual de análise adequado a fim de desmascarar esse terrível problema. Embora conhecedor da obra de Max Weber, o nosso autor parece esquecer, aqui, que a grande contribuição do sociólogo alemão consistiu justamente em ter chamado a atenção para a realidade do Estado, tendo feito da variável política uma área que mereceu toda a sua atenção, notadamente no que tange a explicitar os valores em que se alicerçava a ação humana. Eis a forma em que Paz destacava a magnitude do problema do estatismo no século XX:
“A pergunta sobre a natureza do Estado é a pergunta central da nossa época. Infelizmente, até há pouco renasceu entre os estudiosos o interesse por esse tema. Para piorar as coisas, nenhuma das duas ideologias dominantes – a liberal e a marxista – contém elementos suficientes que permitam articular uma resposta coerente. A tradição anarquista é um precedente valioso, mas é preciso renová-la e alargar as suas análises: o Estado que conheceram Proudhon (1809-1865) e Bakunin (1814-1876) não é o Estado totalitário de Hitler (1889-1945), Stalin (1878-1953) e Mao (1893-1976). Assim, a pergunta acerca da natureza do Estado do século XX continua sem resposta. Autor dos prodígios, crimes, maravilhas e calamidades dos últimos 70 anos, o Estado – não o proletariado nem a burguesia – tem sido e é o personagem do nosso século. É-lo em tal medida que parece irreal: está em todas partes e não tem rosto. Não sabemos o que é nem como é. Como os budistas dos primeiros séculos, que somente podiam representar o Iluminado pelos seus atributos, nós conhecemos o Estado só pela imensidão das suas devastações. É o Desencarnado: não uma presença mas uma dominação. É a impessoa” [58].
O caráter impessoal do Estado: esta é a faceta da política contemporânea que mais impressionava ao nosso pensador. Realidade tipicamente moderna. O Estado, mais do que um mal – no sentido metafísico do termo que indica carência ontológica – é positividade, constitui uma verdadeira máquina que se perpetua nas sociedades pelo mundo afora. A propósito, Paz escrevia, perplexo: ”O Estado do século XX revelou-se como uma forma mais poderosa que a dos antigos impérios e como um senhor mais terrível que os velhos tiranos e déspota. Um senhor sem rosto, desalmado e que age não como um demônio mas como uma máquina. Os teólogos e os moralistas tinham concebido o mal como uma exceção e uma transgressão, uma mancha na universalidade e transparência do ser. Para a tradição filosófica do Ocidente, salvo para as correntes maniquéias, o mal carecia de substância e somente podia ser definido como uma falta, ou seja, como carência de ser. Em sentido estrito não havia mal, mas existiam os maus: exceções, casos particulares. O Estado do século XX inverte a proposição: o mal conquista finalmente a universalidade e apresenta-se com a máscara do ser. Só que na medida em que cresce o mal, tornam-se pequenos os malvados. Já não são seres excepcionais, mas espelhos da normalidade. Um Hitler (1889-1945) ou um Stalin (1878-1953), Um Himmler (1900-1945) ou um Yézhov (1895-1940), assombram-nos não só pelos seus crimes, mas pela sua mediocridade. A sua insignificância intelectual confirma a afirmação de Hannah Arendt (1906-1975) sobre a banalidade do mal. O Estado moderno é uma máquina, mas uma máquina que se reproduz sem cessar” [59].
O Estado moderno, máquina que se reproduz. E, nesse processo diabólico, o instrumento passa a ser o partido único, que impede a diversificação de interesses na sociedade – interesses que deveriam se representar numa pluralidade político-partidária – para dar lugar a uma cinzenta massa amorfa dominada pelo partido. A política contemporânea converte-se, nos países dominados pelo partido único, em exercício de unanimidade, com banimento de qualquer dissenso. Estava assim materializado o ideal pensado por Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), no 8º capítulo do seu Contrato Social [60]. É claro que o fenômeno não se deu no México com toda a carga de terror e de fanatismo que vingaram em outros lugares, ao ensejo de ideologias radicais como o nazismo ou o comunismo russo. O Estado patrimonial mexicano revelou-se, nesse aspecto, mais brando do que outros regimes de partido único. Mas nem por isso o Estado no México deixou de ser autoritário. Um autoritarismo maquiado, que justificaria o título da obra em apreço: o Estado como “ogro filantrópico”. Paz explicava da seguinte forma esse fato:
“Trata-se de um fenômeno universal: os partidos únicos apareceram tanto em países fascistas (Itália e Alemanha), quanto em países com revoluções no poder, como a União Soviética ou o México. E agora o fenômeno, longe de se dissipar, estende-se por todo o Terceiro Mundo. Um fato concomitante foi a aparição dos dogmatismos ideológicos. A ortodoxia é o complemento natural das burocracias políticas e eclesiásticas. Diante das modernas ortodoxias e os seus bispos, sinto a mesma repulsa que tomava conta do pagão Celso, em face dos cristãos primitivos e da sua crença numa verdade única. Felizmente o partido mexicano não é um partido ideológico; como o Partido do Congresso da Índia, é uma coalizão de interesses. Isso explica o fato de que no México nunca houve terror, no sentido moderno da palavra. Houve, sim, violência estatal e violência popular, mas nada parecido com o terrorismo ideológico do nazismo ou do bolchevismo” [61].
O Nobel mexicano destacava a necessidade imperiosa de se fazer, na América Latina, uma crítica ao estatismo, a começar pelo regime que se estruturou em Cuba, modelo mais acabado do vício estatizante entre os herdeiros da colonização ibérica. Sem meias palavras, Octavio Paz partia para uma crítica aprofundada do que ele denominava de “peste autoritária”. Eis as suas palavras: “Tudo isso seria unicamente grotesco se não constituísse um sintoma a mais do fato de que, em Cuba, já está em marcha o fatal processo que converte o partido revolucionário em casta burocrática e o dirigente em César. Um processo universal e que nos faz ver com outros olhos a história do século XX. O nosso tempo é o da peste autoritária: se Marx fez a crítica do capitalismo, corresponde a nós fazermos a do Estado e a das grandes burocracias contemporâneas, tanto as do Leste quando as do Ocidente. Uma crítica que os latino-americanos deveríamos completar com outra, de ordem histórica e política: a crítica ao governo de exceção centrado no homem excepcional, ou seja, a crítica ao caudilho, essa herança hispano-árabe” [62].
Os mexicanos sempre conheceram, ao longo de sua secular história, a realidade de um Estado mais forte do que a sociedade, em que pese os esforços feitos pelos liberais na segunda metade do século XIX, no sentido de colocar o Estado a serviço da sociedade, como instrumento dela. O que terminou prevalecendo foi, com certeza, a indiferenciação social, catalisada pela cooptação de um centro de poder sobre todos os estamentos e grupos sociais. Não houve, no sentir de Paz, propriamente, na história mexicana, um surto continuado de diferenciação da sociedade em classes, que se organizassem ao redor da defesa de determinados interesses. O Estado tomou conta de tudo. No decorrer do século XX, esse fenômeno se tornou mais forte, mediante a incorporação, pelo poder central, da técnica como elemento modernizador do próprio Estado e da sociedade. É o fenômeno que sociólogos brasileiros como Simon Schwartzman [63] e Antônio Paim [64] denominaram de neopatrimonialismo ou patrimonialismo modernizador.
A respeito desse complexo fenômeno de consolidação do Patrimonialismo com tintes modernizadores no México, escrevia o nosso autor: “ O Estado criado pela Revolução Mexicana é mais forte do que o do século XIX. Nisso, como em tantas outras coisas, os revolucionários não só mostraram uma decidida inclinação tradicionalista, como também foram fiéis àqueles que reconheciam como os seus antecessores: os liberais de 1857. Salvo durante os interregnos de anarquia e guerra civil, os mexicanos temos vivido à sombra de governos alternativamente despóticos ou paternais, mas sempre fortes: o rei-sacerdote asteca, o vice-rei, o ditador, o senhor presidente. A exceção é o curto período que Cosío Villegas (1898-1976) chama de ‘A República Restaurada’ e durante o qual os liberais trataram de desgastar as garras do Estado herdado da Nova Espanha. Essas garras chamava-se (chamam-se): burocracia e exército. Os liberais queriam uma sociedade forte e um Estado fraco. Tentativa exemplar que cedo fracassou: Porfirio Díaz (1830-1915) inverteu os termos e fez do México uma sociedade fraca dominada por um Estado forte. Os liberais pensavam que a modernização seria obra – como em outras partes do mundo: Inglaterra, França, Estados Unidos – da burguesia e da classe média. Não foi assim e com Díaz o Estado começa a se converter em agente da modernização. Certamente a ação econômica do regime apoiou-se nas empresas privadas e no capitalismo estrangeiro. Mas a fundação de empresas industriais e a construção de fábricas e estradas de ferro não foram tanto a expressão do dinamismo de uma classe burguesa, como o resultado de uma deliberada política governamental de estímulos e incentivos. Além disso, o decisivo não foi a ação econômica, mas o fortalecimento do Estado. Para que um organismo seja capaz de completar tarefas históricas como a modernização de um país, o primeiro requisito é que seja forte. Com Porfírio Díaz, o Estado mexicano recuperou o poder que tinha perdido durante os conflitos e guerras que sucederam à Independência” [65].
A realidade de um Estado mais forte do que a Sociedade conheceu, no México e em outros países latino-americanos, a sua justificativa teórica, numa forma de positivismo heterodoxo, que mudou a ordem conceitual vigente no originário comtismo, que era uma doutrina pedagógica visando a garantir a ordem social e política. Os positivistas deste lado do mundo – mexicanos, colombianos, chilenos e brasileiros – inverteram acintosamente a filosofia de Comte (1798-1857), tornando-a uma doutrina da ditadura caudilhista tout-court, a serviço de uma ordem alicerçada na preservação do latifúndio. Castilhismo, Porfirismo, Regeneração à la Rafael Núñez, foram versões heterodoxas do comtismo. O nosso autor identificava a forma em que se processou, no México, esse estranho fenômeno, em decorrência da estrutura patrimonialista do poder político, que levava a que se gerisse o bem público como a empresa privada do latifundiário.
A respeito, frisa Octavio Paz: “Da mesma forma na Europa do que entre nós, o positivismo foi uma filosofia destinada a justificar a ordem social imperante. Mas – e nisto reside a minha crítica – ao atravessar o oceano, o positivismo mudou de natureza. Lá a ordem social era a da sociedade burguesa: democracia, livre discussão, técnica, ciência, indústria, progresso. No México, com os mesmos esquemas verbais e intelectuais, em realidade foi a máscara de uma ordem alicerçada no poder latifundiário. O positivismo mexicano introduziu certo tipo de má-fé em relação às ideias. Equívoco não só entre a realidade social – neo-latifundismo, caciquismo, servidão, dependência econômica do imperialismo – e as ideias que pretendiam justifica-la, mas também aparição de um tipo de má-fé particular, pois introduzia-se na consciência mesma dos positivistas mexicanos. Produziu-se uma cisão psíquica: aqueles senhores que juravam por Comte e por Spencer não eram uns burgueses ilustrados e democratas, mas os ideólogos de uma oligarquia de latifundiários” [66].
Do predomínio do Estado mais forte do que a sociedade não escapou, na América Latina, nem a Igreja. Fiel à tendência da tradição patrimonialista no sentido de cooptar a religião dominante, o Estado, em Ibero-America, converteu a instância religiosa em instrumento de dominação. A religião, que na Europa Ocidental constituiu inspiração para os movimentos libertários, na América Latina foi cooptada pelo Estado presidido pelas oligarquias liberal-conservadoras no século XIX, ou pelos que acenavam com uma proposta político-libertadora radical, os ativistas de inspiração marxista-leninista que, no século XX, formularam a Teologia da Libertação.
Eis a forma em que o escritor mexicano entendia a cooptação da religião pelos tradicionais dominadores na América Latina, no século XIX: “Do mesmo modo que na tragédia grega a liberdade dos heróis é uma dimensão do Destino, na teologia calvinista a liberdade está ligada à predestinação. Assim, a revolução religiosa da Reforma antecipou a revolução política da democracia. Na América Latina ocorreu precisamente o contrário: o Estado lutou contra a Igreja não para fortalecer os indivíduos, mas para substituir o clero no controle das consciências e das vontades. Na nossa América não houve revolução religiosa que preparasse a revolução política; tampouco houve, como na França do século XVIII, um movimento filosófico que fizesse a crítica da religião e da Igreja. A revolução política na América Latina – refiro-me à Independência e às lutas entre liberais e conservadores que ensanguentaram o nosso século XIX – não foi senão uma manifestação, mais uma, do patrimonialismo hispano-árabe: combateu a Igreja como a um rival que deveria tirar de cena; fortaleceu o Estado autoritário e os caudilhos liberais não foram mais tolerantes que os conservadores; agravou o centralismo, embora com a máscara do federalismo; em fim, tornou endêmico o regime de exceção que impera nas nossas terras desde a Independência: o caudilhismo” [67].
Em que pese o poder centrípeto e a supremacia do Estado mexicano sobre a sociedade, Octavio Paz chamava a atenção para o fato de a dominação patrimonialista deixar interstícios de liberdade à sociedade; não se tratava, evidentemente, de uma sociedade contratualista, na qual os indivíduos e os grupos podiam pactuar com o Estado o teor do seu relacionamento com ele. Mas, de outro lado, também não era uma relação de poder total, em que nenhum espaço restasse aos indivíduos. Era uma dominação com característica de termo-meio, na qual o Estado procura a cooptação, mas sem conseguir polarizar ao redor de si todas as instâncias sociais. Comparava o escritor mexicano esse tipo de relação “benévola”, com os espaços de liberdade permitidos a um país dependente como México, no jogo internacional, pelo imperialismo norte-americano, em face da maneira declaradamente despótica em que outras potências, as do mundo comunista, por exemplo, dominavam aos seus satélites. A respeito desse ponto de vista, Paz escrevia:
“A observação que fiz em face da relação ambígua que prevalece entre os sindicatos e o Estado mexicano, pode-se aplicar à que nos une com Washington; quero dizer: é uma relação de dominação que não pode ser reduzida, pura e simplesmente, ao conceito de dependência e que permite certa liberdade de negociação e de movimentos. Há uma margem para a ação. Por mais estreita que nos pareça essa margem, é de qualquer forma consideravelmente mais ampla que a da Polônia, Hungria, Tchecoslováquia ou Cuba em face da União Soviética. Evidentemente, em momentos de crise política, a influência do embaixador dos Estados Unidos no México pode ser – e, de fato, tem sido – tão importante e decisiva como a do Sátrapa do Grande Rei durante a Guerra do Peloponeso” [68].
É justamente pelo fato de o Estado mexicano deixar esses interstícios de liberdade – como, no plano internacional, a grande potência ocidental, os Estados Unidos, deixa margem de manobra aos países alinhados com ela – que o nosso pensador insistia na necessidade de os mexicanos partirem para um estudo aprofundado – e uma crítica – ao fenômeno do estatismo, no contexto ibero-americano. Somente conhecendo em profundidade tal fenômeno, seria possível ao México de finais do século XX se preparar para que as novas riquezas petrolíferas recém descobertas passassem a beneficiar realmente à sociedade, não apenas a uma meia dúzia de tecnocratas bêbados de estatísticas. O faraonismo é a consequência direta da falta de iniciativa de uma sociedade tradicionalmente insolidária, num país como México, herdeiro da tradição patrimonialista e do despotismo hidráulico pré-colombiano. Paz conclamava os cientistas sociais para esse hercúleo trabalho de crítica histórica, reconhecendo que seu papel como escritor era o de um simples ensaísta não sistemático. Em relação a este ponto, escrevia:
“As minhas reflexões sobre o Estado não são sistemáticas e devem ser vistas, melhor, como um convite aos especialistas para que estudem o tema. Esse estudo é urgente. De um lado, o Estado mexicano é um caso, uma variedade de um fenômeno universal e ameaçador: o câncer do estatismo; de outro lado, será o administrador de nossa iminente riqueza petrolífera: está preparado para isso? Os seus antecedentes são negativos: o Estado mexicano padece, como doenças crônicas, da rapacidade e da venalidade dos funcionários. O mal data do século XVI e é de origem hispânica. Na Espanha, o dinheiro da corrupção e dos subornos era chamado ‘ungüento de México’. Contudo, o mais perigoso não é a corrupção mas as tentações faraônicas da alta burocracia, contaminada pela máfia planificadora do nosso século. O perigo é maior graças à inexistência desse sistema de controles e balanças que permite à opinião pública, em outros países, fiscalizar a ação do Estado. No México, desde o século XVI, os funcionários contemplaram com menosprezo aos particulares e foram insensíveis tanto às suas críticas quanto às suas necessidades. Como poderemos os mexicanos supervisionar e vigiar um Estado cada vez mais forte e rico? Como evitaremos a proliferação de projetos gigantescos e ruinosos, filhos da megalomania de tecnocratas bêbados de números e estatísticas? O caprichos dos antigos príncipes arruinavam as nações mas, pelo menos, deixavam palácios e jardins: o que nos deixou a triste fantasia da nova tecnocracia? Nos últimos cinquenta anos, assistimos com raiva impotente à destruição da nossa cidade e de nada nos serviram nem as críticas nem as queixas. Teremos mais sorte com o nosso petróleo do que com as nossas avenidas e monumentos” [69].
5 – Saindo do Patrimonialismo no México: o caminho da Reforma política.
O nosso autor achava que o caminho para superar o vício do Patrimonialismo consistia, justamente, em percorrer a via recusada pelo Estado mexicano. Ora, essa via caracterizar-se-ia por três coisas, no sentir do nosso autor: em primeiro lugar, deveria ser um caminho reformista, não de revoluções. Em segundo lugar, a reforma a ser feita seria a política. Em terceiro lugar, o cerne dessa reforma deveria consistir na descentralização e na construção de uma autêntica representação de interesses na sociedade. Tarefa difícil, mas não impossível. Paz não acreditava nas soluções miraculosas, tipo revoluções mirabolantes, que, de um momento para outro, cortassem com o passado para inaugurar um novo tempo. Essa seria uma via messiânica que já fracassou. Como exemplo disso, o pensador mexicano colocava a Revolução Cubana. Hoje, certamente, o nosso escritor apresentaria, como caminho errado, a mais nova versão revolucionária encarnada no messianismo político da Revolução Bolivariana do Presidente Hugo Chávez (1954-2013), na Venezuela. Octavio Paz revelava, nesse ponto, a sua nítida inspiração liberal. A respeito da sua proposta, escrevia:
“Esclareço: não condeno prematura e precipitadamente a Reforma Política. Ela é benéfica, inclusive dentro de suas limitações. Creio que deve ser aprofundada e, por assim dizer, democratizada: descer do nível dos partidos, que é o plano da ideologia, ao dos interesses e sentimentos concretos e particulares dos povos, dos bairros e dos grupos. No caso da Reforma Política, a expressão voltar às origens quer dizer: tratar de inseri-la nas práticas democráticas tradicionais do nosso povo. Essas práticas e essas tradições – sufocadas por muitos anos de opressão e recobertas por umas estruturas legais formalmente democráticas, mas que são, em realidade, abstrações deformantes – estão vivas ainda. Vivas em muitas reformas de convívio social e, sobretudo, vivas na memoria coletiva. Penso, por exemplo, no autogoverno dos grupos indígenas, no município novohispano e em outras formas políticas tradicionais. Aí está, acredito, a raíz de uma possível democracia mexicana. Somente que, para que a Reforma Política chegasse ao povo real, o Estado teria de começar pela sua própria reforma. Se democracia é pluralismo, o primeiro a ser feito é descentralizar. A outra tradição histórica mexicana é o centralismo. No México, a realidade de realidades chama-se, desde Izcóatl (1380-1440), Poder Central. Contra essa realidade bateram de frente os liberais e federalistas do século passado (XIX). De outro lado, burocracia é sinônimo de centralismo e o Estado mexicano, como todos os do século XX, inexoravelmente tem a se converter num Estado burocrático” [70].
Para que se concretizasse a Reforma Política, seria necessário que os intelectuais passassem a dar maior importância ao estudo do Estado. Ora, tradicionalmente – não só no México, mas também na América Latina, em geral – eles ficaram atrelados ao estudo dos temas do subdesenvolvimento e da dependência, deitando uma cortina de fumaça sobre a realidade do Estado Patrimonial. Talvez o obstáculo para que acontecesse o estudo deste decorria, no sentir do nosso autor, da sua complexidade, sendo que o Estado encontra-se, na realidade ibero-americana, com um pé na tradição contrarreformista ibérica e com outro na Modernidade. A respeito, escrevia:
“Apesar da onipresença e onipotência do Estado do século XX (…), só até faz pouco tempo renasceu a crítica do poder e do Estado. Penso sobretudo na França, na Alemanha e nos Estados Unidos. Na América Latina, o interesse pelo Estado é muito menor. Os nossos estudiosos continuam obsessionados com o tema da dependência e o subdesenvolvimento. Certamente, a nossa situação é diferente. As sociedades latino-americanas são a imagem mesma da estranheza: nelas justapõem-se a contrarreforma e o liberalismo, o latifúndio e a indústria, o analfabeto e o literato cosmopolita, o cacique e o banqueiro. Mas a estranheza das nossas sociedades não deve ser um obstáculo para estudar o Estado latino-americano que é, precisamente, uma das nossas peculiaridades maiores. De um lado, é o herdeiro do regime patrimonial espanhol; de outro, é a alavanca da modernização. A sua realidade é ambígua, contraditória e, de certa forma, fascinante” [71].
Bibliografia.
CORTEZ, Hernán. A conquista do México. (Tradução brasileira de Jurandir Soares dos Santos; ilustrações de Théodore de Bry). Porto Alegre: L&PM, 1996.
FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala – Formação da familia brasileira sob o regime de economia patriarcal. 25ª edição. Rio de Janeiro: José Olympio, 1987.
GIUCCI, Guillermo. La conquista de lo maravilloso: el Nuevo Mundo. Montevideo: Juan Darién, 1992.
HEIDEGGER, Martín. “Sobre o Humanismo – Carta a Jean Beauffret”. In: Conferências e Escritos Filosóficos. (Tradução e notas de Ernildo Stein). 1ª edição. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
HOCHLEITNER, Franz Joseph; PAULA, Ana Paula de; KRUMBACH, Helmut. Novas interpretações do Codex Vindobonensis. (Apresentação de José Carlos de Castro Barbosa; capa e ilustrações de Alzira Barros). Juiz de Fora: Imprensa Universitária da Universidade Federal de Juiz de Fora, 1987.
JASPERS, Karl. Introdução ao pensamento filosófico. (Tradução de Leônidas Hegenberg e Octanny Silveira da Mota), 17ª edição, São Paulo: Cultrix, 2006.
KANT, Immanuel. “Respuesta a la pregunta: Qué es la Ilustración?” In: ERHARD, KANT et alii. Qué es Ilustración? (Estudo introdutório de Agapito Mestre; tradução de Agapito Mestre e José Romagosa). 3ª edição. Madri: Tecnos, 1993, pp. 17-29.
KRAUZE, Enrique. Porfirio Díaz, místico de la autoridad. (Pesquisa iconográfica de Aurelio de Los Reyes). México: Fondo de Cultura Económica, 1987.
LAVIANA Cuetos, María Luisa. La América española, 1492-1898. Madrid: Temas de Hoy, 1996.
MANCISIDOR, José. Historia de la Revolución Mexicana. 28ª Edição. México: Costa-Amic, 1976.
MORSE, Richard. O Espelho de Próspero – Cultura e Idéias nas Américas. (Tradução de Paulo Neves; apresentação de Antônio Cândido). São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
NAIPAUL, V. S. Entre os fiéis – Irã, Paquistão Malásia, Indonésia, 1981. (Tradução de C. Knipel Moreira). 2ª Edição. São Paulo: companhia das Letras, 2001.
NAIPAUL, V. S. The Loss of El Dorado. London: Picador, 2001.
OLIVEIRA MARTINS. História da Civilização Ibérica. (Nota introdutória de José Lobo d’Ávila Lima). Lisboa: Europa – América. s/d.
PAIM, Antônio. A querela do Estatismo. 1ª edição. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978.
PAZ, Octavio. Aguila o Sol? 2ª edição. México: Fondo de Cultura Económica, 1990.
PAZ, Octavio. El arco y la lira – El poema, la revelación poética, poesía e historia. 3ª Edição. México: Fondo de Cultura Económica, 1990.
PAZ, Octavio. El peregrino en su patria – Historia y política de México, 1 – Pasados. (Edição de Octavio Paz e Luis Mario Schneider). 2ª edição. México: Fondo de Cultura Económica, 1989.
PAZ, Octavio. El peregrino en su patria – Historia y política de México, 2 – Presente fluido. (Edição de Octavio Paz e Luis Mario Schneider), 2ª edição. México: Fondo de Cultura Económica, 1989.
PAZ, Octavio. Las peras del olmo. 2ª edição. Barcelona: Seix Barral, 1986.
PAZ, Octavio. Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe. 3ª edição. México: Fondo de Cultura Económica, 1992.
PAZ, Octavio. Tempo nublado. (Tradução brasileira de Sônia Régis). Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1986.
RAMONET, Ignacio. Marcos, la dignité rebelle – Conversations avec le sous-commandant Marcos. Paris: Éditions Galilée, 2001.
ROUSSEAU, Jean-Jacques. Du contrat social. Paris: Garnier / Flammarion, 1966.
SCHWARTZMAN, Simon. Bases do autoritarismo brasileiro. 1ª edição. Rio de Janeiro: Campus, 1982.
VÉLEZ Rodríguez, Ricardo. A propaganda republicana. 1ª edição Brasília: Universidade de Brasília, 1982.
VÉLEZ Rodríguez, Ricardo. Castilhismo, uma filosofia da República. 2ª edição, corrigida e acrescida. (Apresentação de Antônio Paim). Brasília: Senado Federal, 2000.
VÉLEZ Rodríguez, Ricardo. Liberalismo y Conservatismo en América Latina. 1ª edição. Bogotá: Tercer Mundo, 1978.
VÉLEZ Rodríguez, Ricardo. (Organizador). Aliança Liberal – Documentos da Campanha Presidencial. 2ª edição. (Introdução de Ricardo Vélez Rodríguez). Brasília: Câmara dos Deputados, 1983.
VERNE, Júlio. Os conquistadores. (Tradução brasileira de Antônio Carlos Viana; prefácio de Alain Absire). Porto Alegre: L&PM, 1998.
VIANNA, Francisco José de Oliveira. Populações Meridionais do Brasil e Instituições Políticas Brasileiras. (Introdução de Antônio Paim). 1ª edição num único volume. Brasília: Câmara dos Deputados, 1982.
WEBER, Max. Ciência e Política: Duas Vocações. (Tradução brasileira de Leônidas Hegenberg e Octanny Silveira da Mota). 3ª edição. São aulo: Cultrix, 1981.
WEBER, Max. Economía y Sociedad. (Tradução ao espanhol de José Medina Echavarría et alii). 1ª Edição em Espanhol. México: Fondo de Cultura Económica, 1944, 4 volumes.
WITTFOGEL, Karl. Le Despotisme Oriental. (Tradução ao francês de Micheline Puteau). Paris: Minuit, 1977.
ZERMEÑO, Sergio. México: Una Democracia Utópica – El Movimiento Estudiantil de 1968. (Prólogo de Carlos Monsiváis). 1ª edição, México: Siglo XXI, 1978.
____________________
Notas de Rodapé
[1] LAVIANA Cuetos, María Luisa. La América española, 1492-1898. Madrid: Temas de Hoy, 1996, p. 6.
[2] WITTFOGEL , Karl. Le Despotisme Oriental. (Tradução francesa de M. Puteau). Paris: Minuit, 1977.
[3] Cf. NAIPAUL, V. S. Entre os fiéis – Irã, Paquistão, Malásia, Indonésia, 1981. (Tradução brasileira de C. Knipel Moreira). 2ª edição. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. A propósito da relação entre colonizador e colonizado no mundo muçulmano, este autor a caracteriza da seguinte forma: “Substituir isso tudo. O Islã significava a raiva – raiva na fé, raiva política: uma podia ser como a outra” (p. 484).
[4] Cf. WITTFOGEL, Ob. Cit. NAIPAUL, V. S. The Loss of El Dorado. London: Picador, 2001.
[5] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, Barcelona: Seix Barral, 1983, p. 34.
[6] Octavio Irineo Paz era casado com a andaluza Josefina Lozano, de quem o filho Octavio muito provavelmente herdou essa sensual apreensão da realidade que caracterizava ao Prêmio Nobel mexicano.
[7] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”. In: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 20.
[8] JASPERS, Karl. Introdução ao pensamento filosófico. (Tradução de Leônidas Hegenberg e Octanny Silveira da Mota). 17ª edição, São Paulo: Cultrix, 2006, p. 34.
[9] PAZ, Octavio. “Propósito”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., pp. 13-14.
[10] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., pp. 67-68.
[11] PAZ, Octavio. “Eros Job”, in: El ogro filantrópico, ob. Cit., p. 271.
[12] Cf. HEIDEGGER, Martin. “Sobre o Humanismo – Carta a Jean Beauffret”. In: Conferências e Escritos Filosóficos. (Tradução e notas de Ernildo Stein). 1ª Edição. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 348.
[13] PAZ, Octavio. “Hechos y dichos”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 104.
[14] Cf. WEBER, Max. Ciência e política – Duas vocações. (Tradução de Leônidas Hegenberg e Octanny Silveira da Mota). 3ª edição. São Paulo: Cultrix, 1981.
[15] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., pp. 83-84.
[16] PAZ, Octavio. ”El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., pp. 34-35.
[17] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 37.
[18] PAZ, Octavio. “Propósito”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 8.
[19] PAZ, Octavio. “Eros Job”, in: El ogro filantrópico, ob. Cit., pp. 260-261.
[20] PAZ, Octavio. “Propósito”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 13.
[21] PAZ, Octavio. “Propósito”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., pp. 8-9.
[22] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 72.
[23] PAZ, Octavio. Tempo nublado. (Tradução de Sônia Regis). Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1986, pp. 7-8.
[24] PAZ, Octavio. “La letra y el cetro”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 338.
[25] KANT, Immanuel. “Respuesta a la pregunta: Qué es la Ilustración?”, in: ERHARD, KANT et alii. Qué es Ilustración? (Estudo introdutório de Agapito Mestre; tradução de Agapito Mestre e José Romagosa). 3ª Edição. Madri: Tecnos, 1993, p. 17.
[26] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 99.
[27] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”. In: El ogro filantrópico, ob. cit., pp. 55-56.
[28] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p 53.
[29] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 66.
[30] PAZ, Octavio. “El pasado y sus presentes”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., pp. 65-66.
[31] No caso brasileiro, os ideólogos da República, Rui Barbosa à testa, adotaram os princípios liberais consagrados na Carta de 24 de Fevereiro de 1891 – quase uma cópia da Carta Norte-Americana de 1786, mas à luz daquela praticaram uma autêntica ditadura de oligarquias, a denominada “Política dos Governadores”. No Rio Grande do Sul, os Castilhistas, no mesmo período, adotaram a retórica liberal, se mantendo, no entanto, encastelados na visão privatista do poder. A retórica liberal serviu para angariar votos, quando necessário, mas não implicou em verdadeira liberalização do regime. Essa síndrome da duplicidade perpetuou-se até a Revolução de 1930, comandada por Getúlio ao amparo de uma retórica que defendia eleições livres e anistia, ideais abruptamente negados quando os revolucionários chegaram ao poder. Há verdadeiramente uma brecha significativa entre os ideais da campanha da Aliança Liberal, apregoados em 1929 e o regime que se instaurou em 1930. Cf., a respeito, o documento intitulado: Aliança Liberal – Documentos da campanha presidencial, 2ª edição coordenada por mim. Brasília: Câmara dos Deputados, 1983. Um reação à duplicidade existente no início da República. Com relação à política dos governadores, cf., da minha autoria: A propaganda republicana, 1ª edição, Brasília: Universidade de Brasília, Decanato de Extensão, 1982, no contexto do “Curso de Introdução ao Pensamento Político Brasileiro”.
[32] PAZ, Octavio, “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., pp. 63-64.
[33] PAZ, Octavio, “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., pp. 68-69.
[34] O ensaista mexicano, com certeza, tinha lido a obra de Max Weber, Economía y Sociedad, (tradução ao espanhol de José Medina Echavarría, et Alii), primeira edição em espanhol, México: Fondo de Cultura Económica, 1944, IV volume, pp. 139-140.
[35] PAZ, Octavio, “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 58.
[36] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., pp. 88-89.
[37] Cf. FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala – Formação da família brasileira sob o regime de economia patriarcal. 25ª edição, Rio de Janeiro: José Olympio, 1987.
[38] Cf. VIANNA, Francisco José de Oliveira. Populações Meridionais do Brasil e Instituições Políticas Brasileiras, 1ª edição num único volume. (Introdução de Antônio Paim). Brasília: Câmara dos Deputados, 1982.
[39] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 23.
[40] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., ibid.
[41] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 24.
[42] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., pp. 98-99.
[43] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., pp. 87-88.
[44] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 91.
[45] A exceção, no caso concreto dos Partidos Conservadores, talvez seria a Colômbia. Cf. a respeito, o meu livro: Liberalismo y Conservatismo en América Latina, 1ª edição, Bogotá: Tercer Mundo, 1978.
[46] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”. In: PAZ, Octavio, El ogro filantrópico, ob. cit., p. 97.
[47] Cf. A minha obra: Castilhismo, uma filosofia da República. 2ª edição, corrigida e acrescida. (Apresentação de Antônio Paim). Brasília: Senado Federal, 2000.
[48] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 30.
[49] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 73.
[50] Cf. WITTFOGEL, Karl. Le despotisme oriental, ob. cit., p. 69.
[51]. PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., pp. 88-89.
[52] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., pp. 91-92.
[53] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 92.
[54] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., pp. 93-94.
[55] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 88.
[56] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 48.
[57] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 82.
[58] PAZ, Octavio. “Propósito”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 10.
[59] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 85.
[60] ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. Du Contrat Social. Paris: Garnier Flammarion, 1966.
[61] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 18.
[62] PAZ, Octavio. “Eros Job”, in: El ogro filantrópico, ob. Cit., pp. 239-240.
[63] SCHWARTZMAN, Simon. Bases do autoritarismo brasileiro. 1ª edição, Rio de Janeiro: Campus, 1982.
[64] PAIM, Antônio. A querela do estatismo. 1ª edição, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978.
[65] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., pp. 86-87.
[66] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 19.
[67] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 60.
[68] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 90.
[69] PAZ, Octavio. “Propósito”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 9.
[70] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 98.
[71] PAZ, Octavio. “El presente y sus pasados”, in: El ogro filantrópico, ob. cit., p. 86.