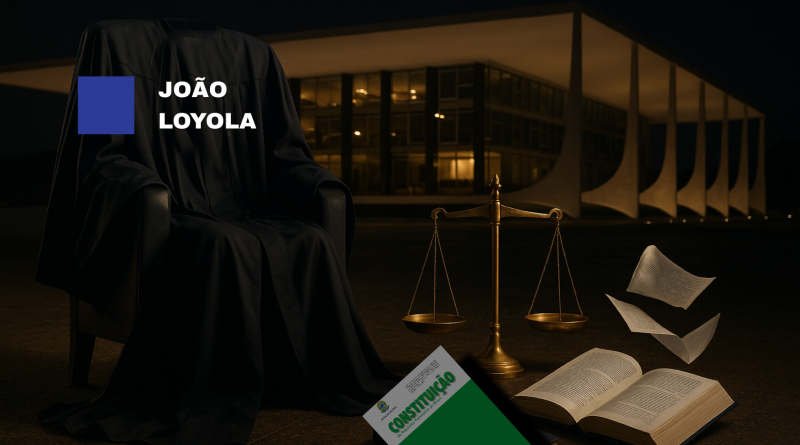Quando a toga ultrapassa os limites da Constituição
“A lei perverte-se quando se torna instrumento de espoliação legal.” Frédéric Bastiat, A Lei (1850)
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o Supremo Tribunal Federal (STF) como o guardião máximo da Carta Magna, encarregado de assegurar sua supremacia e garantir o funcionamento equilibrado da República. Contudo, nos últimos anos, a Corte tem protagonizado um processo de transformação institucional que extrapola seu papel originário. O STF tem se posicionado não apenas como intérprete da Constituição, mas como verdadeiro agente normativo e dirigente moral da sociedade brasileira. Esse fenômeno, que pode ser definido como hipertrofia judicial ou ativismo judicial extremo, gera desequilíbrio institucional, ofusca o papel do Legislativo e ameaça diretamente a soberania popular e o Estado de Direito.
Com base na teoria de Frédéric Bastiat, particularmente na obra A Lei (1850), este artigo propõe uma análise crítica da atuação atual do STF, identificando nela um processo de espoliação legal, a instrumentalização do Direito para fins políticos, ideológicos ou sociais que extrapolam sua função de proteção à vida, à liberdade e à propriedade. Para além da crítica, serão apresentadas alternativas institucionais capazes de restabelecer o equilíbrio entre os poderes e garantir que a lei volte a cumprir sua função original.
Segundo Bastiat, a lei deve proteger os direitos naturais do homem: vida, liberdade e propriedade. Toda vez que a lei ultrapassa essa função protetiva e se torna um instrumento para impor condutas ou redistribuir riquezas, ocorre o que ele chamou de “espoliação legal”. Bastiat afirma: “A lei é pervertida quando, em vez de proteger, ela espolia.” Aplicada à realidade brasileira, essa crítica ganha contornos alarmantes. O STF, ao assumir posturas de proatividade moral e social, tem usado a interpretação constitucional como pretexto para moldar normas e políticas públicas. Tal atuação retira do Parlamento sua função representativa e subverte a vontade popular, transformando a lei em uma ferramenta de poder concentrado.
A Constituição Federal determina, no artigo 102, que compete ao STF a guarda da Constituição. Esse papel deveria ser exercido com base na autocontenção judicial, atuando apenas nos casos de violação clara da Constituição. Contudo, o que se observa é o contrário. Casos como o Inquérito das Fake News (INQ 4781), aberto de ofício e conduzido sem participação do Ministério Público, com o próprio STF como vítima, investigador e julgador, violam o devido processo legal. A decisão do STF sobre o Marco Temporal das Terras Indígenas invalidou norma aprovada pelo Congresso Nacional, desrespeitando a separação de poderes. Já a descriminalização de condutas morais, como aborto e drogas, sob o argumento de omissão legislativa, representa interferência direta em temas cuja competência é exclusiva do Legislativo. Montesquieu advertia que não há liberdade se o poder de julgar não for separado do poder de legislar e de executar. Quando um mesmo órgão se arroga a competência de fazer tudo, instaura-se o risco de arbítrio.
A doutrina constitucional brasileira tem enfrentado de forma desigual essa expansão judicial. Autores como Luís Roberto Barroso defendem o ativismo judicial como forma de proteger minorias e corrigir omissões legislativas. Já Lênio Streck e Uadi Lammêgo Bulos advertem para os riscos da “hermenêutica livre”, que transforma o juiz em legislador, rompendo com os fundamentos da segurança jurídica e da impessoalidade do Direito.
Comparando com outros países, nota-se que o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha exerce controle com forte deferência ao Parlamento. Nos Estados Unidos, a Suprema Corte adota a doutrina do judicial restraint, intervindo apenas em violações claras à Constituição. Países como Chile, Portugal e Espanha possuem cortes constitucionais separadas, evitando a concentração de poder. Vale lembrar que o modelo de controle concentrado adotado pelo Brasil remonta à experiência austríaca de Hans Kelsen, mas evoluiu aqui de maneira peculiar, permitindo que a Corte Constitucional acumulasse funções recursais, legislativas e políticas, distorcendo a arquitetura do poder.
A Carta de 1988 possui mais de 250 artigos e cerca de 100 emendas. Sua redação aberta e principiológica permite interpretações subjetivas, o que facilita decisões judiciais com base em princípios genéricos como dignidade, solidariedade ou justiça social. Além disso, a morosidade do Congresso Nacional diante de temas polêmicos cria um vácuo institucional que o STF tem preenchido com protagonismo judicial. A hipertrofia do STF transforma o Judiciário em instância moral suprema, deslocando o centro da soberania do povo para uma elite togada. Isso compromete a representatividade democrática, a previsibilidade das normas, a confiança institucional e a liberdade individual. A ausência de responsabilização política direta dos ministros do STF, indicados por critérios políticos, com cargos vitalícios até os 75 anos e sem mecanismos efetivos de controle popular, cria um vácuo democrático incompatível com uma república moderna.
Como alerta Bruce Ackerman, em momentos constitucionais decisivos, o povo deve poder questionar o monopólio hermenêutico das cortes. Segundo dados do próprio STF, em 2023, foram proferidas mais de 90 mil decisões monocráticas e colegiadas. O volume, aliado ao caráter vinculante de boa parte delas, demonstra o grau de centralização decisória em uma única instância. Como alertava Bastiat: “O Estado se torna o grande arranjador da sociedade, e os juízes os moralistas da vida alheia.”
Para enfrentar essa distorção, uma proposta de emenda constitucional poderia limitar os efeitos vinculantes das decisões do STF, restringir sua atuação em matérias penais e morais sem respaldo legal e ampliar a participação do Legislativo no controle de constitucionalidade. A adoção de mandatos fixos para os ministros, inspirada no modelo alemão, garantiria alternância e oxigenação institucional. Separar as funções recursais do STF das funções constitucionais por meio da criação de uma Corte Constitucional autônoma, como ocorre em Portugal e Espanha, também contribuiria para equilibrar os poderes. Ademais, mecanismos de democracia direta como o veto popular ou o recall judicial poderiam permitir o controle popular sobre decisões que extrapolem os limites constitucionais.
Hayek, em Direito, Legislação e Liberdade (1973), defende que a ordem social emerge de interações livres e espontâneas entre indivíduos. A intervenção judicial modeladora (como a promovida pelo STF) rompe esse processo e impõe uma engenharia social centralizada, que mina a liberdade em nome de uma pretensa justiça superior.
O STF, ao abandonar a contenção e se tornar protagonista político, rompe com os pilares do constitucionalismo. A lei deixa de ser um escudo contra o poder e torna-se sua extensão. O Brasil precisa restaurar os freios institucionais, valorizar o papel do Legislativo e devolver ao povo o poder de decidir os rumos morais, políticos e sociais da Nação. A função da toga não é legislar. A função da lei não é redimir. A função do juiz não é dirigir a sociedade. Como escreveu Bastiat, com clareza inconfundível: “Não se deve esperar da lei aquilo que só a liberdade pode proporcionar.”
A lei deve ser mínima, clara e previsível. Bastiat nos lembra que a justiça não cria: apenas impede a injustiça. Quando a lei se transforma em um projeto de poder, quando os intérpretes constitucionais se tornam legisladores morais, perdemos o Estado de Direito e entramos na era do Estado de Intenções. O Brasil precisa reagir antes que a toga se transforme em trono.