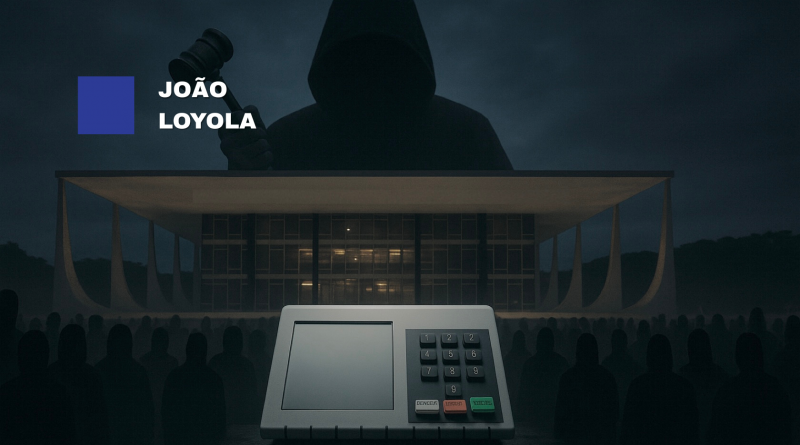O sentimento tem voto: como o sentimento de injustiça reflete na urna
A política é feita por ideias, mas vencida por sentimentos. Em uma democracia de massas, marcada por ciclos de polarização e comunicação instantânea, o que move o eleitor não é apenas a razão. É a percepção de justiça, de pertencimento, de reconhecimento ou de abandono. Por isso, o sentimento de injustiça, real ou induzido, tornou-se uma das forças mais poderosas nas urnas. Não importa se o Estado cresce ou se a economia melhora em termos macroeconômicos. Se o cidadão médio sente que é tratado de forma desigual diante da lei, que trabalha para sustentar privilégios ou que é deixado à margem enquanto a elite do funcionalismo público prospera, ele votará contra esse sistema, mesmo que não saiba articular isso em termos técnicos.
O Brasil é o terreno ideal para esse fenômeno. A carga tributária é regressiva, os serviços públicos são ineficientes e o sistema de justiça é frequentemente percebido como parcial, caro e leniente com os poderosos. A indignação com o sistema, no entanto, raramente se traduz em reformas estruturais. Ela se transforma em repúdio a candidatos tradicionais, em apoio a outsiders ou em abstenção. O resultado disso é a ascensão de figuras que encarnam esse ressentimento difuso, mas nem sempre têm capacidade ou intenção de enfrentá-lo pela raiz. Quando o discurso da injustiça é apropriado por populistas, a consequência pode ser a substituição de uma elite por outra, sem que o sentimento de desigualdade institucional desapareça.
Nas eleições de 2018, por exemplo, o antipetismo foi impulsionado não apenas por questões ideológicas ou econômicas, mas por um profundo sentimento de injustiça percebido durante e após os escândalos do Mensalão e da Lava Jato. A prisão de Lula em abril daquele ano e sua posterior liberação em 2019, somada à anulação de suas condenações em 2021 pelo Supremo Tribunal Federal, foi entendida por milhões como um retrocesso no combate à corrupção. Isso não apenas dividiu o país, como também reforçou a ideia de que a lei vale de formas diferentes dependendo do lado em que se está politicamente. Esse sentimento foi capitalizado por Jair Bolsonaro, cuja vitória nas urnas se deu, em grande parte, como um voto contra o que se percebia como um sistema corrompido e conivente com seus próprios membros.
Esse padrão se agravou com a judicialização da política. A percepção de que o Poder Judiciário age como agente político e não como árbitro imparcial reforça a ideia de que as regras não valem para todos. Casos como a cassação de deputados federais eleitos com ampla votação, como Deltan Dallagnol em 2023, ou a imposição de multas milionárias a influenciadores e parlamentares por manifestações políticas, reforçam, para muitos eleitores, a imagem de um Judiciário que atua seletivamente. Quando decisões judiciais interferem no jogo político sem transparência, o resultado é deslegitimar a autoridade das instituições, mesmo que os atos sejam formalmente legais.
O sentimento de traição política é outro exemplo concreto de como a percepção de injustiça mobiliza o voto. Parlamentares que foram eleitos na esteira do bolsonarismo em 2018 e depois romperam com essa base, como Joice Hasselmann e Alexandre Frota, experimentaram um colapso eleitoral em 2022. Ambos passaram de posições de destaque na mídia e no Congresso a candidaturas fracassadas, com votações residuais. A mensagem das urnas foi clara. Para o eleitor que votou com base em sentimento, a ruptura com a coerência simbólica equivale à traição, e o traidor, ainda que defenda medidas técnicas razoáveis, será punido politicamente. O voto não perdoa o desalinhamento emocional com a base que o elegeu.
A teoria da escolha pública ajuda a entender esse comportamento. Quando o cidadão percebe que a arena política é capturada por grupos de interesse que distorcem os incentivos institucionais em favor de si mesmos, sua reação natural é punir o sistema, mas, como o eleitor é racionalmente ignorante em relação a temas complexos, ele vota a partir de símbolos, narrativas e afetos. Assim, o voto se torna expressão de revolta moral. O resultado é um sistema eleitoral sensível não a propostas bem estruturadas, mas à capacidade de canalizar indignações.
Robert Nozick já advertia que a justiça não está na redistribuição arbitrária, mas na manutenção de processos legítimos. Quando esses processos são violados por decisões de Estado ou por normas feitas para proteger grupos específicos em detrimento da maioria, o cidadão percebe que não há justiça, mesmo que a Constituição diga o contrário – e onde não há justiça percebida, há ressentimento. Onde há ressentimento, há voto.
Essa lógica também se manifesta nas reações populares às benesses do alto funcionalismo público. A percepção de que juízes, procuradores e parlamentares mantêm auxílios como o auxílio moradia, o auxílio creche e aposentadorias integrais, enquanto milhões enfrentam filas no SUS, alta carga tributária e escolas precárias, aprofunda a revolta do pagador de impostos. Casos como o do orçamento secreto e os aumentos do fundo eleitoral para bilhões de reais em pleno ciclo de contenção social são percebidos como insultos ao esforço do cidadão comum. São narrativas que geram votos de protesto, não votos programáticos.
Em 2022, apesar da alta inflação, da pandemia e da crise fiscal, o então presidente Bolsonaro obteve mais de 58 milhões de votos, mesmo sendo demonizado por boa parte da imprensa. Isso revela que parte expressiva da população vota com base em identificação moral e não puramente econômica. A ideia de que ele está contra o sistema serve como válvula emocional para uma massa que sente que ninguém mais a representa. Por outro lado, a vitória de Lula no mesmo pleito, mesmo com seu passado jurídico controverso, também revela outra face desse sentimento: a do abandono social e do desejo de retorno à época em que programas como Bolsa Família eram percebidos como dignificação mínima da pobreza. Em ambos os casos, o sentimento sobrepôs-se à razão.
O cidadão que paga caro pelo serviço de saúde ou que precisa recorrer à escola privada mesmo sendo assalariado de classe média vê o sistema como um pacto de parasitismo institucional. Ele sente que trabalha para sustentar uma engrenagem que não o considera. Quando essa percepção se cristaliza, não há propaganda oficial ou slogan de estabilidade democrática que convença. A estabilidade que ele deseja não é do sistema, é da sua vida.
Esse mesmo sentimento foi catalisado com os desdobramentos do 8 de janeiro de 2023. Embora a invasão das sedes dos Três Poderes tenha sido um episódio condenável, as punições subsequentes foram interpretadas por grande parte da população como desproporcionais, especialmente quando comparadas à leniência do Judiciário em casos de vandalismo promovidos por grupos alinhados à esquerda em anos anteriores. A prisão de centenas de manifestantes, incluindo idosos e pessoas sem participação violenta comprovada, reforçou a ideia de que há dois sistemas de justiça no Brasil. A atuação direta de ministros do Supremo Tribunal Federal, como Alexandre de Moraes, com decisões que incluem censura prévia, bloqueio de contas e inquéritos sigilosos, transformou o STF não apenas em árbitro, mas em protagonista político.
Essa percepção já começa a se refletir na opinião pública. O Judiciário, que historicamente mantinha alta confiança institucional, viu seus índices despencarem. Essa erosão de credibilidade será um fator central nas eleições de 2026. Se o eleitor entender que há um poder agindo como partido, os votos tenderão a se alinhar contra tudo o que esse poder representa, mesmo que os candidatos não sejam tecnicamente preparados. Em democracias tensionadas, o sentimento sempre vence o argumento.
A eleição de 2026 não será uma disputa apenas entre planos de governo, mas entre visões antagônicas sobre o que é justiça e quem a representa. Será o julgamento, nas urnas, de tudo que foi construído ou desconstruído após 2018. Se o eleitor médio continuar sentindo que está fora do pacto institucional, escolherá quem atacar esse pacto, não quem deseja reformá-lo. O desafio, portanto, é reconstruir a confiança antes que a descrença total transforme o voto em ferramenta de ruptura definitiva.