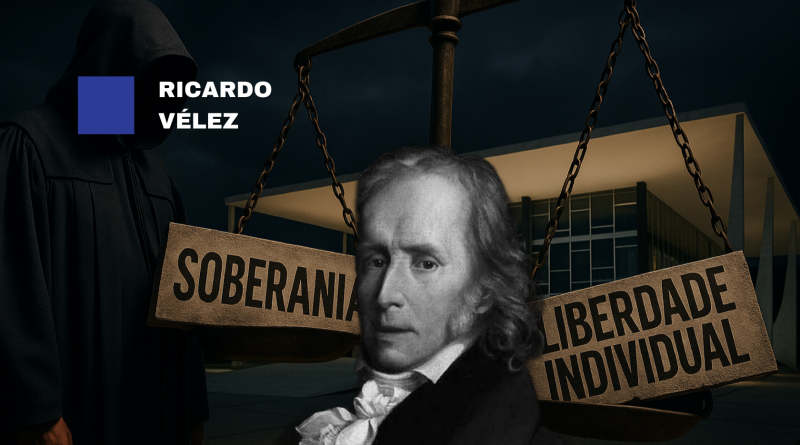A questão da soberania em tempos populistas
Que estamos vivendo tempos de balbúrdia populista, não há dúvida. O governo Lula definiu o seu roteiro dentro desse questionável parâmetro. O poder que, de fato, exerce o presidente, garantido pelo STF, colocou a questão, já a partir da articulação desferida contra as instituições republicanas em 2022, para garantir a eleição e ulterior posse de Lula. Celeremente, o ex-presidente, que tinha sido condenado pela Justiça e que cumpria pena de detenção na sede da Polícia Federal em Curitiba, foi liberado da cadeia por decisão do STF a fim de que pudesse concorrer nas eleições de 2022 e se elegesse.
Lula tomou posse e, celeremente, o STF começou a judicializar a gestão de Bolsonaro, atrapalhando ostensivamente a tomada de decisões do governo. A partir da posse de Lula em 1º de janeiro de 2023, começou, num crescendo ininterrupto, a perseguição do STF contra Bolsonaro e alguns dos seus seguidores, bem como contra antigos membros do seu governo, tudo orquestrado para construir a narrativa da tentativa de golpe contra as instituições republicanas e a consequente perseguição a Bolsonaro e seguidores, que culminaram com a condenação e a imposição da tornozeleira eletrônica ao ex-presidente, além de terem sido condenados em juízo sumário centenas de participantes nos atos de 8 de janeiro de 2023, como se se tratasse da tentativa de um golpe de estado planejado por Bolsonaro e os seus colaboradores.
A discussão hoje versa acerca da questão da soberania. O autoritarismo imposto pelo STF, que garante o governo de Lula, é considerado como uma defesa da soberania diante da tentativa golpista de Bolsonaro e dos seus colaboradores, sem que sejam apresentadas provas suficientes desses fatos. Ora, já que a questão é de soberania, vale a pena discutir os termos básicos da questão. A melhor análise foi feita pelo grande constitucionalista suíço-francês Benjamin Constant de Rebecque (1767-1830) na sua obra intitulada Princípios de Política.
Analisarei, a seguir, o conceito de soberania popular limitada segundo Benjamin Constant de Rebecque e a sua crítica ao democratismo rousseauniano.
O mencionado pensador liberal considerava que só havia, na modernidade, dois poderes: a força (ilegítimo) e a vontade geral (legítimo). Era fundamental conceber corretamente a sua natureza a fim de determinar, de forma clara, a abrangência da soberania. Se isso não fosse feito, a tentativa de defesa da liberdade poderia simplesmente suprimi-la. A propósito, escrevia Constant: “O reconhecimento abstrato da soberania do povo não aumenta em nada a soma de liberdade dos indivíduos e, se lhe for atribuída uma abrangência indevida, pode-se perder a liberdade, apesar e contra esse mesmo princípio” [Constant, 1970: 8].
A delimitação da soberania, pensava Constant, não podia ficar nas mãos dos que exercem o poder, pois a tendência de todo governo constituído é a sua autopreservação. A soberania, portanto, deve ser limitada desde fora do poder pela própria sociedade. Ora, a soberania jamais pode ser entendida como ilimitada. Esse era, para o nosso pensador, o grande defeito dos que a criticavam no Ancien Régime, identificando-a com o absolutismo monárquico. Foram atacados os reis, mas não a fonte do despotismo, que radicava na concepção inadequada de soberania como algo sem limites. Assim, o absolutismo de um ou de poucos foi substituído pelo de muitos sem que mudasse a forma de se entender a soberania. O nosso autor deixou clara a forma limitada em que entendia a soberania com as seguintes palavras: “Numa sociedade fundada na soberania do povo, é evidente que nenhum indivíduo, classe nenhuma, tem o direito a submeter o resto à sua vontade particular; mas é falso que a sociedade, no seu conjunto, possua sobre os membros uma soberania sem limites” [Constant, 1970: 9].
A soberania deve ser limitada em si mesma. Ela abarca parcialmente o ser dos cidadãos, ficando do lado de fora da mesma o que diga relação à independência e à existência do indivíduo. Ultrapassar esse limite torna a soberania ilegítima. Nem interessa se esse abuso é cometido por uma pessoa, um grupo, ou a maioria dos homens na sociedade. Será sempre algo ilegítimo. A respeito, frisava Constant: “O assentimento da maioria não basta em todos os casos para legitimar os seus atos; há atos que é Impossível sancionar. Quando uma autoridade pratica atos semelhantes, não importa a fonte da que pretenda provir, não importa que se chame indivíduo ou nação. Faltar-lhe-ia legitimidade, mesmo em se tratando de toda a nação e havendo um único cidadão oprimido” [Constant, 1970: 10].
O grosseiro erro de Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) consistiu, frisava Constant, em ter imaginado uma Vontade Geral como poder ilimitado, que terminava sacrificando, em nome da democracia, a liberdade que pretendera defender. O filósofo de Genebra, considerava Constant, ignorou esta simples verdade: “o assentimento da maioria não basta (…) para legitimar os seus atos”. Vale a pena citar completa a crítica efetivada por Constant ao democratismo rousseauniano, pois ela servirá de base para as críticas que foram levantadas no seio do liberalismo francês, no decorrer do século XIX (com Guizot, Tocqueville e outros) e ainda no século XX (com Aron, Peyreffitte, Revel etc.).
Eis o teor da crítica de Constant: “Rousseau ignorou esta verdade, e o seu erro fez do seu Contrato Social, tão frequentemente invocado em prol da liberdade, o instrumento mais terrível de todos os gêneros de despotismo. Definiu o contrato celebrado entre a sociedade e os seus membros como a alienação completa e sem reservas de cada indivíduo com todos os seus direitos em mãos da comunidade. Para nos tranquilizar acerca das consequências do abandono tão absoluto de todas as partes da nossa existência em benefício de um ser abstrato, diz-nos que o soberano, ou seja, o corpo social, não pode prejudicar nem ao conjunto dos seus membros, nem a cada um deles em particular; que ao se entregar cada um por completo, a condição é igual para todos, e que ninguém tem interesse em torná-la onerosa aos demais; que ao se dar cada um a todos, não se dá a ninguém; que cada um adquire sobre todos os associados os mesmos direitos que ele lhes entrega, e ganha o equivalente de tudo quanto perde, com mais poder para conservar o que tem. Mas esquece que todos esses atributos preservadores que confere ao ser abstrato que chama de soberano, resultam de que esse ser se compõe de todos os indivíduos sem exceção. Ora, tão logo que o soberano tem de fazer uso do poder que possui, ou seja, tão logo que deve proceder a uma organização prática da autoridade, não podendo o soberano exercê-la por si próprio, delega-a, e todos esses atributos desaparecem. Ao estar necessariamente, pela sua própria vontade ou à força, a ação que se executa em nome de todos à disposição de um só ou de alguns, resulta que ao se dar um a todos, não é verdade que não se dê a ninguém; pelo contrário, dá-se aos que agem em nome de todos. Daí que, ao se dar por completo, não se coloca numa condição igual para todos, já que alguns se aproveitam exclusivamente do sacrifício do resto. Não é verdade que ninguém tenha interesse em tornar onerosa a condição aos demais, posto que há associados que estão por fora da condição comum. Não é verdade que todos os associados adquirem os mesmos direitos que cedem; não todos ganham o equivalente do que perdem e o resultado daquilo que sacrificam é, ou pode ser, o estabelecimento de uma força que lhes tira o que têm” [Constant, 1970: 10-11].
O próprio Rousseau, frisava Constant, ficou tão impressionado com as consequências decorrentes do seu conceito de soberania absoluta que decidiu criar um mecanismo para tornar impossível o exercício dela. Fez isso quando declarou que “a soberania não podia ser alienada, nem delegada, nem representada” [Constant, 1970: 11], abrindo assim caminho à ingovernabilidade que tem afetado sempre os sistemas alicerçados na ideologia rousseauniana. A defesa do absolutismo por Thomas Hobbes (1588-1679), em meados do século XVII, antecipou a tese rousseauniana da soberania absoluta. Frisa a respeito Constant: “Hobbes, o homem que erigiu de modo mais inteligente o despotismo como sistema, apressou-se em reconhecer o caráter ilimitado da soberania a fim de defender a legitimidade do governo absoluto de um só. A soberania, diz Hobbes, é absoluta; essa verdade sempre foi reconhecida, inclusive por aqueles que induziram à sedição ou provocaram guerras civis. A sua intenção não era aniquilar a soberania, mas transferir o seu exercício para outras mãos” [Constant, 1970: 11].
Os espíritos absolutistas, frisava Constant, entendem os conceitos da política de forma a eles traduzirem o seu ódio à liberdade e à limitação do poder. Para eles, “a democracia é uma soberania absoluta em mãos de todos; a aristocracia, uma soberania absoluta em mãos de alguns; a monarquia, uma soberania absoluta em mãos de um só. O povo pôde se desprender dessa soberania absoluta em favor de um monarca, que então se converteu no seu legítimo possuidor” [Constant, 1970: 11-12].
Constant resumiu em dois pontos as consequências dos princípios por ele enunciados em relação à soberania. Em primeiro lugar, a soberania do povo não é ilimitada. Ela está delimitada pelo marco da justiça e dos direitos dos indivíduos. A vontade de um povo não pode fazer com que aquilo que é justo vire injusto e vice-versa. Em segundo lugar, pode-se afirmar que a demonstração clara de certos princípios constitui a sua melhor garantia de aceitação universal. Ora, se reconhecermos que a soberania tem limites, ninguém, em sã consciência, ousará reivindicar o poder ilimitado. A história prova que “os atentados mais monstruosos do despotismo de um só deveram-se, com frequência, à doutrina do poder ilimitado de todos” [Constant, 1970: 17].
No que tange à natureza do poder numa monarquia constitucional, Constant destacava que, até sua época, reconheciam-se três poderes nas organizações políticas. Mas ele considerava que estes deveriam ser cinco, a saber: o poder real, o executivo, o poder representativo da continuidade, o poder representativo da opinião e o judiciário.
Onde residiriam esses poderes? Constant explicava esse ponto da seguinte forma:
“O poder representativo da continuidade reside numa assembleia hereditária; o poder representativo da opinião, numa assembleia eletiva; o poder executivo é confiado aos ministros; o poder judiciário, aos tribunais. Os dois primeiros poderes fazem a lei; o terceiro providencia a sua execução legal; o quarto, aplica-a aos casos particulares. O poder real está no meio, mas acima dos outros quatro, sendo, ao mesmo tempo, autoridade superior e intermediária, sem interesse em desfazer o equilíbrio, mas, pelo contrário, com o máximo interesse em conservá-lo” [Constant, 1970: 19-20].
Poderíamos terminar a exposição deste item destacando um aspecto dialético no pensamento de Constant sobre a soberania: esta deve contemplar, ao mesmo tempo, os indivíduos e a coletividade, tentando estabelecer um liame entre a defesa dos interesses individuais e o interesse público. Difícil conciliação. Mas essa constitui a essência, para Constant, da vida democrática. Em relação a este aspecto, escreve o filósofo e linguista búlgaro Tzvetan Todorov (1939-2017): “Constant, da sua parte, endereça ao poder uma dupla exigência: ele deve ser legitimado tanto pela sua instituição como pelo seu exercício. O povo permanecerá soberano; qualquer outra alternativa levaria a se submeter simplesmente à força; mas o seu poder será limitado: deve se deter nas fronteiras do indivíduo que será, no seu foro íntimo, o único soberano. Uma parte da sua existência submeter-se-á ao poder público; uma outra permanecerá livre. Não se pode pois regulamentar a vida em sociedade em nome de um princípio único; o bem-estar da coletividade não coincide forçosamente com o do indivíduo. O melhor regime não se satisfaz somente nem com a democracia, nem com o princípio liberal que exige a proteção do indivíduo. Ele deve reunir essas duas condições: essa é pois a democracia liberal. O equilíbrio é difícil, e é por isso que o pensamento de Constant permanece sempre atual: o Estado moderno mesmo é constantemente tentado a usurpar a liberdade dos indivíduos” [Todorov, 1997b: 7].
BIBLIOGRAFIA
CONSTANT de Rebecque, Henry Benjamin [1872]. Cours de Politique Constitutionnelle ou Collection des ouvrages publiées sur le gouvernement représentatif. (Prefácio, introdução e notas de Édouard Laboulaye). 2ª edição. Paris: Guillaumin, 2 volumes.
CONSTANT de Rebecque, Henry-Benjamin [1970]. Princípios de política. (Tradução ao espanhol a cargo de Josefa Hernández Alonso; introdução de José Alvarez Junco). Madrid: Aguilar. Foi consultada, também, a edição francesa intitulada: Principes de Politique applicables à tous les Gouvernements(version de 1806-1810). (Prefácio de Tzvetan Todorov, introdução de Etienne Hofmann). Paris: Hachette, 1997.
CONSTANT de Rebecque, Henry Benjamin [1986]. De l’esprit de conquête et de l’usurpation dans leurs rapports avec la civilisation européenne. (Introdução, notas e bibliografia a cargo de Éprhaïm Harpaz). Paris: Flammarion / Centre National des Lettres.
CONSTANT de Rebecque, Henry Benjamin [1988]. De la force du gouvernement actuel de la France et de la nécessité de s’y rallier (1796) – Des réactions politiques des effets de la terreur (1797). (Prefácio e notas a cargo de Philippe Raynaud). Paris: Flammarion.
CONSTANT de Rebecque, Henry Benjamin [1989]. Adolphe. (Prefácio, bibliografia e cronologia a cargo de Daniel Leuwers). Paris: Flammarion. Foi consultada também a edição brasileira publicada em francês pela editora Americ-Edit de Rio de Janeiro (1948), com uma “Introduction” de Sainte-Beuve, pg. 7-85. Foi consultada, outrossim, a tradução brasileira a cargo de Ary de Mesquita, intitulada: Adolfo e publicada no Rio de Janeiro, em 1964 pela Editora Ediouro, com prefácio de A. Mesquita, pg. 7-21.
TODOROV, Tzvetan [1997]. Benjamin Constant, La passion démocratique. Paris: Hachette Littératures.
VÉLEZ RODRÍGUEZ, Ricardo. O Liberalismo Francês: A Tradição Doutrinária e a sua influência no Brasil. 1ª edição. Londrina: Editora E. D. A. – Educação, Direito e Alta Cultura, 2023.
*Artigo publicado originalmente no site do autor.