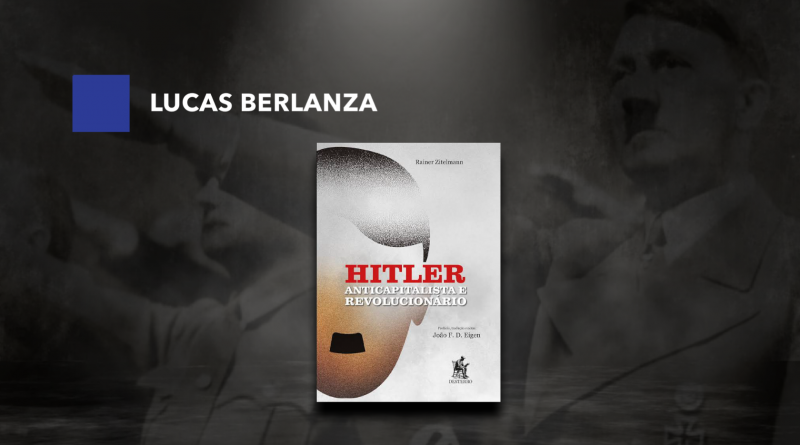“Hitler: anticapitalista e revolucionário” – uma obra de referência
O historiador alemão Rainer Zitelmann é colunista do Instituto Liberal, que divulga muitos de seus artigos através de seu site, e já publicou algumas obras em português em parceria com a instituição, como O capitalismo não é o problema, é a solução e Em defesa do capitalismo: desmascarando mitos, ambos pela editora Almedina/Edições 70. Recentemente, uma lacuna muito importante para a compreensão do século passado e para os debates teóricos atuais foi preenchida com a publicação em português, pela editora Desterro, de uma obra mais antiga. Trata-se de Hitler: anticapitalista e revolucionário.
A primeira edição de 1987, baseada na tese de doutorado de Zitelmann, era muito extensa, com mais de 700 páginas. Por isso, em 2024, ele publicou uma edição resumida, “condensada ao essencial da autoimagem de revolucionário de Hitler, omitindo três capítulos da obra original”. Algumas das questões respondidas na longa edição original, conforme o autor, já não são mais levadas a sério pelos historiadores contemporâneos, ao passo que a ideia de que o ilustre ditador alemão Adolf Hitler (1889-1945) era “um representante dos interesses capitalistas ou até mesmo um agente do grande capital ainda é amplamente difundida, mesmo fora dos mais restritos círculos de autores decididamente marxistas”. Por isso, a edição resumida se dedica a confrontar essa tese e foi a que chegou ao Brasil com prefácio, tradução e o acréscimo de notas de rodapé bastante elucidativas do advogado e mestre em Ciência Política João Eigen, que vem se especializando no estudo das ideologias totalitárias do século XX.
Quando redigiu originalmente a obra, Rainer Zitelmann tinha convicções políticas à esquerda, não sendo nem de longe o defensor da economia de mercado que conhecemos hoje. Isso transparece em algumas considerações bastante escassas ao longo do texto que temos em mãos em português; no entanto, esse aspecto não prejudica em nada a experiência da leitura, que, como bem diz o autor, tem por objetivo dar a conhecer elementos da “visão de mundo” ou “weltanschauung” de Hitler e não as opiniões do próprio Zitelmann. Isso só reforça a constatação do sucesso do autor em sua proposta, fazendo da obra um marco na contestação de uma série de desentendimentos disseminados na historiografia pretérita acerca do pensamento hitlerista.
O historiador afirma ter utilizado o método “fenomenológico”, permitindo que o próprio pensamento nazista exponha a si mesmo, “sem críticas precipitadas e distante de construções que se dedicam apenas a reunir provas para interpretações enviesadas”, lançando mão da mais vasta quantidade de citações diretas de Hitler possível, conjugando discursos públicos, textos notórios (como seu famoso livro Mein Kampf) e correspondências privadas. A ideia por detrás da adoção desse critério foi expor genuinamente a opinião de Hitler e não apenas construções retóricas propagandísticas proferidas pelo autocrata mais famoso do mundo de maneira ocasional.
Após a introdução, em que Zitelmann explica seus propósitos e seu escopo, o capítulo “Os objetivos sociais de Hitler e sua avaliação das principais classes da sociedade moderna” estabelece uma longa discussão sobre a maneira pela qual Hitler enxergava a “questão social”, que impunha um desafio a todas as correntes políticas modernas, e o tipo de julgamento que fazia das classes sociais alemãs, especificamente da burguesia, dos operários ou “classe trabalhadora”, da classe média e dos camponeses. A primeira demonstração que Zitelmann se dedica a fazer é a de que laboram em erro os que afirmam que a “questão social” era uma preocupação marginal do pensamento de Hitler. A intenção de criar o que julgava ser uma genuína “justiça social” era central em toda a luta política hitlerista.
Como os instintos mais poderosos de Hitler eram nacionalistas, ele sustentava que não se poderia consolidar a nacionalidade em sua coesão sem reunir a energia constante da “força de trabalho”, de modo que os trabalhadores precisariam ser atraídos para a grande visão de mundo do Estado totalitário e não alijados pelos aristocratas e pelos “burgueses”. A massa precisaria ser encarada como parte intrínseca do povo alemão. Dentro de sua perspectiva, “o Estado e a economia são apenas meios para um fim, que visa à preservação da raça ou do povo. Na sua visão, condições sociais insalubres levariam ao colapso e à ruína física do povo; por isso, ele atribuía um significado considerável à questão social”.
De acordo com Hitler, a “questão social” moderna despontou em consequência do êxodo rural de grandes grupos de trabalhadores em virtude de uma industrialização mal compreendida pelos condutores do processo, transformando os camponeses em operários sofridos e de má saúde. O ditador nazista acreditava que a solução desse quadro deveria vir pelo fomento à certa equalização de oportunidades para os membros da “raça” ou do povo alemão, que ele assim definia: “Há três coisas importantes em qualquer insurreição revolucionária: derrubar as barreiras que separam as classes para abrir o caminho para a ascensão de todos; estabelecer um nível de qualidade de vida geral de forma que até o mais pobre tenha garantido um certo mínimo de existência, e, finalmente, garantir que todos possam participar das bênçãos da cultura”. Convicto de que existiria uma desigualdade natural tanto entre raças quanto entre indivíduos (embora a diferença entre raças fosse consideravelmente maior em seu imaginário), Hitler não acreditava em uma completa igualdade de resultados.
No entanto, Rainer Zitelmann toma o cuidado de demonstrar que a defesa hitlerista de uma hierarquia natural entre os seres humanos não implicava a defesa da manutenção do status quo alemão existente em sua época. Ao contrário, as ideias de Hitler eram revolucionárias, ambicionando a destruição da estrutura de poder existente e a eliminação das antigas elites aristocráticas e burguesas. Em vez de eliminá-las imediatamente, porém, Hitler “esperava que, ao criar uma igualdade de oportunidades, no que ele via como uma luta social-darwinista pela ascensão social, as antigas elites seriam inevitavelmente substituídas por novas forças oriundas das camadas trabalhadoras”. Para garantir que todos os membros da raça alemã participassem dessa ascensão social, o Estado nazista teria que abrir as portas de todas as instituições de ensino superior estatais para os membros da “classe trabalhadora”. Na verdade, Hitler acreditava que os aristocratas, burgueses e acadêmicos estavam distanciados da massa e desprovidos de energia, de “instintos”, de força de vontade e determinação, em suma, de fatores necessários para sustentar a “weltanschauung”. Por isso, a burguesia precisava ser substituída por uma nova elite que incluiria os indivíduos oriundos da “classe trabalhadora”. Concomitantemente, o Estado nazista deveria incentivar e louvar o trabalho manual, que, para Hitler, era tão ou mais importante do que o trabalho intelectual. Socialismo, para ele, significava “o esforço para superar o grande abismo entre a ‘mais alta inteligência’ e a ‘força de trabalho mais primitiva’ e garantir que o fluxo de pessoas entre essas duas condições fosse constantemente possível”.
Rainer Zitelmann elenca então, com riqueza de exemplificações e comprovações, as principais acusações que Hitler fazia à burguesia: a de cultivar uma atitude antissocial, ignorando a questão dos trabalhadores e rejeitando as suas reivindicações legítimas; a de se permitir dominar pela ganância e pelo materialismo, desprezando um dos fundamentos mais importantes do pensamento hitlerista, que consistia na “primazia da política sobre a economia”; a de igualar os próprios interesses aos interesses nacionais, o que Hitler enxergava como uma deturpação do nacionalismo; a de organizar partidos que se limitavam a ambicionar assentos no Parlamento, sem elaborar autênticas visões de mundo capazes de agitar a massa e a raça alemã; a de fraqueza, falta de determinação, falta de energia e covardia; a da incapacidade de exercer liderança política; e, em síntese, a de que sua missão histórica estaria irremediavelmente acabada. Em contrapartida, Hitler justificava a designação de “Partido dos Trabalhadores” para a sigla nazista como um enaltecimento do trabalho, fruto de seu desejo de que todos os membros da “weltanschauung” se intitulassem orgulhosamente como trabalhadores. Pregava ainda que um dos maiores objetivos de sua ideologia, ainda que o nazismo se pretendesse dirigir ao povo alemão em geral em suas diferentes classes constitutivas (excetuando-se os judeus e outros grupos “racialmente” excluídos ou considerados inimigos da cosmovisão que se pretendia fazer avançar, naturalmente), era “ganhar justamente os trabalhadores proletarizados, ou seja, os trabalhadores manuais e os operários industriais”, vistos por ele como fontes de energia e força. A revolução nazista só poderia ter sucesso se as massas se levantassem a seu favor e abraçassem seus propósitos. As massas seriam, na visão hitlerista, muito mais eficientes e capazes de se organizar com resiliência e disciplina do que os intelectuais e os burgueses.
Apesar de a classe média constituir significativa parcela dos seguidores de primeira hora do nazismo, Zitelmann sustenta que “a classe média desempenhou apenas um papel muito subordinado nas considerações de Hitler”. Os camponeses, ao contrário do que se acreditava no passado, quando se atribuía falsamente ao ditador alemão uma ideologia agrária e antimodernista, também “não desempenhavam o papel destacado no pensamento de Hitler como se havia presumido. As duas classes que realmente tinham um grande papel na Weltanschauung hitlerista eram a burguesia, de um lado, e a classe trabalhadora, do outro”.
Na sequência, o capítulo “Revolucionar a relação entre política e economia e a reestruturação da ordem econômica como objetivos centrais de Hitler”, o autor procura destrinchar com mais clareza as concepções econômicas hitleristas. O resultado é a demonstração de suas profundas críticas ao capitalismo. Hostil à dinâmica prevalecente na ciência econômica, que julgava dogmática, Hitler pensava que os problemas modernos da economia industrial ensejavam respostas novas e, por vezes, heterodoxas. Seu objetivo era revolucionar a ordem econômica e só poderia fazer isso se “abalasse os alicerces epistemológicos da ciência econômica”. Hitler queria que o capital fosse servo do Estado, rechaçando o que via como os perigos de interesses econômicos que predominassem sobre os interesses da coletividade, da nação e da raça. Ele acreditava, em oposição aos liberais, que “apenas o papel claramente dominante do Estado ou da liderança política, com a imposição implacável dos ‘interesses gerais’, permitia uma vida econômica ordenada”.
Em linhas gerais, porém, Zitelmann sustenta que Hitler manifestou hesitações com relação à planificação estatal completa da economia, porque sua ideologia social-darwinista entrava em choque com essa concepção – ainda que sempre tenha defendido fortes tons de dirigismo estatal. “Ele temia que a eliminação, pelo menos em parte, da livre concorrência pudesse interromper um importante motor da vida econômica. Por outro lado, a partir de seu princípio fundamental da primazia da política e de sua visão sobre o papel secundário da economia, deriva-se de forma consistente a exigência de planejamento econômico estatal, pois, em última análise, apenas uma direção econômica centralizada garante a imposição incondicional dos interesses gerais definidos pelo Estado em relação aos interesses individuais”, resume o autor. A narrativa de Zitelmann demonstra que, nas fases finais de sua biografia, Hitler estava crescentemente encantado com a experiência de planificação soviética, tornando mais provável que uma hipotética continuidade do regime nazista implicasse um aprofundamento do estatismo.
O último capítulo do livro, Autoavaliação de Hitler no espectro político, não evita as polêmicas recorrentes ainda hoje sobre a rotulação político-ideológica do ditador. O autor, servindo-se de outras fontes especializadas no tema, atesta que a principal oposição a Hitler estava à sua direita na Alemanha, “representada por forças conservadoras e em parte também monarquistas como Beck, Halder, Oster, Witzleben, Goerdeler, Popitz, Yorck, Hassell etc.”. Ponderou ser também inegável que boa parte das opiniões de Hitler “poderiam ser mais esperadas em um revolucionário de esquerda e não em um reacionário”. Acusado, na época, pelos nacionalistas mais conservadores ou por setores da burguesia alemã de ser um comunista e, simultaneamente, por sociais-democratas e comunistas alemães de ser um lacaio do capitalismo, Hitler rechaçava ambas as investidas, afirmando pretender “construir um movimento que superasse a divisão entre esquerda e direita, unindo os elementos mais ativos e combativos da extrema direita e da extrema esquerda”. O nazismo era chamado de “nacional-socialismo” porque Hitler pretendia unir o nacionalismo e o socialismo. Seu diagnóstico dava conta de que a burguesia e o proletariado estavam em equilíbrio na Alemanha, sem condições de uma classe suplantar a outra, e isso levaria à ruína da nação e da raça a menos que uma unidade superior despontasse. Assim, Hitler queria recrutar para seu projeto entre os nacionalistas mais radicais à direita, de um lado (especialmente, o texto aponta, alguns militares veteranos de guerra), e entre os sociais-democratas e vítimas entusiasmadas da sedução marxista, de outro.
O trabalho de Zitelmann é especialmente efetivo em demonstrar que Hitler, apesar de tolerar pragmaticamente alianças com grupos aristocráticos e burgueses por entender que representavam uma ameaça menor – exatamente por desprezá-los – e combater enfaticamente os social-democratas e comunistas, o ditador tinha precisamente uma admiração muito maior pela energia destes últimos, os únicos que tinham conseguido criar, como ele, uma weltanschauung. Era exatamente por isso que precisavam ser combatidos com mais veemência: por serem, na leitura de Hitler, muito mais parecidos com ele próprio, mais intensos, mais fortes e mais ameaçadores. Por fim, o autor evidencia também que a aliança entre o nazismo e o fascismo italiano, por exemplo, foi muito mais pragmática do que se difunde generalizadamente; apesar de reconhecer semelhanças entre o que chama de “revolução nacional-socialista” e a “revolução fascista”, Hitler criticava as concessões exageradas feitas por Benito Mussolini (1883-1945) à aristocracia italiana e à Igreja, tornando o regime pioneiro na defesa do totalitarismo muito menos totalitário do que, na opinião hitlerista, deveria ser. Ressalta também que o líder nazista se arrependeu de apoiar a ascensão da ditadura de Francisco Franco (1892-1975) na Espanha, que passou a julgar imperdoavelmente reacionária.
Posso dizer que a obra de Rainer Zitelmann me forneceu muitas informações, para mim, até então, inéditas. Havia lido, há tempos, o Mein Kampf, que, inclusive, resenhei em meu Guia Bibliográfico da Nova Direita. Zitelmann, porém, trabalha com uma gama imensamente mais ampla de textos de Hitler. À revelia dessa contenda empobrecida quanto a se o tirano germânico poderia ser considerado de “esquerda” ou de “direita”, parece-me categoricamente demonstrado, nas páginas de Hitler: anticapitalista e revolucionário, que ele foi um socialista. O argumento de que era antimarxista não serve para atestar o contrário, dado que o socialismo não se resume ao Marxismo. Os sistemas dos diversos socialistas utópicos, por exemplo, eram muito diferentes do sistema marxista, e muitos deles não propunham a igualdade plena de resultados econômicos nem ambicionavam algo realmente próximo ao comunismo propriamente dito. Hitler, portanto, desenvolveu sua própria variante do socialismo, sincretizado com o nacionalismo e um racismo doutrinário extremamente vigoroso. Auxiliar na explicitação disso é, por si só, uma contribuição magistral prestada ao debate público brasileiro por quem se esforçou para trazer essa obra de referência até nossos leitores.