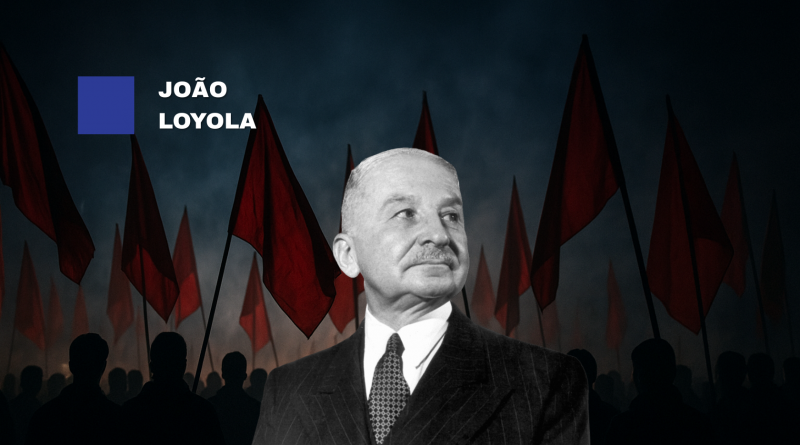O socialismo como a ilusão destrutiva da modernidade
O socialismo se tornou, ao longo do século XX, uma das ideias mais poderosas e persistentes, não porque tenha demonstrado sucesso prático, mas porque se apoia em sentimentos profundos de vingança, inveja e esperança utópica. Ludwig von Mises, em sua obra monumental Socialismo: Uma Análise Econômica e Sociológica, desmascara essa ilusão mostrando que ela não nasce da razão, mas da recusa da lógica. O marxismo, que se autoproclama “científico”, é descrito por Mises como uma reação radical contra o racionalismo, uma doutrina que proibiu o questionamento e sufocou qualquer investigação sobre o funcionamento de uma economia socialista. Não por acaso, ele diz que, se os bolcheviques afirmavam que a religião era o ópio do povo, o marxismo é o ópio dos intelectuais que abandonaram o pensamento crítico. Essa denúncia é central para compreender porque, mesmo diante de catástrofes econômicas e tragédias humanitárias provocadas por regimes socialistas, a doutrina continua a conquistar adeptos: porque oferece mais um consolo moral e uma promessa de vingança contra os bem-sucedidos do que uma proposta racional de organização da vida em sociedade.
O primeiro golpe de Mises é revelar que o socialismo se apresenta como moralmente superior, mas esconde suas contradições. Para ele, não existe sociedade sem propriedade privada: ela é o fundamento da cooperação social, o elo que permite a coordenação de milhões de indivíduos com interesses distintos. Ao eliminá-la, o socialismo elimina também a base do cálculo econômico, que é a espinha dorsal de qualquer sistema produtivo em larga escala. Essa é a crítica mais famosa de Mises: sem preços formados no mercado, não há como comparar alternativas, decidir investimentos ou medir eficiência. O socialismo opera às cegas, porque o planejador central não possui a informação descentralizada que só emerge da interação voluntária entre milhões de agentes. Daí sua conclusão devastadora: a economia socialista não é apenas injusta, é impossível. Mesmo que a intenção seja justa, a estrutura é irracional. Essa impossibilidade não é uma previsão teórica apenas; é confirmada pela realidade de todas as experiências socialistas, que invariavelmente resultaram em desperdício, escassez e repressão.
Mas o livro não se limita à teoria econômica. Mises aprofunda a crítica sociológica, mostrando como o socialismo corrói instituições fundamentais da civilização. A família, por exemplo, deixa de ser uma unidade autônoma quando tudo passa a ser subordinado ao plano central. O casamento, a sexualidade, a criação dos filhos — tudo é reorganizado segundo as conveniências do Estado, que assume para si o papel de tutor universal. O indivíduo perde sua autonomia e se torna uma peça de uma engrenagem coletiva, reduzido a mero executor de ordens. A promessa de igualdade não resulta em justiça, mas em nivelamento por baixo. Ao invés de estimular talentos e virtudes, o socialismo premia a mediocridade e pune a excelência, criando um ambiente onde o ressentimento prevalece sobre o mérito. Essa crítica não é abstrata: basta observar como, nos regimes socialistas, as artes, a ciência e até a vida cotidiana foram submetidas à ideologia, sufocando a diversidade cultural e impondo uma uniformidade artificial que transformou sociedades inteiras em desertos criativos.
Mises também refuta a ideia de que o socialismo poderia ser compatível com a democracia. Para ele, democracia verdadeira é inseparável da pluralidade de interesses, da livre concorrência de ideias e da limitação do poder. Mas o socialismo, ao concentrar os meios de produção no Estado, destrói a base da liberdade política. A democracia socialista degenera em tirania da maioria ou, mais comumente, em ditadura de uma elite burocrática que fala em nome do povo. O resultado não é emancipação, mas escravização sob novas bandeiras. Essa crítica é especialmente relevante porque muitos acreditam que basta manter o voto e as eleições para garantir liberdade. Mises mostra que isso é uma ilusão: sem autonomia econômica, a política se transforma em farsa. O cidadão que depende do Estado para trabalhar, consumir ou se locomover não tem liberdade real, mesmo que ainda vá às urnas a cada quatro anos. Democracia sem liberdade econômica é apenas teatro político, e o socialismo é o diretor dessa encenação.
Uma das contribuições mais originais de Mises é mostrar que socialismo, fascismo e nazismo não são opostos, mas variantes do mesmo coletivismo. A retórica muda: uns falam em classe, outros em nação, outros em raça. Mas todos rejeitam a ordem espontânea do mercado e a liberdade individual. São, como ele diz, irmãos rivais disputando o controle do mesmo aparato totalitário. Essa análise desmonta a narrativa confortável que separa autoritarismos de esquerda e de direita, revelando que ambos compartilham o mesmo DNA intervencionista. A diferença está na propaganda, não na essência. É por isso que regimes tão distintos em aparência — a União Soviética de Stalin, a Alemanha de Hitler e a Itália de Mussolini — compartilhavam os mesmos vícios fundamentais: centralização, culto ao Estado e repressão à dissidência. A lição de Mises é clara: sempre que a liberdade individual é sacrificada em nome do coletivo, o resultado será o autoritarismo, ainda que com bandeiras diferentes.
O autor dedica também espaço para analisar experiências históricas que alimentaram o imaginário socialista. Robert Owen, por exemplo, tentou fundar comunidades cooperativas no século XIX baseadas na propriedade comum e no trabalho coletivo. Todas fracassaram rapidamente, consumindo recursos e produzindo desorganização. Marx, por sua vez, é criticado por ter construído uma teoria que se sustentava na fé cega no “inevitável processo histórico”, mas que se recusava a explicar concretamente como funcionaria a economia socialista. Quando os bolcheviques tomaram o poder na Rússia, a realidade se encarregou de expor esse vazio: a produção despencou, a fome se alastrou e apenas a violência estatal conseguiu manter o sistema em funcionamento. O mesmo padrão se repetiria em todos os lugares onde o socialismo foi implantado: Cuba, Coreia do Norte, Camboja, Venezuela. Em cada caso, o discurso prometeu igualdade e prosperidade; na prática, entregou miséria e repressão. O diagnóstico de Mises, escrito décadas antes, se confirmou com precisão impressionante.
Outro conceito central é o do “destrucionismo”. Para Mises, o socialismo não cria nada, apenas destrói. Ele corrói as bases do capitalismo — lucro, concorrência, propriedade —, mas não coloca nada viável em seu lugar. É por isso que sociedades que adotam políticas socialistas não avançam, mas retrocedem. Cada intervenção estatal que pretende corrigir o mercado enfraquece os mecanismos que produzem prosperidade, gerando mais problemas que, por sua vez, justificam novas intervenções. É um ciclo de decadência em espiral, onde a única constante é o crescimento do poder do Estado e a redução da liberdade individual. Essa lógica foi visível em processos como o nazismo, que mobilizou a economia sob fins militares, ou no peronismo argentino, que corroeu a base produtiva com medidas populistas. A cada passo, a sociedade perde mais liberdade e acumula mais escassez até que o colapso se torna inevitável.
O fio condutor de toda a obra é mostrar que o socialismo não é apenas um sistema econômico inviável, mas um projeto civilizacional de destruição. Ele destrói a economia porque elimina a racionalidade do cálculo. Destrói a política porque concentra poder em uma elite que governa sem limites. Destrói a cultura porque nivela talentos e sufoca a criatividade. Destrói a moral porque substitui a responsabilidade individual pelo conformismo coletivo. O socialismo é, em suma, uma guerra contra a liberdade. E o que é mais grave: muitas vezes essa guerra é travada em nome da própria liberdade, com palavras de ordem que falam em justiça e progresso, mas que, na prática, conduzem à servidão e ao atraso.
Essa leitura tem implicações profundas para o Brasil contemporâneo. Ainda hoje, discursos igualitaristas são usados para justificar mais impostos, mais regulações e mais intervenção estatal. Programas de redistribuição são defendidos como solução para a pobreza, mas, como Mises anteviu, acabam criando dependência e corroendo os incentivos para produzir riqueza. O Estado, em nome da justiça social, sufoca a própria base que poderia gerar prosperidade. Em vez de emancipar, aprisiona. Em vez de promover dignidade, institucionaliza a escassez. Nossa história econômica recente está cheia de exemplos: planos heterodoxos que congelaram preços e criaram desabastecimento, estatizações que sugaram recursos sem retorno, políticas de crédito subsidiado que beneficiaram grupos privilegiados enquanto puniam a população com inflação e endividamento. Todos esses episódios são manifestações práticas do destrucionismo que Mises descreveu com clareza quase profética.
A grande lição do livro de Mises é que não existe meio-termo estável entre capitalismo e socialismo. O intervencionismo gradual não leva a um equilíbrio, mas a um caminho de decadência, porque cada passo em direção ao controle estatal corrói os fundamentos da economia de mercado. O verdadeiro dilema que enfrentamos não é entre modelos de esquerda ou de direita, mas entre civilização e barbárie. A civilização se sustenta na ordem espontânea do mercado, na cooperação voluntária e na propriedade privada. A barbárie se manifesta no planejamento central, no controle burocrático e na submissão do indivíduo ao coletivo. O socialismo seduz porque promete um paraíso terrestre, mas entrega apenas escassez, opressão e destruição. O capitalismo, com todos os seus defeitos, é o único sistema que preserva a liberdade e permite que a criatividade humana floresça. Essa é a conclusão a que Mises nos leva: resistir ao socialismo não é apenas uma questão de eficiência econômica, mas de preservar a própria possibilidade da vida em liberdade.