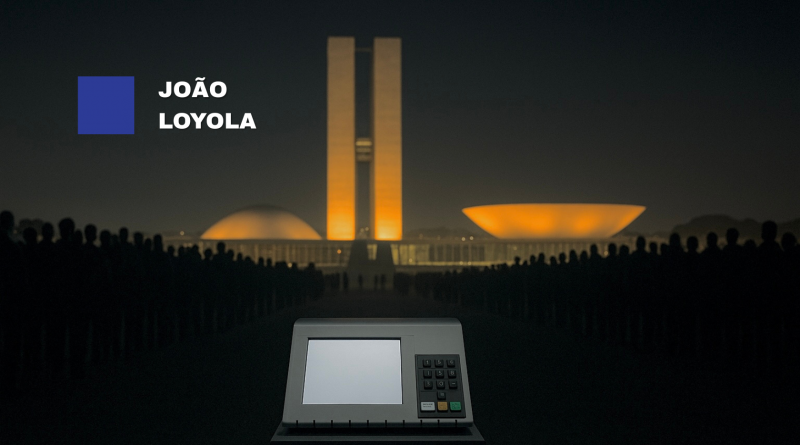O voto facultativo e a maturidade democrática no Brasil
O debate sobre o voto obrigatório no Brasil é um tema recorrente que envolve não apenas a legislação eleitoral, mas também questões mais amplas sobre cidadania, liberdade individual e maturidade democrática. O voto obrigatório foi introduzido em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, com a criação do Código Eleitoral. À época, a medida foi apresentada como mecanismo para modernizar e ampliar a participação popular, num contexto de baixa institucionalidade e forte manipulação política. Com a Constituição de 1988, em plena redemocratização, o modelo foi mantido, consolidando a obrigatoriedade como regra permanente. Paradoxalmente, no mesmo momento em que se afirmava o direito à cidadania plena, preservava-se um mecanismo de controle que remonta a um Estado centralizador. A obrigatoriedade tornou-se, assim, um símbolo de continuidade de um padrão autoritário, em contraste com a ideia de maturidade democrática.
Ao transformar o voto em dever imposto, o Brasil cria uma democracia de fachada, na qual a legitimidade é medida pela quantidade de eleitores comparecendo às urnas e não pela qualidade do engajamento cívico. A cada eleição, milhões de brasileiros anulam seus votos ou os deixam em branco. Nas eleições de 2022, por exemplo, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, a soma de abstenções, nulos e brancos ultrapassou 32 milhões de eleitores, quase um quarto do total. Esse número é equivalente à população da Argentina e revela que, apesar da obrigatoriedade, existe um desencanto profundo com o processo político. Em vez de lidar com esse problema de forma honesta, o sistema eleitoral prefere maquiar a realidade, apresentando altas taxas de comparecimento como sinal de vitalidade democrática, quando na verdade refletem obediência à lei sob ameaça de multa e restrições civis. O próprio TSE já calculou o custo da abstenção: em 2010, foram R$ 195 milhões desperdiçados. Esses números evidenciam que a obrigatoriedade não elimina a desmobilização, apenas mascara o problema.
O contraste internacional é revelador. Na Austrália, onde o voto é obrigatório desde 1924, a participação média é de 91% a 95%. Na Bélgica, a taxa é similar, ultrapassando 93%. Na América Latina, Uruguai e Argentina também registram entre 80% e 90% de comparecimento. Mas esse padrão elevado vem acompanhado de votos inválidos e da percepção de que muitos comparecem por obrigação. No Chile, que abandonou a obrigatoriedade em 2012 e a retomou em 2022, verificou-se queda drástica e depois aumento imediato da participação, demonstrando como a lei inflaciona artificialmente o comparecimento.
Nos países de voto facultativo, os resultados são mais variados, mas qualitativamente distintos. Nos Estados Unidos, a participação gira em torno de 55% a 66% nas presidenciais; na França, a abstenção é interpretada como sinal de insatisfação, não como crime; no Reino Unido, as eleições gerais de 2024 tiveram apenas 59,7% de comparecimento, o menor em décadas, mas o debate público propôs soluções como registro automático, voto antecipado e horários mais flexíveis, e não a imposição legal. Já nos países nórdicos, como Suécia e Noruega, onde o voto também é facultativo, a participação supera 75% e chega a 84%, sustentada por uma forte cultura cívica, por sistemas de registro eficientes e por ampla educação política. Esses exemplos provam que a obrigatoriedade não é pré-requisito para altas taxas de comparecimento.
O voto facultativo, ao contrário, fortalece a própria essência da liberdade. Não se trata de estimular a abstenção, mas de reconhecer que a participação política deve nascer do convencimento e do interesse genuíno e não da coerção estatal. Em A Democracia na América, Tocqueville já alertava que a vitalidade da democracia depende do envolvimento voluntário dos cidadãos e de sua capacidade de se engajar livremente nos assuntos públicos. Forçar a ida às urnas, longe de criar cidadãos conscientes, apenas reproduz um ritual mecânico que pouco contribui para a qualidade do debate democrático.
No Brasil, onde parte significativa do eleitorado vota por obrigação, o resultado é uma massa de votos muitas vezes desinformados, anulados ou em branco, que distorcem a real expressão da vontade popular. É como se o Estado, temendo a ausência do povo, preferisse arrastá-lo à força para dentro do processo político. Essa lógica lembra a crítica de José Ortega y Gasset em A Rebelião das Massas, onde o autor denuncia a tendência de transformar a política em um exercício de quantidade e não de qualidade. A democracia, nesse sentido, não deveria ser medida pela soma de votos coletados sob ameaça de multa, mas pela participação consciente e esclarecida dos cidadãos que desejam de fato influenciar os rumos da nação.
Na prática, essa imposição afeta diretamente a dinâmica política do país. Como sabem que o comparecimento está garantido pela lei, partidos e candidatos estruturam suas campanhas em torno do eleitor desinformado ou apático, que vota apenas para não ser punido. Isso incentiva estratégias superficiais, como o marketing eleitoral vazio, o clientelismo e as promessas assistencialistas. Em vez de qualificar o debate público, a obrigatoriedade perpetua um sistema em que candidatos disputam quem consegue mobilizar mais recursos para conquistar votos de quem sequer gostaria de estar nas urnas. O resultado é um processo político de baixa densidade programática, em que a lógica do espetáculo prevalece sobre a lógica do conteúdo.
A obrigatoriedade também garante legitimidade artificial ao sistema político. Altas taxas de comparecimento, forçadas pela lei, permitem que governos eleitos aleguem ampla representatividade, mesmo quando milhões de eleitores votam nulo ou em branco. O voto facultativo teria justamente o efeito oposto: exporia o nível real de engajamento social e obrigaria partidos e lideranças a reconquistar a confiança da população. A abstenção, nesse cenário, deixaria de ser um crime disfarçado e passaria a ser reconhecida como expressão legítima de insatisfação. Esse movimento fortaleceria a democracia e não o contrário, pois a classe política não poderia mais se esconder atrás da obrigatoriedade.
A crítica institucional é inevitável. A obrigatoriedade garante legitimidade artificial ao sistema, pois políticos se apoiam em taxas de participação infladas por coerção para alegar representatividade. Na prática, milhões de votos nulos e brancos são ignorados, tratados como estatística irrelevante. Sob o facultativo, a realidade emergiria com clareza: se a população se abstém, é sinal de que a classe política precisa mudar. Isso reforçaria a accountability democrática em vez de fragilizá-la.
Portanto, o voto facultativo não é uma ameaça à democracia brasileira, mas uma evolução necessária. Ele não significaria apatia política generalizada, como temem seus críticos, mas uma depuração do processo democrático. Ao retirar da urna o eleitorado que vota por obrigação, restaria uma base de cidadãos dispostos a influenciar os rumos do país de forma consciente. Isso forçaria partidos e candidatos a qualificar suas propostas, aproximar-se mais da sociedade civil e romper com o vício da política assistencialista. Ao mesmo tempo, a abstenção voluntária passaria a ter valor político, funcionando como alerta de que o sistema precisa se reinventar para recuperar a confiança do povo.
A transição para o voto facultativo no Brasil não significaria aceitar menor participação. Reformas administrativas podem sustentar e até ampliar o engajamento voluntário: registro automático e contínuo de eleitores, integração do CPF ao cadastro eleitoral, facilidades como voto antecipado, horários estendidos, maior acessibilidade em áreas periféricas e campanhas de educação cívica. Esses mecanismos, já aplicados com sucesso em países facultativos de alta participação, poderiam reduzir desigualdades no comparecimento sem recorrer à coerção.
Em suma, o voto facultativo seria um passo rumo à maturidade democrática. Ele não elimina a necessidade de reformas complementares como o fortalecimento da educação política, a transparência institucional e a promoção de novas formas de engajamento cívico, mas sinaliza uma mudança de paradigma: a confiança no cidadão como agente livre. O Brasil só poderá afirmar-se como uma verdadeira democracia quando superar a contradição de manter, em pleno século XXI, um mecanismo de coerção herdado de um passado autoritário. Libertar o eleitor do dever compulsório é devolver-lhe sua condição mais elementar: a de sujeito autônomo, capaz de escolher não apenas em quem votar, mas se deseja ou não participar do jogo político.