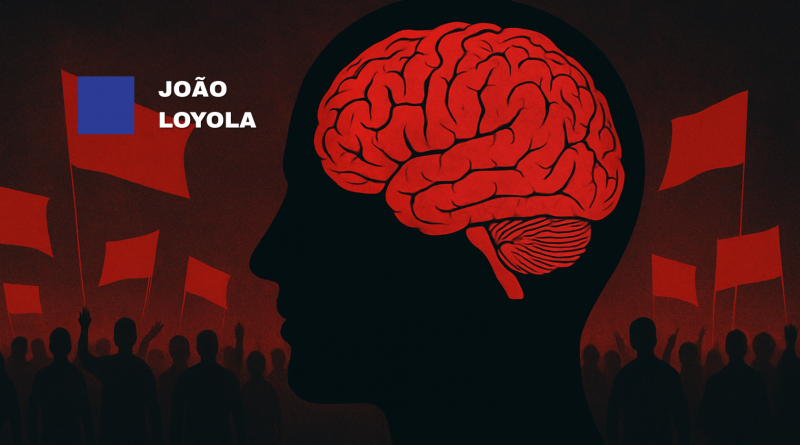O novo coletivismo brasileiro: Estado, emoção e dependência
O Brasil atravessa uma transformação silenciosa, mas profunda, em sua cultura política. O velho coletivismo econômico, que outrora buscava subjugar o indivíduo pela coerção estatal e pela planificação, cedeu espaço a um novo tipo de controle: o emocional. Hoje, o poder não se afirma pela autoridade ideológica, mas pela sedução moral. A política contemporânea substituiu a razão econômica pela sensibilidade social, e o debate público tornou-se um tribunal de sentimentos, onde o argumento mais persuasivo é aquele que desperta compaixão, culpa ou indignação.
Esse fenômeno não é exclusivo do Brasil, mas aqui encontra terreno fértil. A tradição paternalista, herdada de uma cultura ibérica centralizadora e de um Estado que se confunde com a própria identidade nacional, faz com que o brasileiro associe moralidade à intervenção pública. O resultado é uma sociedade que confunde empatia com virtude política e dependência com justiça social. A emoção, elevada a critério de governo, torna-se uma ferramenta de legitimação do poder.
José Ortega y Gasset, em A Rebelião das Massas, já advertia que a decadência da civilização começa quando o indivíduo abdica de pensar por conta própria e passa a seguir o que lhe é emocionalmente confortável. No Brasil, essa abdicação se manifesta em políticas que premiam o consumo em vez da produção, o assistencialismo em vez da responsabilidade e a conformidade em vez da liberdade. O Estado, travestido de protetor, se torna o principal fornecedor de sentido existencial para uma população que aprendeu a sentir-se moralmente boa enquanto é economicamente dependente.
Roger Scruton, em A Alma do Mundo, descreve como o sentimentalismo moderno destrói a noção de dever e substitui a ética pelo espetáculo da compaixão. É exatamente isso que se observa nas políticas públicas brasileiras recentes: o foco não está em resolver as causas estruturais da pobreza ou da desigualdade, mas em demonstrar virtude política por meio de programas simbólicos e retóricos. O governante que “se importa” ganha mais prestígio do que aquele que promove eficiência. Assim, o fracasso econômico é perdoado desde que venha embalado em gestos emocionais.
O novo coletivismo brasileiro é, portanto, uma forma sofisticada de controle. Ele dispensa a censura explícita e a coerção direta, porque opera no plano psicológico. Hannah Arendt, em Origens do Totalitarismo, descreve o processo pelo qual as massas passam a desejar a submissão como forma de pertencimento. O Estado emocional segue o mesmo caminho: transforma a dependência em identidade e a obediência em virtude. O cidadão não é mais coagido a depender do governo; ele é convencido de que isso o torna parte de algo moralmente superior.
Essa dinâmica também explica a crescente intolerância com o pensamento liberal e meritocrático. O liberalismo, ao exigir responsabilidade individual e disciplina racional, choca-se com o ethos sentimental dominante. No novo moralismo político, quem defende a liberdade é visto como insensível, e quem pede eficiência é acusado de crueldade. O debate público perde substância e se transforma em disputa de intenções. Como observa Jonathan Haidt em A Mente Moralista, as pessoas julgam antes de pensar e justificam depois, moldando a política como um espelho de suas emoções, não de seus princípios.
O perigo desse modelo é que ele mantém o país em um ciclo vicioso de imaturidade política. O cidadão busca no Estado a validação emocional que deveria encontrar em sua própria autonomia, e o Estado retribui oferecendo programas, subsídios e discursos que reforçam a sensação de proteção. Robert Nozick, em Anarquia, Estado e Utopia, lembrava que a função legítima do Estado é proteger a liberdade, não administrar o bem-estar moral das pessoas. O problema brasileiro é justamente o oposto: o governo se considera tutor das consciências, e o povo aceita essa tutela em nome da virtude.
Esse novo coletivismo não se manifesta apenas na esquerda. A direita populista também o reproduz, embora com símbolos diferentes. Ambas as vertentes recorrem à emoção como estratégia de poder, transformando o eleitorado em audiência e o governo em espetáculo. Em ambos os casos, a razão cede lugar à narrativa, e a política degenera em psicologia de massas.
Romper esse ciclo exige recuperar o sentido moral da liberdade. A verdadeira compaixão não está em transformar pessoas em dependentes, mas em permitir que cada uma delas exerça sua autonomia com dignidade. O Estado deve voltar a ser um instrumento de garantia, não um provedor emocional. A política deve se reconciliar com a racionalidade econômica e com o princípio de responsabilidade individual, sob pena de o país permanecer cativo de suas próprias virtudes sentimentais.
A liberdade, como ensinou Ortega, não é um presente, mas uma conquista. Ela exige coragem para pensar, agir e, sobretudo, recusar a sedução do conforto moral. Enquanto o Brasil continuar confundindo emoção com justiça e dependência com cuidado, continuará sendo uma nação infantilizada, que busca no Estado um pai para protegê-la da própria maturidade.