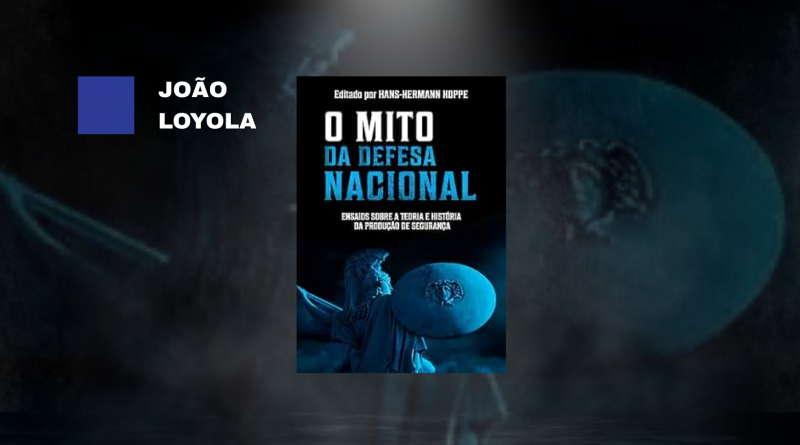A ilusão da defesa estatal e o retorno do espírito de guerra
O livro O Mito da Defesa Nacional, organizado por Hans-Hermann Hoppe, é um manifesto contra um dos dogmas mais enraizados do nosso tempo: a crença de que apenas o Estado pode prover segurança. Logo na introdução, Hoppe formula a questão central com a clareza que o caracteriza: “se o monopólio é ruim em qualquer área, por que aceitaríamos que, justamente no setor mais sensível, o da proteção da vida e da propriedade, ele se tornaria benéfico?”. A resposta é tão desconfortável quanto reveladora: não aceitamos o monopólio da defesa porque ele é eficiente, mas porque fomos educados a crer no mito de que, sem ele, a sociedade mergulharia no caos. O livro mostra, no entanto, que essa crença não apenas é falsa, mas que a realidade histórica demonstra exatamente o oposto: o Estado, ao monopolizar a defesa, converteu-se no maior agressor contra aqueles que prometia proteger.
Hoppe reconstrói historicamente a gênese do Estado moderno, lembrando que ele não nasceu de um contrato social nem de um consenso popular, mas de conquista e dominação. Ele cita Franz Oppenheimer para reforçar que o Estado é essencialmente uma instituição de exploração, criada pela classe vencedora para extrair tributos da classe vencida. Nas palavras de Hoppe, “o Estado não é resultado da livre cooperação de indivíduos; ele é a imposição de uma classe sobre outra”. A centralização do poder político na Europa, com reis, príncipes e depois parlamentos nacionais, foi acompanhada pela monopolização da violência e pela tributação compulsória. A consequência foi clara: sociedades que antes lidavam com conflitos em pequena escala, muitas vezes por meio de arranjos privados ou comunitários, passaram a ser arrastadas para guerras totais conduzidas por elites políticas.
A ligação entre Estado e guerra é apresentada como inseparável. Sem o Estado moderno, argumenta Hoppe, não haveria as guerras mundiais, genocídios e destruições em massa que marcaram o século XX. Ele escreve: “é impossível compreender a guerra moderna sem compreender o Estado moderno”. Antes da centralização, as guerras eram limitadas por falta de recursos e pela incapacidade de mobilizar populações inteiras. A partir do momento em que o Estado passou a controlar a tributação, o recrutamento e a administração em larga escala, tornou-se capaz de transformar sociedades civis inteiras em máquinas de guerra. A Primeira e a Segunda Guerras Mundiais foram os exemplos mais dramáticos desse processo, mas não os únicos: qualquer Estado moderno, mesmo em tempos de paz, organiza-se permanentemente em função da guerra.
O mito democrático também é desmontado. Muitos acreditam que a democracia pacifica o Estado, mas Hoppe mostra que “a guerra de massas é filha da democracia de massas”. Ele lembra que a França revolucionária, em nome do povo, exportou guerra por toda a Europa. Os Estados Unidos, a mais antiga democracia moderna, construíram o maior império militar da história. Democracias e ditaduras compartilham, portanto, a mesma essência: mobilizar multidões para legitimar a violência. A diferença é apenas retórica. A democracia facilita o saque e a guerra porque dá aparência de legitimidade ao que, em essência, continua sendo exploração e agressão. Como resume Hoppe, “a democracia não limita o Estado, mas o fortalece, pois o apresenta como expressão da vontade popular”.
Um aspecto notável do livro é a recuperação de experiências históricas alternativas. Hoppe lembra que sociedades sem Estado ou com Estados frágeis desenvolveram formas descentralizadas de defesa. A Suíça, por séculos, garantiu sua segurança com milícias locais armadas, baseadas no princípio da autodefesa comunitária. Cidades mercantis como Veneza e Gênova contrataram forças privadas para proteger suas rotas comerciais. Até mesmo os corsários, frequentemente retratados como piratas, eram agentes privados que, mediante contratos, defendiam interesses
marítimos. Esses exemplos são usados para demonstrar que a defesa não precisa ser estatal, e que, na prática, arranjos descentralizados tendem a ser menos agressivos e mais eficientes, já que não possuem os recursos para sustentar guerras expansionistas.
A análise dos incentivos completa a crítica econômica. Todo monopólio tem incentivos para elevar preços e reduzir qualidade; com o Estado, esse processo é ainda mais perverso. O monopólio da defesa se traduz em mais impostos, mais vigilância e menos liberdade. Hoppe afirma: “o Estado sempre exagera as ameaças externas, pois é da sua natureza expandir-se em resposta a crises”. A defesa nacional, nesse contexto, se torna um pretexto para justificar orçamentos militares crescentes, restrições de direitos civis e a criação de inimigos permanentes. Em outras palavras, o Estado fabrica os perigos que depois se oferece para neutralizar, tornando-se indispensável pela insegurança que ele mesmo cria.
A crítica moral é talvez a mais contundente. Hoppe observa a hipocrisia fundamental do Estado: aquilo que é crime para qualquer indivíduo – roubar, sequestrar, matar – é considerado legítimo quando praticado pelo governo. “Não há nada de especial no Estado; ele é apenas um bando de ladrões e assassinos que conseguiu institucionalizar sua atividade”. A defesa nacional, assim, aparece como álibi moral para crimes em larga escala. A guerra, sob esse prisma, não é um acidente ou um desvio da função estatal, mas sua realização mais coerente. O Estado é a exceção permanente, a entidade que cria suas próprias regras e se coloca acima da moral comum.
No lugar desse monopólio, o livro propõe a ordem natural: um sistema em que a defesa seria organizada por meio da concorrência entre agências privadas. Hoppe argumenta que “não há nada na defesa que a torne diferente de qualquer outro bem ou serviço”. Se a segurança fosse fornecida por empresas concorrenciais, financiadas voluntariamente por clientes, teríamos mais qualidade, menores custos e menos incentivos à guerra. Nenhuma agência isolada teria condições de mobilizar recursos para guerras totais; ao contrário, a lógica da concorrência favoreceria contratos, arbitragem e acordos de proteção recíproca. A paz, nesse modelo, não seria um ideal utópico, mas o resultado natural da descentralização e da limitação do poder coercitivo.
É nesse ponto que a crítica de Hoppe encontra eco nos acontecimentos contemporâneos. Quando Donald Trump defendeu a mudança do nome de “Ministério da Defesa” para “Ministério da Guerra”, ele apenas explicitou a realidade descrita por Hoppe: os Estados não existem para defender, mas para guerrear. A nomenclatura atual é um eufemismo, uma cortina de fumaça que esconde a verdadeira função do aparato militar. Ao propor a troca, Trump mostrou de forma irônica aquilo que o livro denuncia de forma teórica: o mito da defesa é apenas a fachada ideológica de uma máquina de guerra.
O mesmo se pode dizer do desfile bélico chinês, em que tanques, mísseis e soldados marcham diante de multidões. Trata-se de propaganda interna e intimidação externa, mas, acima de tudo, de um ritual que reafirma o monopólio da violência pelo Estado. O espetáculo serve para consolidar o poder político, alimentar o nacionalismo e reforçar a submissão do indivíduo ao coletivo. Hoppe diria que não importa a ideologia ou a bandeira: sempre que o Estado monopoliza a defesa, ele transforma a sociedade em instrumento de guerra. O mito da defesa nacional é universal, seja no Ocidente democrático ou no Oriente autoritário. O resultado, porém, é sempre o mesmo: menos liberdade, mais impostos, mais violência institucionalizada.