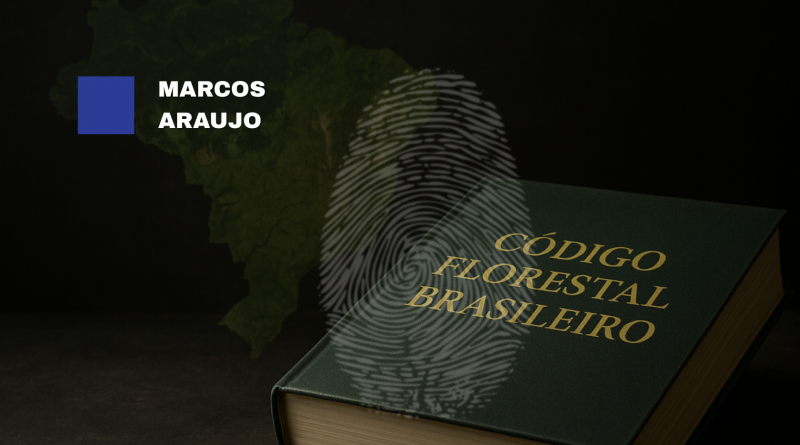As digitais do autoritarismo e do socialismo no Código Florestal brasileiro
Você já se perguntou por que o Brasil é o único país do mundo a adotar um Código Florestal tão intervencionista e com severas restrições ao uso da propriedade rural? Para compreendermos essa peculiaridade, precisamos examinar a origem dessa legislação à luz do contexto sociopolítico e cultural brasileiro. Analisaremos essa questão sob três perspectivas: 1) Bases científicas para o código florestal; 2) Influência autoritária; e 3) Influência socialista.
1. Bases científicas para o código florestal
Grande parte do debate promovido pelos conservacionistas brasileiros sobre a necessidade de uma legislação florestal teve como fundamento a chamada “teoria do dessecamento”. Segundo essa teoria, surgida no final do século XVIII, a destruição da vegetação nativa levaria à redução da umidade do ar, à diminuição das chuvas e, consequentemente, à escassez dos mananciais hídricos. No final do século XIX, a expansão da cafeicultura promoveu o desmatamento em vastas áreas do Sudeste brasileiro, intensificando os temores de que poderia haver alterações climáticas locais
que levariam à desertificação, especialmente, na região sudeste do Brasil.
Alguns estados, motivados por essas preocupações, criaram legislações florestais próprias. O Rio Grande do Sul promulgou, em 1901, um regulamento sobre o Regime Florestal Estadual que estabelecia áreas de florestas protetoras. O Paraná seguiu em 1907, com um Código Florestal que também previa tais áreas como sendo de utilidade pública. Já Sergipe adotou seu código em 1913. Mas estas legislações não foram efetivas.
Em âmbito federal, a iniciativa só avançou em 1912, quando a Câmara dos Deputados instituiu uma comissão para discutir um possível Código Florestal. No entanto, deputados alheios ao movimento conservacionista consideravam a proposta impraticável para um país com as dimensões e a realidade socioeconômica e ambiental do Brasil. Assim, o resultado destas discussões foi o Decreto nº 4.421/1921, que criou o Serviço Florestal do Brasil e plantou algumas sementes para o futuro código.
Somente em 1934 foi promulgado o primeiro Código Florestal brasileiro. Posteriormente, surgiriam as versões de 1965 e de 2012. A partir da década de 1980, a teoria da Biogeografia de Ilhas e os princípios da Biologia da Conservação passaram a substituir a teoria do dessecamento como base científica para o aprimoramento do Código Florestal. O temor de que o desmatamento da Amazônia poderia afetar os denominados “rios voadores” representa um requentamento da teoria do dessecamento.
2. A digital do autoritarismo no código florestal
O forte viés intervencionista do Código Florestal pode ser compreendido à luz da influência do Positivismo de Augusto Comte, que ganhou destaque no Brasil no final do século XIX. Segundo Ricardo Vélez Rodríguez, um dos pilares dessa filosofia é a crença de que a sociedade deve caminhar, de forma inevitável, rumo a uma estrutura racional. Para isso, haveria duas possibilidades: investir massivamente na educação da população para que essa racionalidade emergisse espontaneamente ou, alternativamente, impor essa estrutura racional por meio da ação de uma elite
esclarecida.
No Rio Grande do Sul, prevaleceu a segunda via, consolidada pelas gestões de Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros. Como aponta Antônio Paim, o castilhismo, “em síntese, eliminava o Poder Legislativo. A elaboração das leis passava a ser função do Executivo. Elegia-se uma Assembleia com a exclusiva atribuição de elaborar o orçamento e fiscalizar sua execução. Graças a isso, instaurou-se no Rio Grande uma autêntica República Positivista”.
Esse espírito autoritário marcou também a formulação do Código Florestal. As discussões no Congresso Nacional não avançaram até a Revolução de 1930, quando o Congresso foi fechado, os governadores depostos e a Constituição de 1891 revogada. O Poder Executivo passou a concentrar toda a atividade legislativa. Getúlio Vargas, influenciado pelo castilhismo, introduziu uma novidade importante à doutrina: o esforço de transformar questões políticas em problemas técnicos. Em 1931, criou uma subcomissão no Ministério da Justiça para elaborar uma proposta de Código Florestal. A proposta foi publicada no Diário Oficial ainda naquele ano, abrindo espaço para contribuições de diversos cientistas. O debate se estendeu até 1934, quando o primeiro Código Florestal foi finalmente promulgado.
Importa destacar que esse código — assim como outros diplomas ambientais da época — não foi fruto do processo legislativo parlamentar, mas da atuação de um grupo técnico que impôs sua visão de mundo à sociedade. Por isso, podemos qualificá-lo como produto de uma lógica autoritária.
3. A digital do socialismo no código florestal
A digital do socialismo no Código Florestal se evidencia na concepção de que os recursos naturais, como as florestas, devem estar submetidos a um controle coletivo exercido pelo Estado, substituindo a lógica da propriedade privada pela ideia de tutela pública do meio ambiente. Ela também se manifesta na lógica de centralização tecnocrática do planejamento territorial, típica dos regimes socialistas. O código florestal promoveu uma organização rígida do território rural, baseada em métricas padronizadas de preservação ambiental, que desprezam a autonomia regional e local e reforçam o papel do Estado como único planejador legítimo do uso da terra.
A digital socialista foi pavimentada pela forte intervenção estatal na propriedade privada que se iniciou com o Código Florestal de 1934 através do princípio da função social da propriedade. Pedro Cantisano nos ajuda a entendê-lo. O Código Civil de 1916 consagrava a ideia de propriedade “plena”, assegurando ao proprietário os direitos de “usar, gozar e dispor” de seus bens. Contudo, essa concepção já vinha sendo questionada. Em 1908, Lourenço Baeta Neves já defendia a função social da propriedade rural durante o XVI Congresso Nacional de Irrigação dos Estados Unidos. Em 1911, o jurista francês Léon Duguit propôs a definição da propriedade como uma “função social”, ou seja, a propriedade perderia sua legitimidade se não fosse usada em prol do bem comum. O termo “função social” também não era estranho ao contexto brasileiro: havia sido utilizado por Augusto Comte em 1851 e já estava incorporado ao vocabulário jurídico nacional como justificativa para o papel das instituições jurídicas na preservação da ordem social.
Devido à falta de capacidade institucional dos sucessivos governos, o Código Florestal de 1934 teve pouco efeito prático na contenção do desmatamento. Na década de 1950, iniciaram-se as discussões para sua revisão. Em 1961, o ministro da Agricultura criou um grupo de trabalho para elaborar um anteprojeto de novo Código Florestal que deu origem ao Projeto de Lei nº 4.494/1962. O grupo foi presidido pelo Desembargador Osny Duarte Pereira, um intelectual brilhante, mas com forte visão antiliberal, intervencionista, nacionalista e grande admirador da doutrina socialista marxista e da União Soviética. A atuação do Desembargador Osny consolidou a digital do socialismo sobre o código florestal brasileiro.
Duarte Pereira publicou, em 1950, o livro Direito Florestal Brasileiro, no qual analisou o direito florestal comparado e a evolução das instituições de proteção às florestas no Brasil. A obra expressa uma visão apocalíptica quanto ao futuro das florestas brasileiras, influenciada pela teoria do dessecamento, além de conter severas críticas ao modelo fundiário vigente. Em 1958, proferiu uma conferência sobre a relação entre problemas ambientais e reforma agrária, na qual defendia o fim dos latifúndios, uma ampla reforma agrária e a estatização das florestas com vistas a assegurar a proteção dos mananciais, do clima, da fertilidade do solo e garantir uma exploração racional da madeira. A proposta de métricas precisas para a delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) no corpo do Código Florestal de 1965 se deveu diretamente à sua atuação.
Após intenso debate no Congresso, foi apresentado um substitutivo que aproveitou grande parte do texto proposto pelo grupo de trabalho. O Projeto de Lei resultante foi aprovado com diversas adaptações e convertido no novo Código Florestal. Por sua vez, o Código Florestal de 2012 foi debatido no Congresso por cerca de 13 anos. Mesmo assim, não conseguiu superar a digital do socialismo.
Portanto, a influência socialista no Código Florestal brasileiro se expressa não apenas na retórica da função social da propriedade, mas também na tentativa de suprimir a liberdade individual em nome de um ideal coletivo, impondo um modelo de controle estatal que substitui a confiança no cidadão por regras rígidas, centralizadas e tecnocráticas.
4 – Haveria uma opção liberal para a gestão florestal?
Ao longo da história da gestão ambiental brasileira, identificamos apenas um conservacionista de viés liberal, que foi Edmundo Navarro de Andrade, agrônomo e pai da silvicultura de eucalipto no país. Em 1911, ele publicou um artigo que deixa clara sua opção liberal para a gestão florestal. Para ele, a educação e o estímulo a uma gestão florestal responsável eram o caminho. Assim se posicionou sobre a elaboração de um código florestal:
“Tem-se falado muito, ultimamente, na devastação das nossas matas e, entre os protestos que surgiram contra a derrubada que há anos se vem fazendo, conta-se uma representação da Sociedade Paulista de Agricultura, dirigida à Câmara dos Deputados, pedindo que seja decretada uma lei regulamentando a exploração das florestas do Estado. Como consequência desse clamor, foi o governo autorizado a proceder a elaboração de um código florestal. De todos os remédios de que podiam lançar mão, é este, incontestavelmente, o menos eficaz e o mais doloso. O nosso código florestal será, sem dúvida, uma obra feita, muito bem-acabada, compilação admirável do que de melhor houver nos países da Europa e da América do Norte; mas nunca será uma medida de alcance prático. Código lembra leis, posturas, e estas só servem para cercear, restringir a liberdade, sendo, no caso presente, talvez um atentado ao direito de propriedade. Se é fácil e cômodo cortar abusos proibindo, muito mais digno e nobre é suprimi-los ensinando, educando. Vale muito mais, em geral, o exemplo de uma vida honesta e austera do que todos os conselhos morais juntos”.
*Marcos A. R. Araujo é biólogo, mestre e doutor em Ecologia, Conservação e Manejo de Vida Silvestre pela UFMG. Especialista em gestão ambiental com foco em inovação, resultados e transformação institucional, atua há mais de 20 anos na implantação da gestão por resultados em órgãos ambientais públicos e empresas privadas, com destaque para o governo federal e a Amazônia Legal. Foi consultor em projetos de conservação e modernização ambiental da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento (GIZ), do Banco Mundial e do banco alemão KfW. Atualmente, é CEO da startup Piagam, dedicada ao desenvolvimento de soluções digitais para a gestão ambiental. Entre os sistemas desenvolvidos, destacam-se o Sistema de Gestão de Dados de Recursos Hídricos para o setor mineral e o CLIC – Sistema de Gestão de Condicionantes Ambientais, em parceria com a Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (FEAM), com apoio da FAPEMIG. Como estudioso da governança ambiental no Brasil, é autor de quatro livros: Unidades de Conservação no Brasil: da República à Gestão de Classe Mundial (2007); Unidades de Conservação no Brasil: o Caminho da Gestão para Resultados (2012); Repensando a Gestão Ambiental Pública no Brasil (2016); e Ecologia Liberal – uma poderosa doutrina para a gestão ambiental no Brasil (2022).