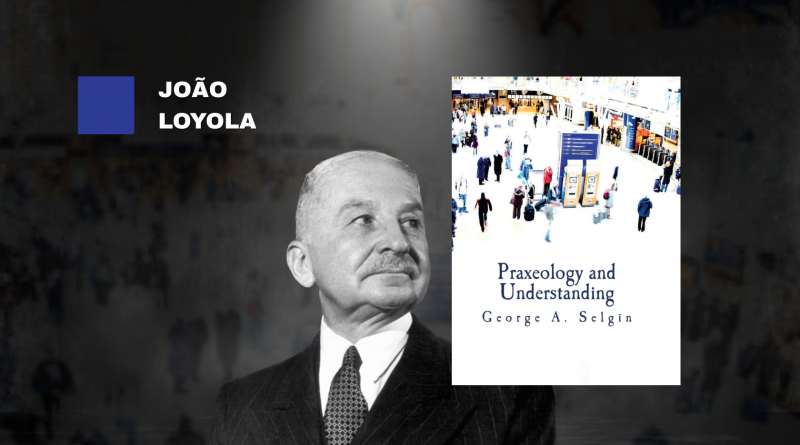Praxeologia e compreensão: a lógica da ação humana como ciência
A praxeologia é uma das contribuições intelectuais mais poderosas da Escola Austríaca de Economia, sistematizada por Ludwig von Mises como a ciência da ação humana proposital. O livro Praxeologia e Compreensão, de George Selgin, surge justamente como uma tentativa de esclarecer as raízes, o alcance e a utilidade dessa ciência, ao mesmo tempo em que enfrenta uma controvérsia interna entre autores austríacos acerca da previsibilidade do mercado, do papel do empreendedor e da natureza da incerteza. Selgin mostra que a praxeologia não é apenas um método teórico isolado, mas o núcleo de uma forma de compreender o mundo social, a qual se coloca em contraste com o positivismo e o empirismo, que dominam grande parte das ciências sociais modernas. Explicar e exemplificar a praxeologia, portanto, é tarefa essencial não apenas para quem estuda economia, mas para qualquer pessoa que queira entender as bases racionais da vida em sociedade e as implicações que decorrem de reconhecer o homem como agente consciente e livre.
O ponto de partida da praxeologia é o chamado axioma da ação humana: o homem age. Esse enunciado, simples em aparência, contém uma verdade universal e irrefutável. Negá-lo já é confirmá-lo, pois o ato de negar é também uma ação consciente, orientada a um fim. A partir desse axioma, derivam-se todas as categorias que estruturam a vida social: fins, meios, escolhas, custos, preferências, lucros e perdas. A praxeologia mostra que a ação é sempre uma tentativa de sair de um estado menos satisfatório para um mais satisfatório. Se um indivíduo decide pagar R$ 5,00 por uma garrafa de água, é porque valorou mais a água do que o dinheiro. Do lado oposto, o vendedor valorou mais o dinheiro do que a água. Esse exemplo cotidiano, banal na superfície, revela a lógica da troca voluntária, que só ocorre quando ambos os lados esperam sair ganhando. Nenhuma estatística poderia, sozinha, demonstrar isso; trata-se de uma conclusão praxeológica, válida
em qualquer tempo ou lugar.
Essa estrutura lógica também nos ajuda a entender fenômenos mais amplos, como preços, moeda e juros. O preço, em termos praxeológicos, não é apenas um número fixado arbitrariamente, mas a expressão da relação inversa de valorações entre compradores e vendedores. A moeda, por sua vez, é compreendida não como simples convenção social ou imposição estatal, mas como resultado da ação humana frente à incerteza: indivíduos passaram a demandar certos bens não apenas pelo valor de uso imediato, mas porque esperavam que outros também os aceitassem no futuro, criando assim o meio universal de troca. A teoria da preferência temporal, igualmente, deriva do axioma da ação, pois todo ser humano, ao agir, revela que prefere satisfazer necessidades mais cedo a satisfazê-las mais tarde. É dessa lógica que nascem os juros, não como uma arbitrariedade bancária, mas como categoria universal da ação humana.
O livro de Selgin ganha profundidade ao tratar da controvérsia metodológica dentro da própria Escola Austríaca. Israel Kirzner, discípulo de Mises, enfatizava o papel do empreendedor em descobrir oportunidades e tender o mercado ao equilíbrio. Ludwig Lachmann, ao contrário, insistia que a realidade é “caleidoscópica”, marcada por uma incerteza tão radical que inviabilizaria qualquer tendência ao equilíbrio. Selgin analisa essa disputa e propõe que ambos têm razão em parte: o mercado é, sim, um processo aberto e incerto, mas isso não invalida as leis praxeológicas que explicam sua estrutura. O futuro é incerto, mas a lógica da ação humana — que sempre envolve escolhas, custos e busca de fins — permanece válida. Essa síntese permite compreender fenômenos complexos como as crises financeiras ou a inovação tecnológica: ainda que não possamos prever com exatidão qual empresa terá sucesso ou qual setor sofrerá colapso, sabemos que os agentes agirão tentando antecipar cenários, que lucros e perdas guiarão suas decisões, e que a coordenação só é possível graças ao sistema de preços.
É nesse ponto que a praxeologia se diferencia do empirismo. Enquanto o positivismo tenta imitar os métodos das ciências naturais, acumulando dados e buscando correlações, a praxeologia mostra que a economia não é ciência experimental, mas ciência dedutiva. A estatística pode nos dizer que o preço do pão aumentou 10% em um ano, mas apenas a praxeologia explica que isso se deve a uma interação entre preferências dos consumidores, custos de produção, expectativas de padeiros e agricultores e políticas monetárias que afetam o poder de compra. Como dizia Mises, “a estatística não cria leis, apenas mede a intensidade das manifestações de leis já descobertas pela praxeologia”. Assim, enquanto o empirismo descreve o que aconteceu, a praxeologia nos permite
compreender por que só poderia ter acontecido de determinada maneira, dadas as escolhas e restrições envolvidas.
Os exemplos práticos reforçam a aplicabilidade do método. Quando um trabalhador decide entre aceitar um emprego ou permanecer estudando, ele realiza um cálculo subjetivo de custos e benefícios que a praxeologia ilumina. Quando um empresário investe em uma startup, arrisca capital porque valoriza mais a possibilidade de lucro futuro do que a segurança de manter os recursos parados. Quando consumidores, diante da inflação, correm para supermercados e fazem estoques, demonstram sua preferência temporal elevada frente ao risco de perda de poder de compra. Esses comportamentos não são meros dados soltos: são expressões da estrutura universal da ação humana e só podem ser compreendidos dentro da lógica praxeológica.
Selgin insiste que a praxeologia não é apenas uma ciência formal, mas também um método de compreensão. Ele se apoia em Max Weber e na tradição das ciências do espírito para argumentar que, ao interpretar fenômenos sociais, não basta medir, é preciso compreender o sentido das ações dos indivíduos. Essa compreensão não significa psicologia ou introspecção, mas o reconhecimento das categorias universais da ação: todo agente age porque deseja sair de uma situação menos satisfatória; todo agente escolhe porque enfrenta escassez; todo agente renuncia a
algo quando busca outra coisa. A praxeologia, assim, é a chave interpretativa que torna inteligível o comportamento humano em sociedade, preservando a centralidade da liberdade e da responsabilidade individual.
Essa perspectiva tem implicações profundas para a própria ideia de ciência social. Se tomarmos apenas o empirismo, corremos o risco de reduzir o ser humano a números, tabelas e médias, esquecendo que a essência da vida social é a ação consciente. A praxeologia protege contra esse erro porque nos lembra que não há dados neutros: todo fenômeno econômico é resultado de escolhas humanas. É por isso que ela também preserva a liberdade. Ao reconhecer que o homem age, que escolhe e que assume custos, a praxeologia rejeita determinismos coletivistas e
reafirma a autonomia do indivíduo. A economia deixa de ser o estudo de agregados impessoais e volta a ser o estudo da cooperação humana em busca de fins.
Ao final, o livro de Selgin mostra que a praxeologia é indispensável tanto para a ciência quanto para a vida prática. Ela fundamenta leis econômicas universais — como a lei da utilidade marginal, a teoria do preço, a função empresarial e a teoria do ciclo — e, ao mesmo tempo, dá sentido a decisões do cotidiano, como a compra de um pão ou a escolha de um investimento. Sua força está em ser ao mesmo tempo lógica e humana, universal e concreta. Com ela, entendemos não apenas como funcionam os mercados, mas também por que cada ação, por menor que pareça, está inscrita em uma rede de escolhas e consequências que sustentam a civilização. Ao defender a praxeologia contra os ataques do empirismo, Selgin não protege apenas uma escola de pensamento, mas resguarda a própria possibilidade de compreender o homem como ser livre e responsável.